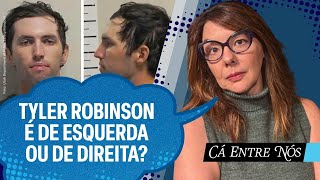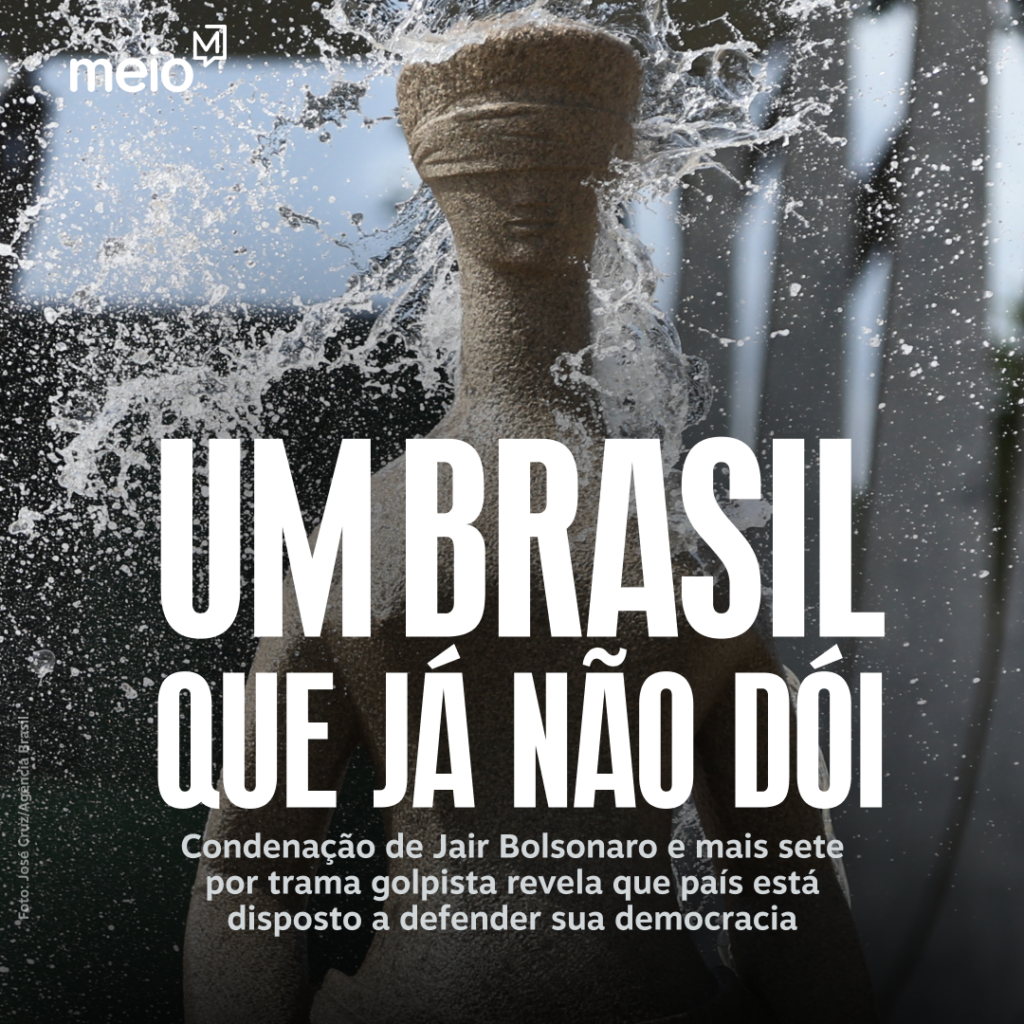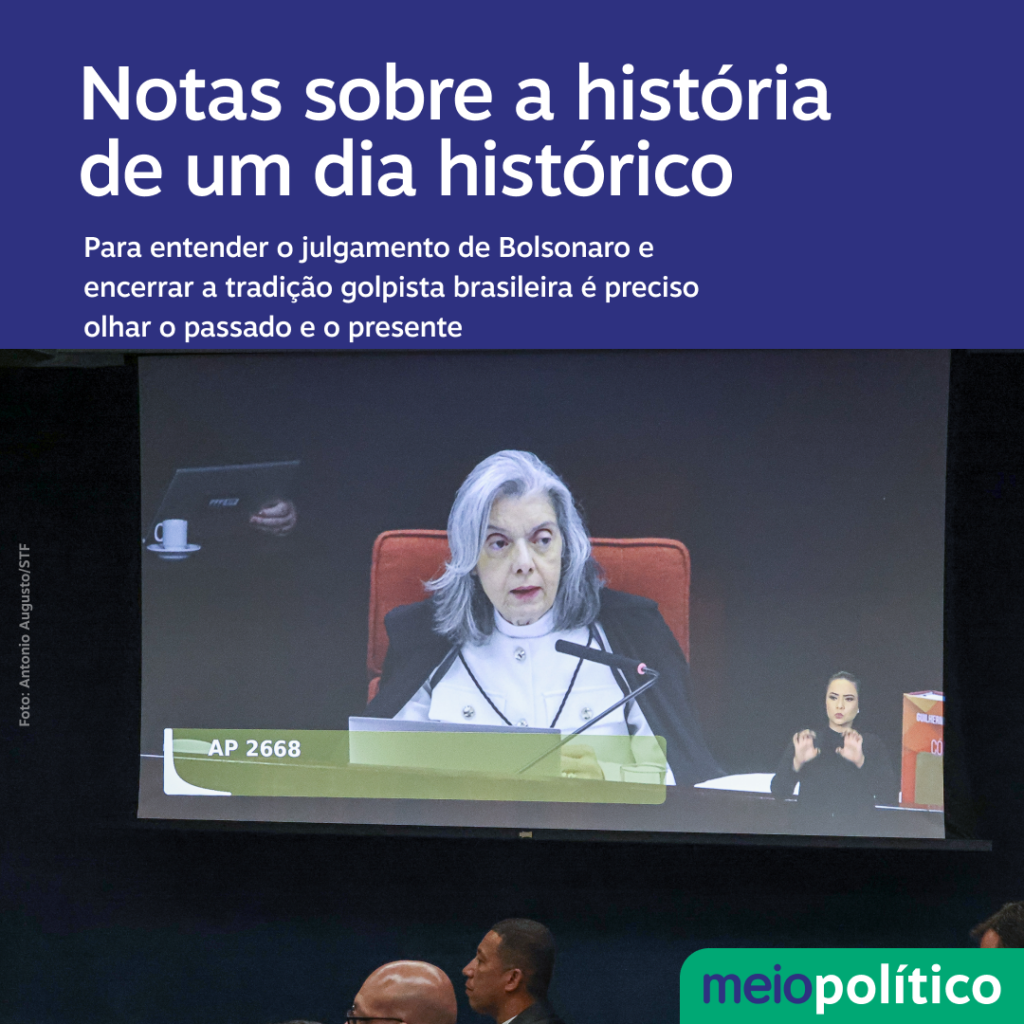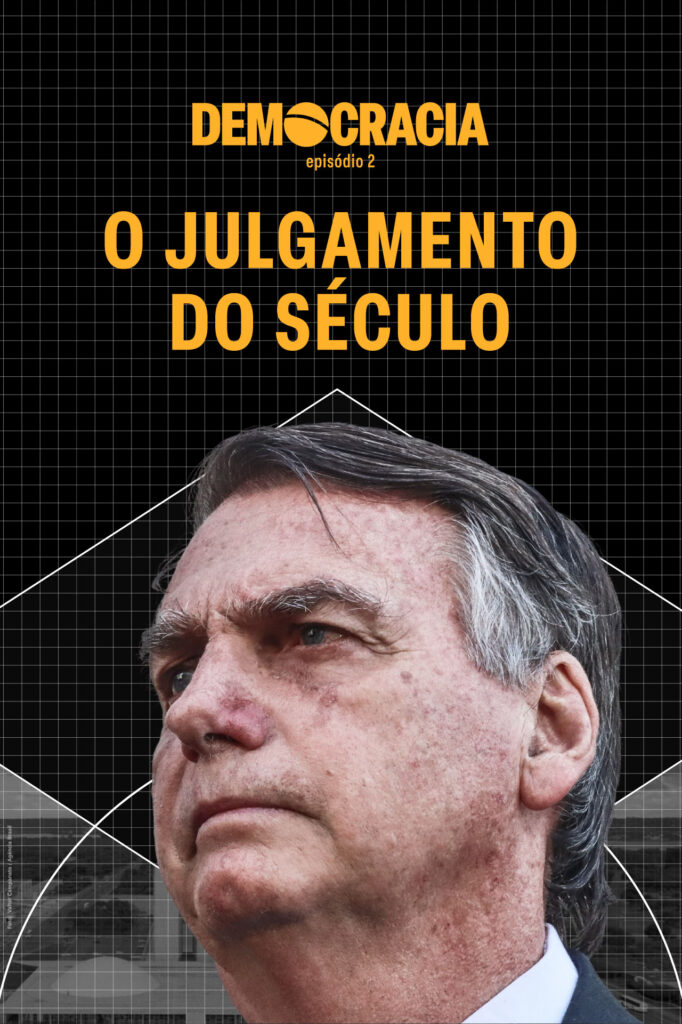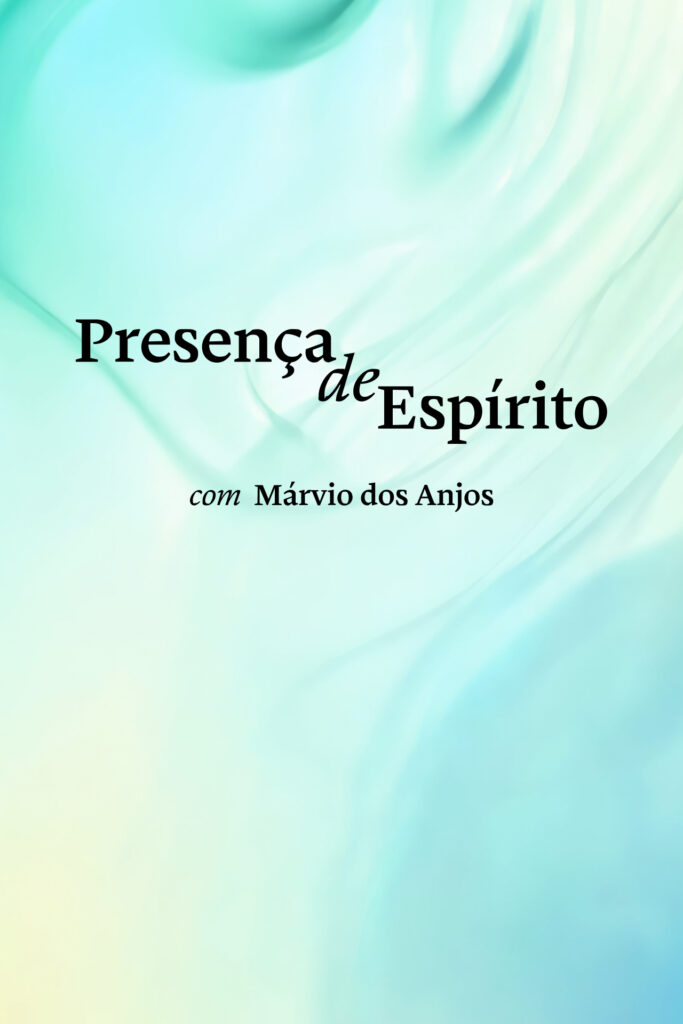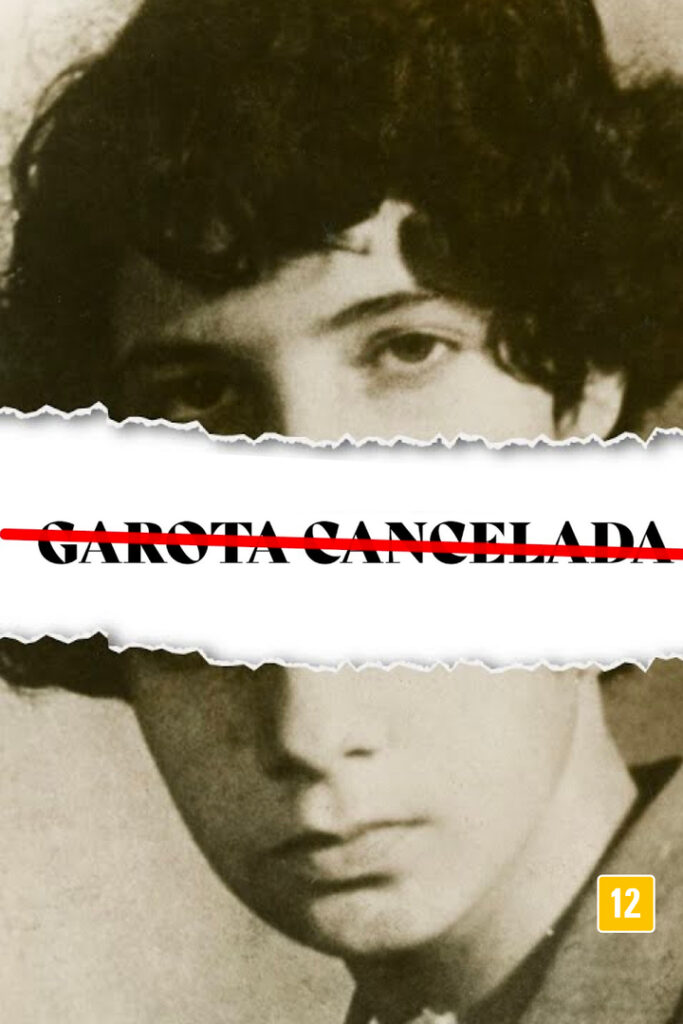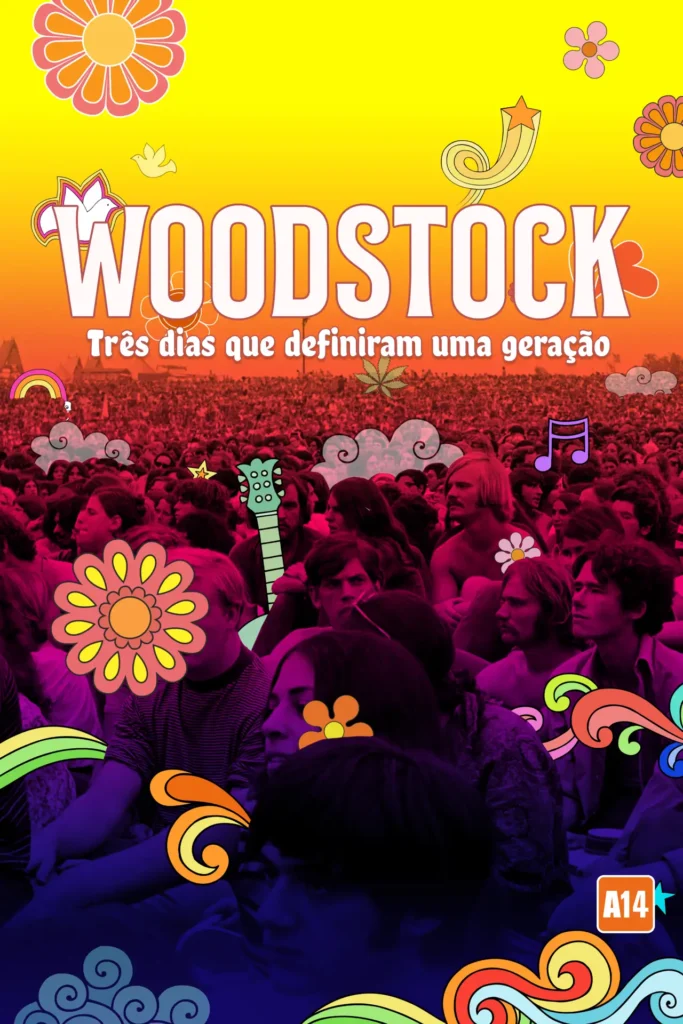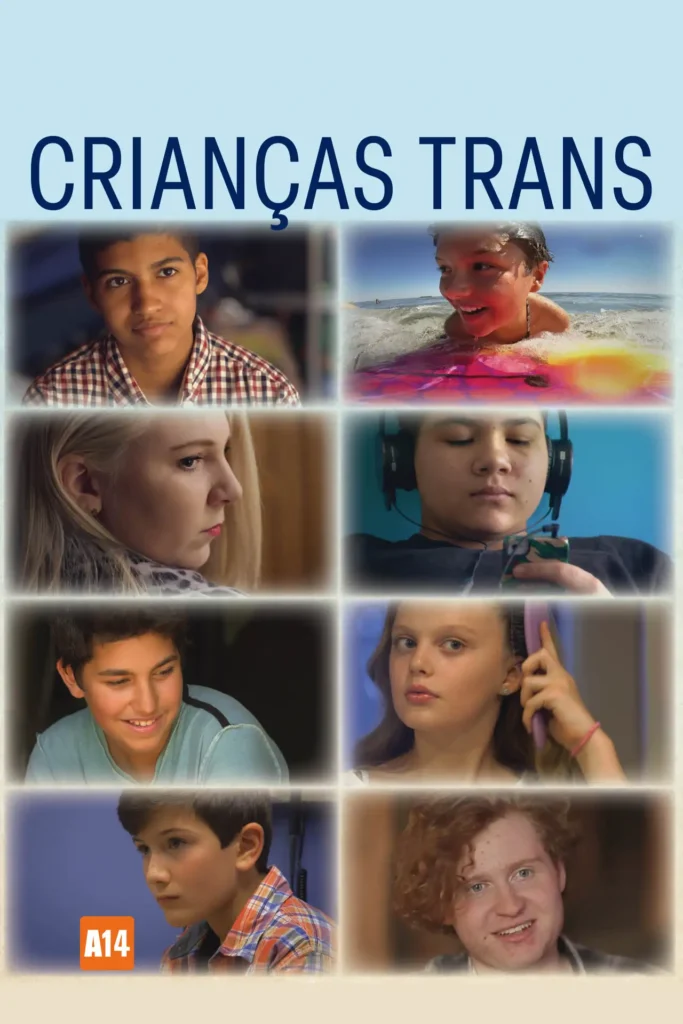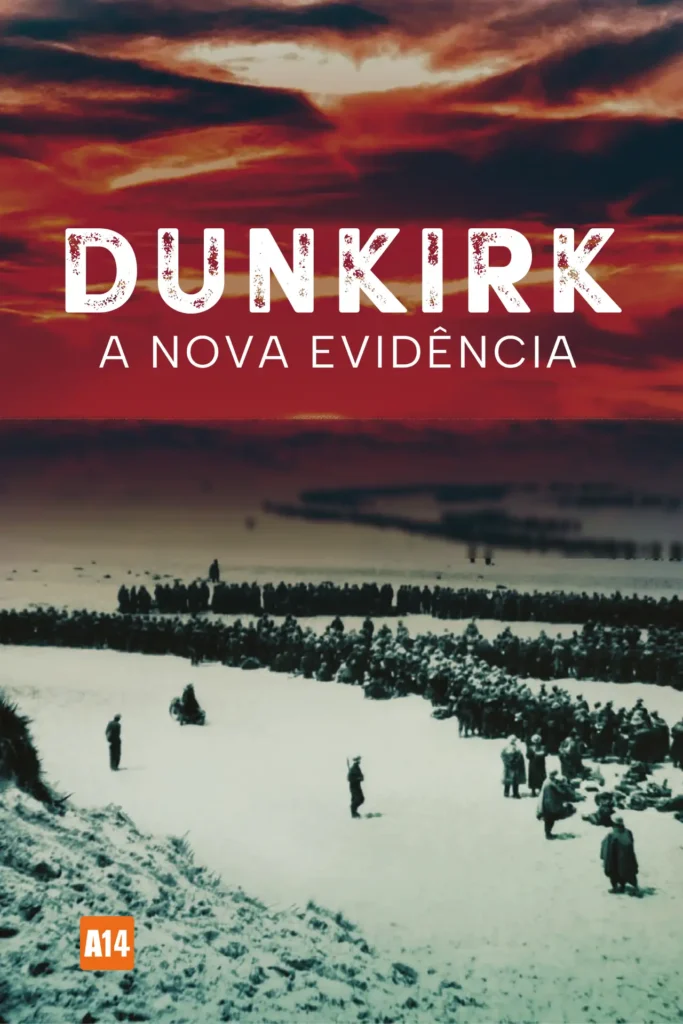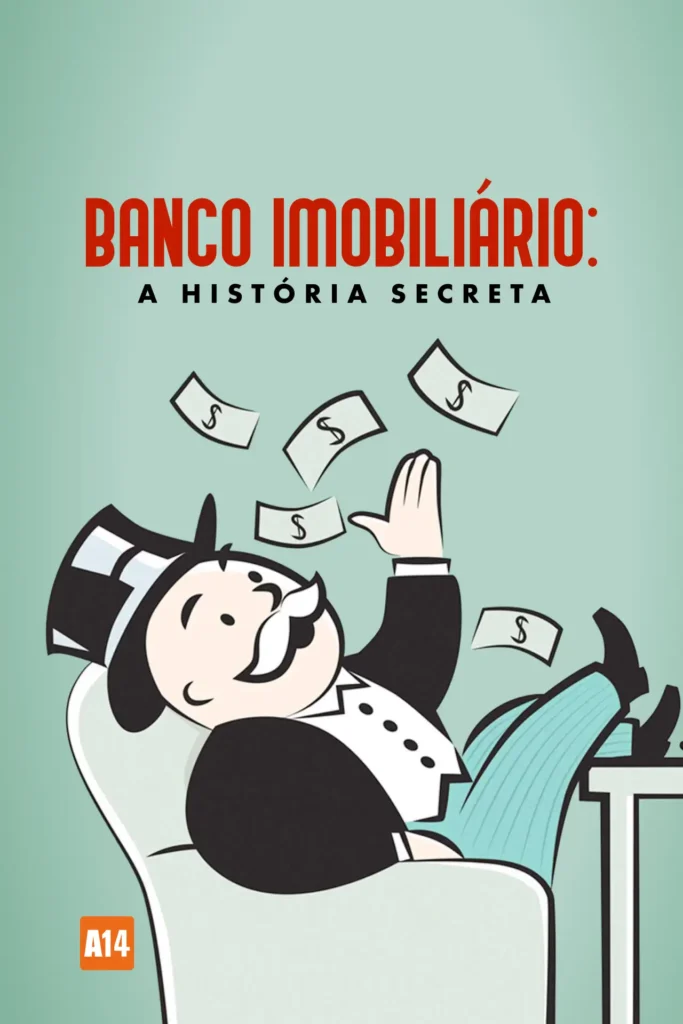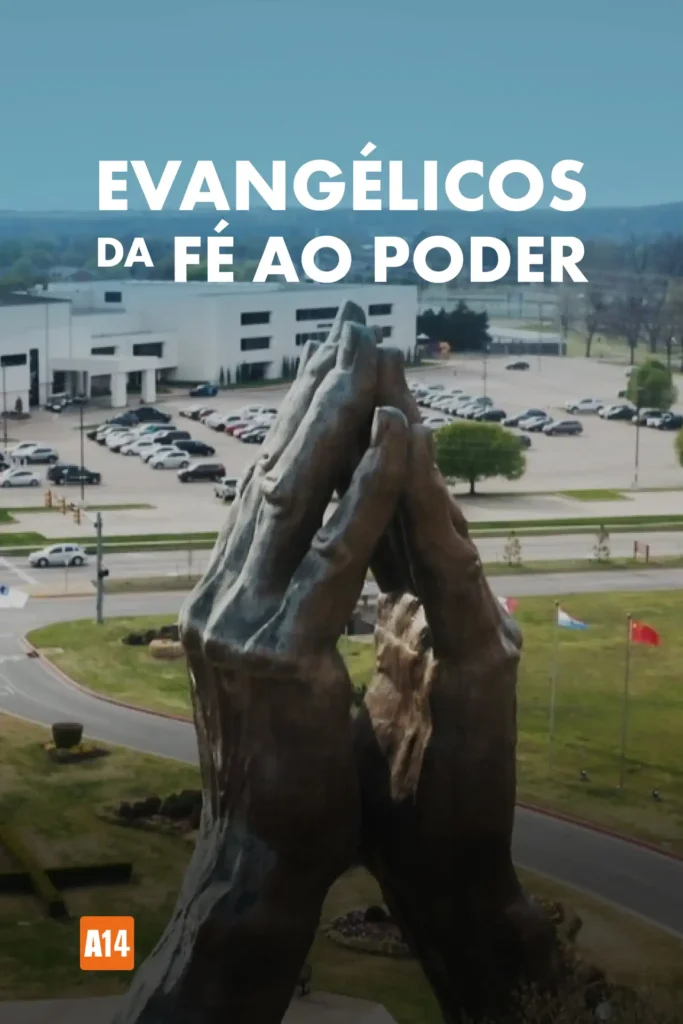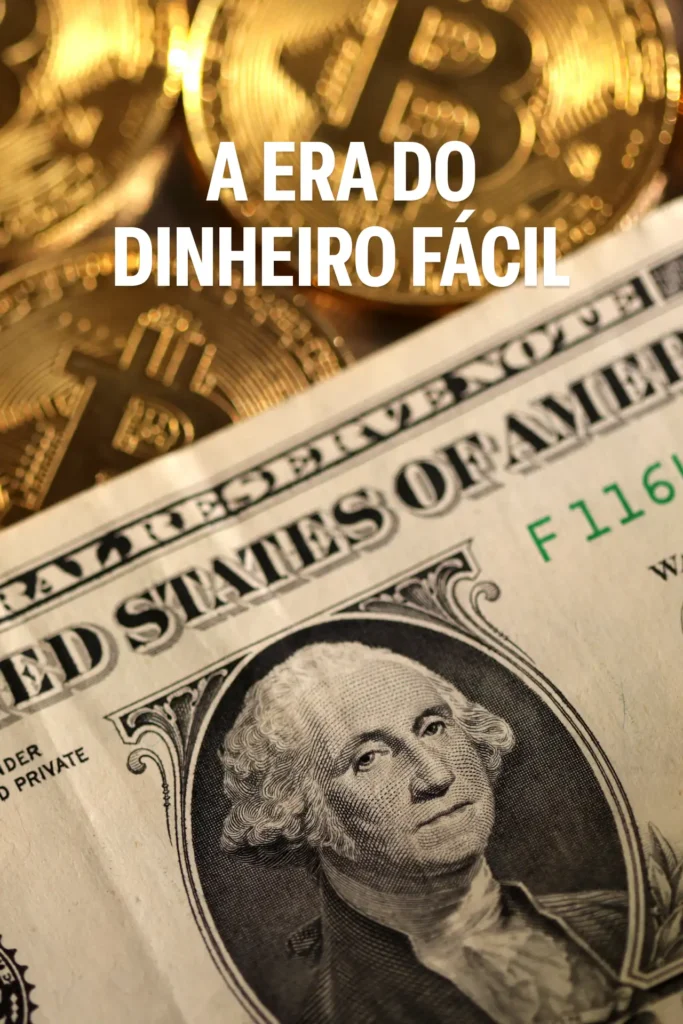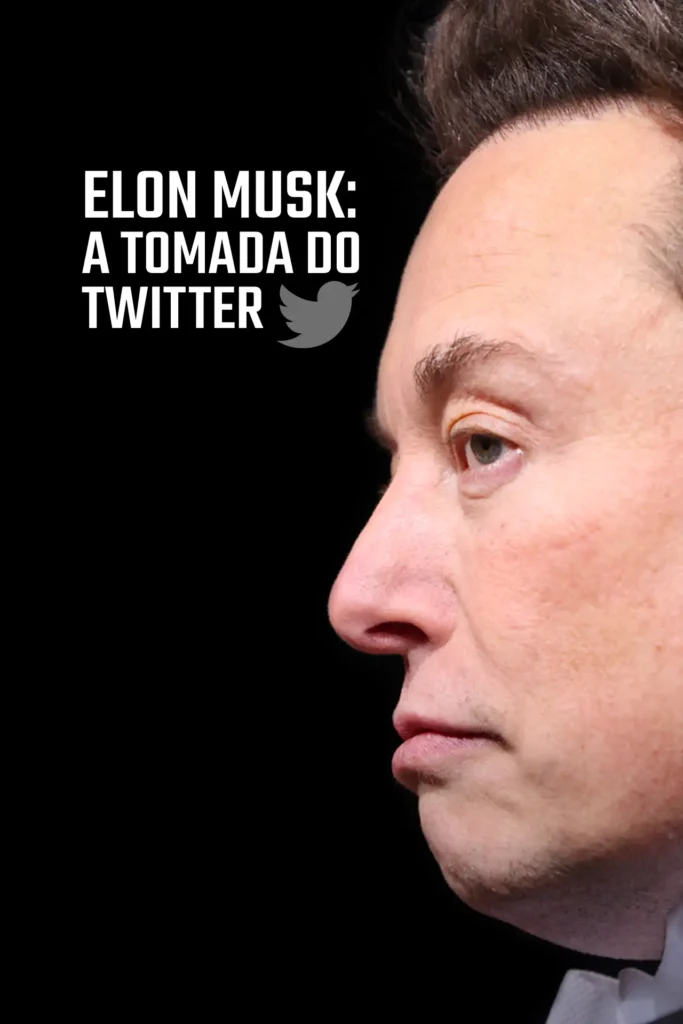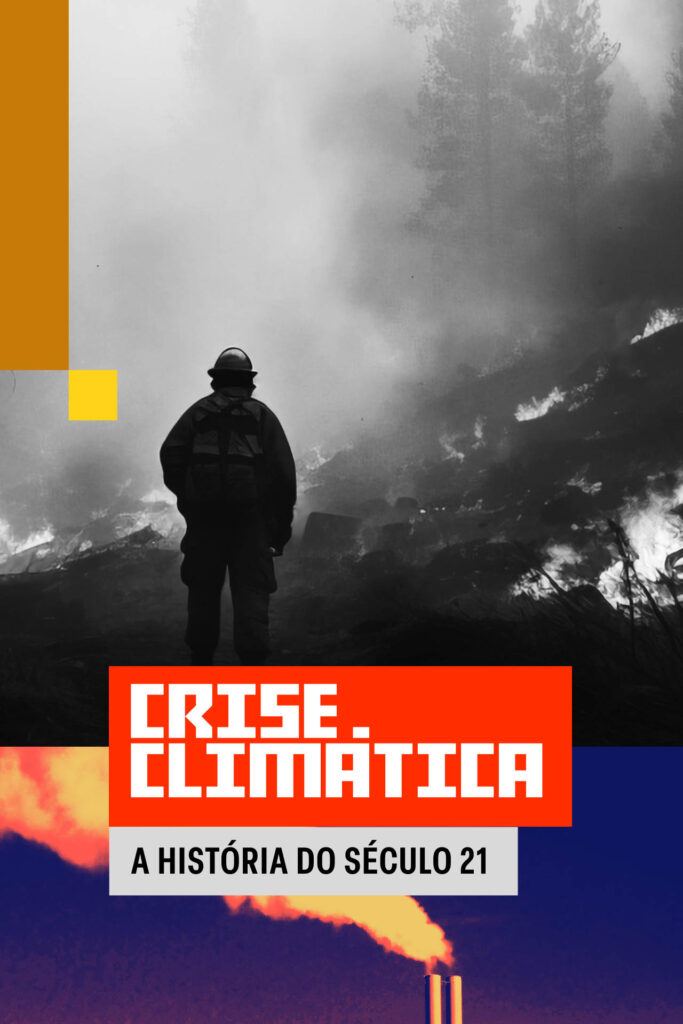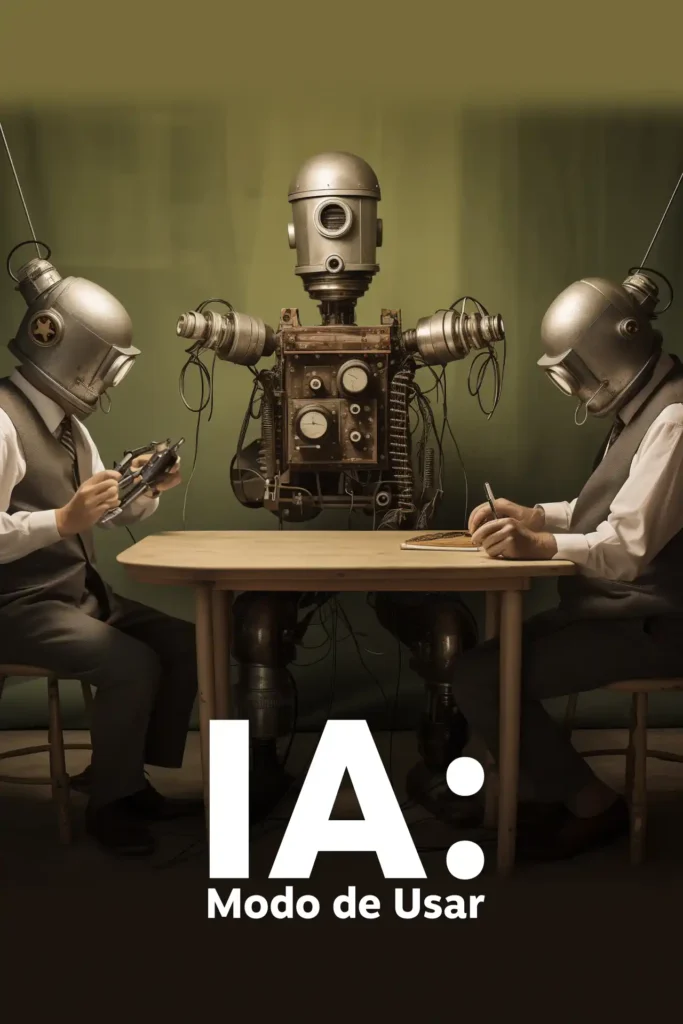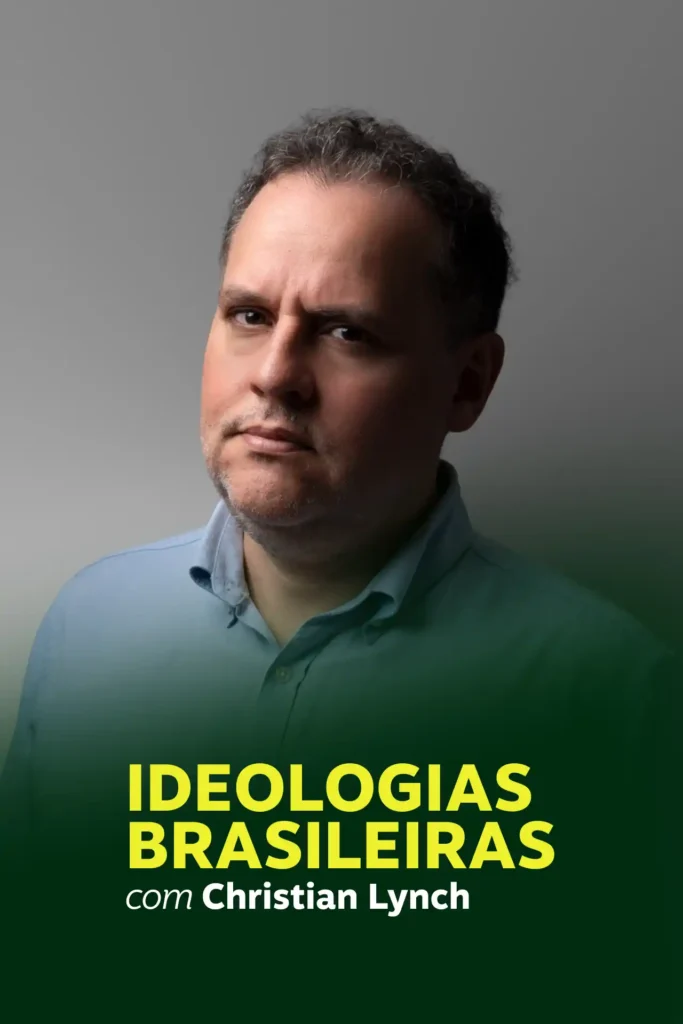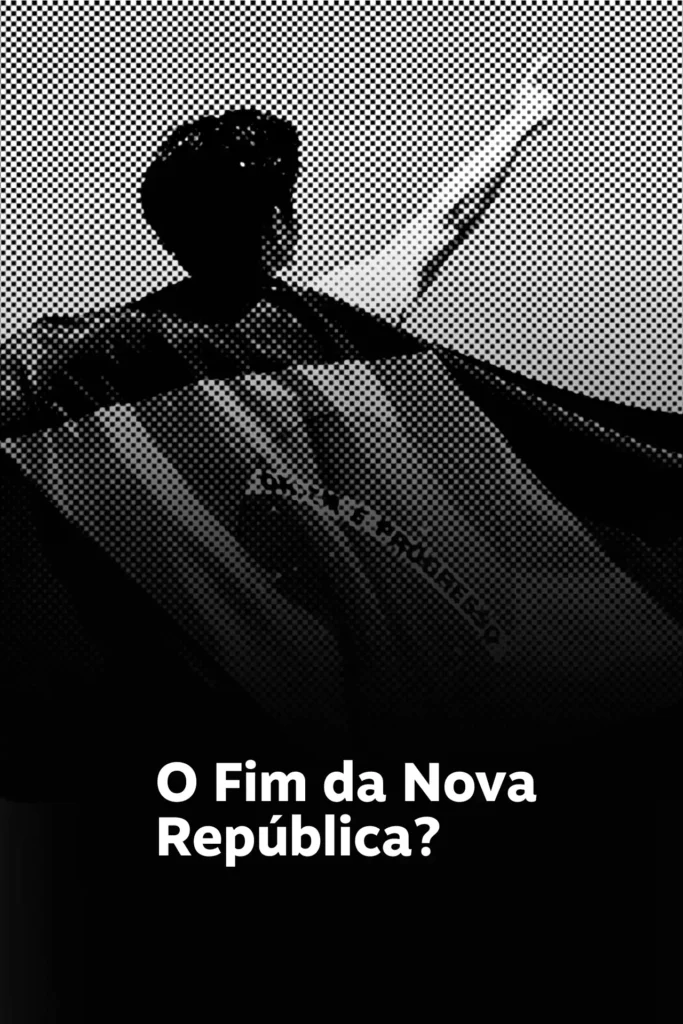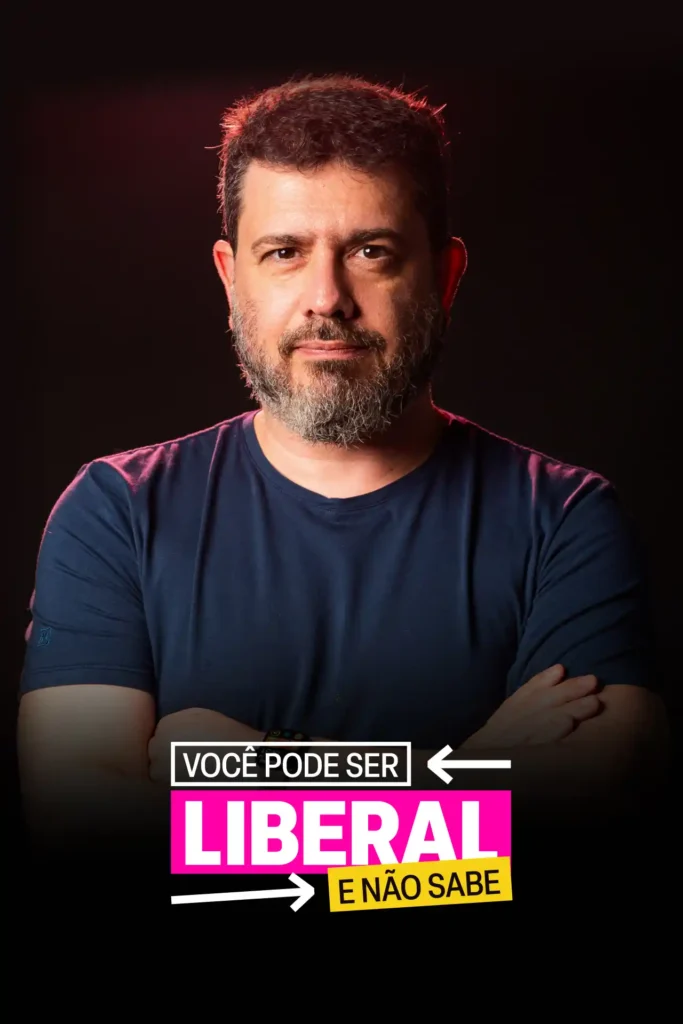Notas sobre a história de um dia histórico
Em Feitiço do Tempo (Harold Ramis, 1993), um meteorologista da TV resolve cobrir a principal festa de uma cidade do interior da Pensilvânia. Todo dia 2 de fevereiro seus habitantes comemoram o Dia da Marmota, quando esse simpático roedor teria uma suposta capacidade de prever o fim do inverno. Chegando lá, porém, o protagonista se vê condenado a viver, todos os dias, as mesmas 24 horas — excepcionais para os demais, mas tediosamente iguais para ele. O paradoxo é que, como ele é o único que tem consciência da repetição, pode fazer coisas diferentes para alterar o curso de uma história previsível.
Na Folha de S. Paulo, o colunista Gustavo Alonso também recorreu ao filme estrelado por Bill Murray para falar sobre o julgamento de parte da alta cúpula do governo Bolsonaro na semana passada. Para ele, o nosso Dia da Marmota seria a prisão de um ex-presidente. E de fato temos várias na conta. A analogia está valendo, claro, mas eu prefiro pensar que o nosso Dia da Marmota é um golpe militar, seguido quase sempre uma anistia. Digo “quase” porque, de tão naturalizados, vários deles sequer precisaram de uma. Algumas tentativas fracassadas chegaram a ser punidas, é verdade. Mas sempre por pouquíssimo tempo.
Passada quase uma semana do veredito que sentenciou o ex-presidente a 27 anos de prisão, fica a pergunta: o que fazer para alterar o curso dessa história tão previsível?
“Histórico”
Durante a discussão sobre a dosimetria da pena dos condenados pela Primeira Turma do Supremo, o ministro Luís Roberto Barroso chegou ao plenário e declarou que este “se trata de um julgamento simbólico e histórico”. Muitos foram os que utilizaram o vocábulo “história” para se referir ao evento. Com isso, querem provavelmente destacar seu ineditismo. De fato, é a primeira vez que militares são condenados por tentativa de golpe de Estado pela justiça civil no Brasil.
Quando definimos um acontecimento como “histórico”, estamos na verdade querendo dizer que ele é memorável, distinguindo-se dos demais, meramente banais. História e memória são duas formas distintas de acessar o passado, que não se pode alcançar diretamente. Enquanto a primeira tende a vê-lo de maneira mais crítica, ponderada, teoricamente fundamentada e metodologicamente orientada, a segunda costuma manter com ele uma relação mais afetiva.
Um exemplo importante deste último caso é aquilo que Pierre Nora chamou de “Lugares de Memória”, que, em meio ao espaço público, costumam remeter a tempos pretéritos, mas também, com isso, ao presente. Sua existência mostra que o passado é objeto constante de disputas sociais e políticas no presente, que não raro o modula de acordo com seus interesses. Nomes de ruas, praças, monumentos e outros símbolos indicam aquilo que deve ser lembrado — e também o que deve ser esquecido. Algo está sendo dito quando o governo de São Paulo batiza de “Bandeirantes” o palácio que é sede de seu Poder Executivo. E também quando autoridades nomeiam de “Costa e Silva” uma instituição escolar.
Mas tomemos como exemplo a Inconfidência Mineira. Um movimento histórico — ou memorável —, correto? Claro, mas porque os republicanos o fizeram assim a partir de 1889, em busca de outros signos para os novos tempos. Desta forma, um movimento de caráter antifiscal acabou sendo convertido em luta pela Independência, com direito a Tiradentes eternizado como mártir que alude a Jesus Cristo. Por 100 anos, os inconfidentes foram só mais uns entre vários que resolveram peitar a Coroa portuguesa, sem lugar nenhum na memória nacional.
Este, no entanto, não é o único sentido do termo “história” em jogo.
Desde as Jornadas de Junho, temos questionado como os historiadores vão contar, no futuro, a crise da Nova República. Não é diferente com o julgamento de Bolsonaro e sua trupe. A especulação costuma vir em forma de chiste, mas pode ser interessante levá-la a sério por alguns minutos.
Embora a história seja diferente da memória, é um erro considerá-la imune à cultura.
Trata-se de paradigma há muito superado da abordagem internalista da história da ciência a ideia de que as ciências, inclusive as humanas, evoluem a partir da razão pura. A forma como os historiadores se referem ao passado depende de muitos fatores, inclusive de ordem ideológica. Por exemplo, até hoje é potente o mito da história incruenta do Brasil, segundo o qual os processos políticos são todos resultado de articulações de gabinete, sem derramamento de sangue ou grandes rupturas. Para os conservadores, sinal de que as coisas vão bem e não precisam de reformas substanciais. Para os progressistas, de que vão mal e precisam de uma intervenção radical. O passado é o mesmo, mas, assim como a memória, a história não. Desta forma, é uma ilusão achar que o passado se inscreve sozinho no futuro e que o golpismo bolsonarista estará, de forma cristalina, no horizonte das próximas gerações.
Revisionismos
O historiador italiano Enzo Traverso fala em três modalidades de revisionismo histórico, dos quais dois nos interessam particularmente aqui. O primeiro, o revisionismo fecundo, é o resultado algo natural de uma operação historiográfica que esteja aberta a novas fontes, problemáticas e perspectivações. É quase redundante falar em revisão quando o assunto é ciência, quanto mais a história. Graças a algumas dessas revisões, é possível pôr em questão a ideia de que a bomba atômica foi o último ato da Segunda Guerra, explicação conveniente para japoneses e americanos. Outras serviram para incluir na história — este panteão até então dedicado a “heróis” de estratos sociais muito restritos — indivíduos e grupos de minorias. O que seria da história do Holocausto, por exemplo, se, como consolidou o paradigma metódico-rankeano no século XIX, a hierarquia de confiabilidade das fontes privilegiasse o documento escrito de arquivo?
Hoje, no entanto, o termo “revisionismo” costuma aparecer de forma negativa: “Fulano de tal é acusado de revisionismo”. Isso se deve ao fato de que o conceito ganhou tanta cidadania na historiografia que os negacionistas do Holocausto, em busca de legitimação no debate público, passaram a utilizar essa credencial para produzir versões alternativas sobre o número de vítimas e o uso de câmaras de gás como ferramenta de extermínio. Para Mateus Pereira, a negação, no campo da história, consiste numa “contestação da realidade, fato ou acontecimento que pode levar à dissimulação, à falsificação, à fantasia, à distorção e ao embaralhamento. Em geral, percebemos uma dissimulação e uma distorção da factualidade que, ou procura negar o poder de veto das fontes, ou fabrica uma retórica com base em ‘provas’ imaginárias e/ou discutíveis/ manipuladas”.
Daí o papel a ser desempenhado, de novo segundo Traverso, por outra modalidade de revisionismo, que ele chama de “nefasto”, cuja finalidade é, através da revisão, reabilitar líderes autoritários do passado que caíram em desgraça após a derrocada de seus regimes. A Itália tem os seus. O Brasil, naturalmente, também. Marcos Napolitano prefere falar, nesse sentido, em “revisionismo ideológico”, cuja marca é a “apropriação seletiva de fatos comprovados, sem a devida complementação de informações, para reforçar a tese negacionista”.
E qual seria o revisionismo nefasto, ou ideológico, do golpismo bolsonarista no futuro? Futurologia não é o forte dos historiadores, mas, com base no que têm feito seus adeptos, é possível especular.
Anistia
Em 11 de fevereiro de 1956, o capitão-aviador José Chaves Lameirão e o major Haroldo Coimbra Veloso foram à base do Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro, prenderam o oficial encarregado pela guarda da unidade, roubaram um caça AT-11, encheram-no de armas e munição e partiram em direção ao Centro-Oeste. Lá, fizeram algumas escalas antes de finalmente pousar em Jacareacanga, no extremo sudoeste do Pará. Seu objetivo era muito claro: expulsar todos os herdeiros do varguismo da vida pública, a começar pelo então presidente Juscelino Kubitschek, recém-empossado no dia 31 de janeiro. Lameirão e Veloso tomaram ainda outros campos da região, na esperança de arregimentar outros militares para o levante.
Cinco dias depois, o major-aviador Paulo Vitor da Silva recebeu a missão de retomar Jacareacanga. Ele mobilizou vinte oficiais e sobrevoou a região por um tempo antes de anunciar que prevaricaria. Mais do que não enfrentar os indisciplinados, Paulo Vitor aderiu ao movimento com alguns de seus homens e ainda colocou sua aeronave à disposição do golpe. As adesões não foram tão numerosas quanto esperavam, mas o ministro da Aeronáutica chegou a dizer a Juscelino que não seria obedecido pelos seus subordinados e o caso gerou grande apreensão no governo. Depois de muitos desencontros e ruídos de comunicação, uma força tarefa envolvendo Exército, Marinha e Aeronáutica embarcou no navio Presidente Vargas — que ironia do destino — para a região, mas os sediciosos já tinham zarpado. Veloso acabou descoberto e preso no dia 29. Lameirão e Paulo Vitor, no entanto, conseguiram fugir para a Bolívia.
Levou exatamente um dia — sim, um dia — para que o próprio Juscelino, que já assumiu muito contestado pelos militares, enviasse ao Congresso um projeto de anistia. O texto garantia “perpétuo silêncio” sobre os processos criminais e disciplinares relativos a “todos os civis e militares que, direta ou indiretamente, se envolveram, inclusive recusando-se a cumprir ordens de seus superiores, nos movimentos revolucionários ocorridos no país a partir de 10 de novembro de 1955 até 1º de março de 1956”. Era uma anistia “ampla e irrestrita” para todos os episódios de golpismo militar, exatamente entre as deposições de Carlos Luz e Café Filho, capitaneadas pelo general Henrique Teixeira Lott, e a aventura desastrada de Lameirão e Veloso.
Como se sabe, Juscelino Kubitschek sofreria mais uma tentativa de golpe, dessa vez na região de Aragarças, Goiás, em 1959. Entre os protagonistas, estavam justamente os anistiados Haroldo Veloso e Paulo Vitor da Silva. José Chaves Lameirão não demoraria para retornar às páginas policiais. Em 1962, tentou explodir a Exposição Soviética de Indústria e Comércio, no Pavilhão São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Ele chegou a ser preso e indiciado, mas acabou absolvido, para protestos da promotoria.
Esses episódios da crise que antecedeu o golpe de 1964 são apenas alguns de uma longa lista de rupturas ou tentativas de ruptura institucional protagonizadas por militares desde a Proclamação da República, ela própria resultado de um levante militar. Em vídeo para o Meio e em artigo para O Globo, o jornalista Pedro Doria passeia por outras. O historiador Carlos Fico, que examinou cuidadosamente o golpismo castrense em Utopia Autoritária Brasileira (Planeta, 2025), também fez circular uma tabela que totaliza catorze eventos similares neste período. A depender do que entendemos por golpe de Estado, ainda caberiam pelo menos outros sete — fracassados ou bem-sucedidos.
Ainda assim, o primeiro balão de ensaio revisionista veio antes mesmo da condenação de Bolsonaro.
No início do mês, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, publicou vídeo em rede social dizendo que “a história já mostrou que a anistia e o perdão são os melhores remédios para pacificar o país”. A não ser que estivesse falando dos comunistas, ao menos os liderados por Luís Carlos Prestes, o que a história do Brasil mostra é precisamente o contrário. Os militares anistiados, via de regra, vão tentar outro golpe depois. Poder-se-ia fazer o exercício contrafatual, claro, imaginando o que seria do país se os golpistas do passado tivessem sido punidos. Haveria convulsão social? Difícil saber. A justiça de transição na Argentina, por exemplo, também teve seu custo. No entanto, o fato é que não se tinha no Brasil exemplo de punição, pela justiça civil, de militares que atentaram contra a democracia. O preço do golpismo sempre foi muito baixo por aqui.
Realidade paralela
Durante o governo Bolsonaro, tornou-se estrondoso o sucesso da produtora Brasil Paralelo, que nasceu com o propósito de oferecer à sua audiência uma “realidade paralela ao que as pessoas estavam acostumadas a ver na grande mídia”. Fortemente orientado pelas ideias de Olavo de Carvalho, o grupo constitui um dos exemplos mais bem acabados do que a antropóloga Letícia Cesarino chama de “públicos antiestruturais”, que jogam em casa no processo de reorganização epistêmica da “crise do sistema de peritos”. Como defendeu Tatiana Roque, as pessoas estão com grande dificuldade de discernir quais conhecimentos são de fato confiáveis e produzidos de maneira desinteressada. E os “peritos”, para voltar à analogia de Cesarino, já não são mais os mesmos da era pré-digital.
Para as produções da Brasil Paralelo, os indígenas do Brasil eram incivilizados e mesmo “burros”, porque supostamente isolados; a colonização foi boa porque levou nativos “do paleolítico ao barroco em 20 anos”; D. Pedro II foi um líder abolicionista antissistema que lutou contra poderosos escravocratas; e o golpe de 1964 — embora reconhecido como tal — abortou a escalada do país rumo ao comunismo.
Há quem diga que são manifestações com pouco alcance fora do universo digital. Durante o governo Bolsonaro, porém, a Brasil Paralelo assinou contrato com a TV Escola, do MEC, para exibição da série documental “Brasil: a última cruzada”. Alguns de seus colaboradores mais frequentes ocuparam importantes cargos do governo, a exemplo da Biblioteca Nacional. Em junho de 2024, uma reportagem da Agência Pública mostrou como a Brasil Paralelo foi parceira do Centro Universitário Ítalo Brasileiro no seu curso de licenciatura em história, aprovado pelo MEC justamente em 2019. Hoje, a direita olavista não é capaz de produzir nenhum impacto na produção historiográfica, mas quem garante no futuro?
Claro, não se trata, aqui, de propor a criminalização de suas produções. O debate público precisa ser o mais livre quanto possível no interior da tradição liberal e de nossa experiência concreta como nação. O que está em questão, mais uma vez, é a percepção de que a história não é capaz de se contar sozinha.
Tudo isso serve para dizer que de nada vai adiantar a condenação de ontem se a democracia brasileira não tiver condições de segurar o ímpeto golpista de sempre. O que define um momento como “histórico” não é o seu presente, mas o futuro. E o nosso Dia da Marmota só chegará ao fim com o fim do golpismo militar e tudo que ele representa. É verdade que nada do que fizerem os extremistas do futuro vai transformar o passado. Mas, como vimos, ele não fala por si. Para se fazer boa história, é preciso ter alguma democracia. Para uma memória que reforce seu compromisso com os valores democráticos e rechace de maneira veemente o golpismo militar, mais ainda.