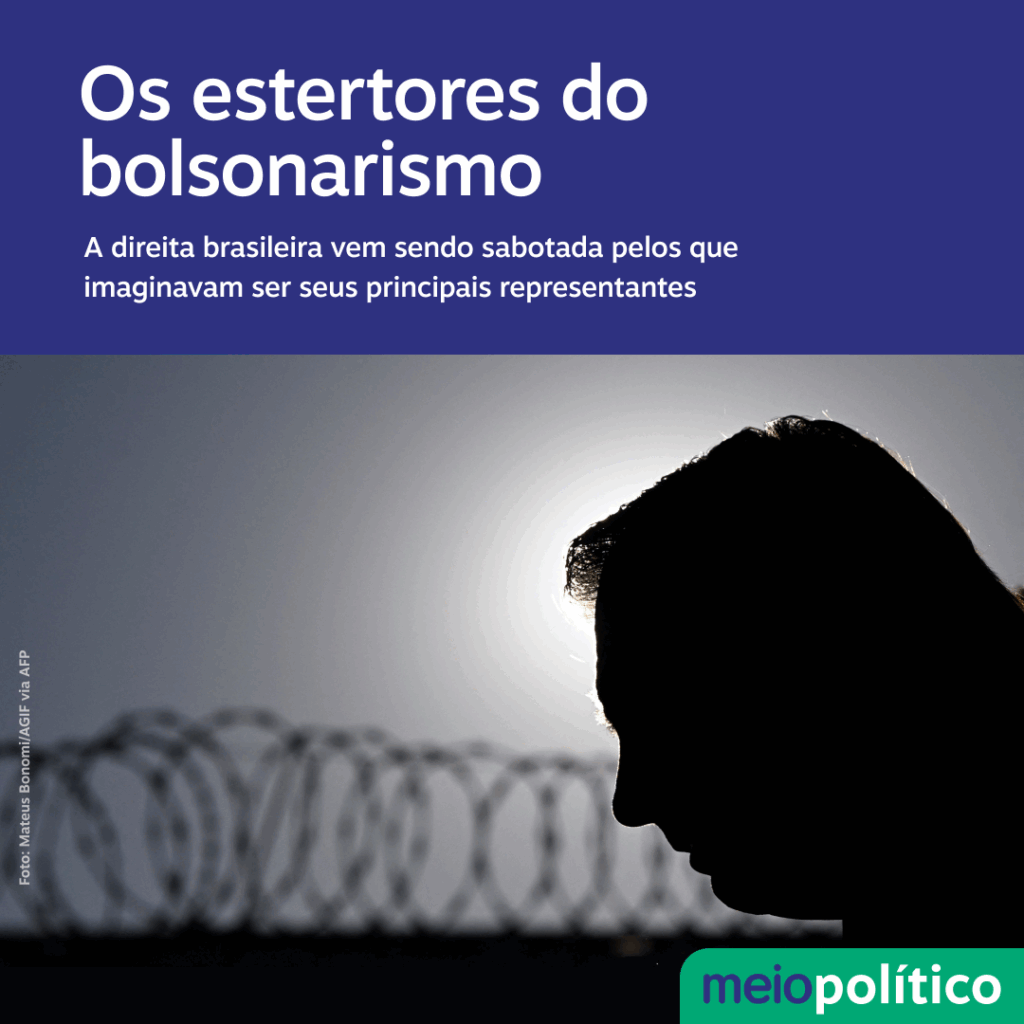Espelho, espelho meu
Receba as notícias mais importantes no seu e-mail
Assine agora. É grátis.
A novela gráfica Na Sala Dos Espelhos, da sueca Liv Strömquist, é um ensaio filosófico em quadrinhos que disseca a tirania da imagem e a ditadura da magreza na sociedade contemporânea. A HQ utiliza uma pedagogia de guerrilha para levar ao grande público um pensamento sociológico complexo, que bebe em autores como René Girard e Byung-Chul Han. A graça do quadrinho é que Strömquist consegue pintar com acidez uma linha que vai da obsessão estética da Imperatriz Sissi até a mercantilização da beleza na era dos likes, que tem um dos melhores exemplos em influencers como Kylie Jenner.
Idealizado e estrelado pela atriz Carolina Manica, com direção e adaptação das dramaturgas Michelle Ferreira e Maíra De Grandi, o monólogo Na Sala dos Espelhos, em cartaz no Sesc Ipiranga, traduz o ensaio de Strömquist para o palco por meio de um conflito pessoal e geracional. A peça acompanha a mãe da Nina — uma mulher que atravessa o climatério — enquanto enfrenta o desafio de criar sua filha pré-adolescente em crise com a própria aparência. O espetáculo aborda o tabu do envelhecimento feminino e a hiperexposição digital, usando o humor para tornar as densas reflexões filosóficas suportáveis ao público.
Conversei com Carolina Manica sobre esse projeto, os ecos na nossa sociedade e no seu próprio trabalho de atriz. Leia abaixo os principais trechos da entrevista.
A HQ é praticamente um ensaio filosófico em quadrinhos. Qual foi o principal elemento que precisou ser transformado na dramaturgia para que essa adaptação não perdesse a ironia e a inteligência da Lív Störmquist?
Essa era a chave. Sempre falo que a Liv faz praticamente teses de doutorado. Você lê um quadrinho dela e sai pensando melhor, aprende muita coisa. E aí como isso não virar um tédio ou uma colagem louca? Porque esse era o nosso desafio, e foi, na verdade, uma conquista das dramaturgas Maíra e Michele. Elas criaram essa mãe, e a história ganhou mais uma camada.
Mas como vocês fizerem para não virar um TED Talk no teatro?
Está tudo em cena. A gente pegou todos esses pensadores e pensamentos e colocou em situações. Quando você coloca isso em cena, só o signo da mãe que tem essa filha pré-adolescente e está passando por um processo de menopausa, você já tem todos esses conflitos e pensamentos que eles trazem. Eu não posso dar tanto spoiler, tem que ver, porque isso é uma das partes mais interessantes do espetáculo.
O interessante é que uma mãe na menopausa traz um contraste com a pré-adolescência. Como essa combinação se dá na dramaturgia?
Eu sou mãe de uma pré-adolescente e estou na perimenopausa. Então, assim, sou eu, né? O que ninguém comenta é que a partir dos 40 anos a gente realmente começa a entrar num processo de perimenopausa, de climatério, enfim, todas essas nomenclaturas que eu sinceramente não domino completamente porque é praticamente um almanaque. E a gente vai vivendo. Mas ninguém fala porque tem esse grande tabu. E os estudos todos são muito recenteso. Até fugi um pouco da pergunta.
A pergunta no fundo era sobre o contraste dessa questão, que não está no texto original.
O quadrinho tem o desafio da Kylie Jenner. E a gente desloca ele para uma mãe que chega em casa e vê essa criança que fez o desafio da boca. O desafio é real. É uma realidade muito possível você ser uma mãe que chega em casa e que vê o seu filho mutilado porque fez um desafio na internet. Então, a gente pegou essa realidade possível e trouxe para a peça na figura dessa mãe de 40 e poucos anos.
Esse é um texto que trata das questões da beleza, do culto ao like, de toda essa aceleração que vem do mundo digital. Como você trata desse mito da beleza olhando para sua filha?
Isso foi uma das coisas que me fez querer fazer esse projeto. Ele vem de uma evolução de muitas coisas que eu já estava fazendo. Quando fiz 40 anos, comecei aquele podcast Respire e Diga Sim. Ele partia da premissa do Jung, da individuação, que é quando você reconhece aquilo que realmente quer e como você está agindo. Eu chamava mulheres para perguntar quando elas falaram sim para elas mesmas. Isso começou a reverberar muito em mim. E comecei a observar muito essa questão da internet. Fiz o podcast para criar um conteúdo para minha rede social, porque eu não aguentava mais. Tudo que eu via era tão vazio, aquelas fotos com aquele monte de filtro, aqueles parâmetros inalcançáveis, aquela necessidade de chamar atenção através de um post de biquíni. Aí eu mesma comecei a me testar. A postar umas fotos de biquíni. Eu apaguei tudo já. Mas, enfim, queria testar o que acontecia com esse algoritmo. E aí a minha filha falava: “Mãe, você tá postando foto de biquíni, pelo amor de Deus”. E eu respondia: “Flor, é um corpo. Todo mundo tem corpo, né?”. Foi engraçado como isso mexia com ela também. Todo esse projeto parte da inquietação que vem do quanto essas postagens afetam a vida do outro.
Como atriz, você tem uma pesquisa com o corpo? Como ela é incorporada na peça, já que o corpo é central nessa crítica?
Sou uma pessoa padrão e tenho plena consciência disso. E isso foi uma coisa que eu questionei muito. Agora, estou envelhecendo igual a qualquer pessoa. Colocar isso em cena talvez permita falar dessa história, porque eu assumo: “Sua mãe está na menopausa, está envelhecendo, está cada dia mais cansada”. É uma mulher que fala: “Sou bonita, massa, mas e daí?”. A trajetória dessa personagem vai também por esse caminho. A beleza é efêmera, não garante nada. A gente vive uma pressão estética no mundo. Você entra no Instagram, no TikTok, e vê todo mundo buscando um lugar de perfeição. Como que a gente se liberta de provar pro outro que tudo bem envelhecer?
A própria questão de padrão é política. Como a peça traz isso?
Todo corpo em cena é um corpo político. No momento que você escolhe ser artista, você vira um veículo, um canal para transmitir algo. Então, tem uma responsabilidade gigante em escolher aquilo que quer falar. Obviamente todas essas questões sempre passam por inquietações pessoais, mas não podem ser só pessoais porque senão não são pertinentes, né? E tem essa doença que a gente vive com a rede social, com a dopamina que ela libera, com essa estética do belo. E aí vem a questão do belo e do sublime, uma coisa que estudei muito. Sou fascinada pelo Byung. Fui me aprofundar nele quando fiz a série Vale dos Esquecidos (HBO), em que os personagens eram imortais. Eu fazia a chefa, a rainha lá do negócio. E tinha essa coisa de eles ficarem congelados no tempo sem envelhecer. Então, eu fui estudar a estética do belo e cheguei naquele livro A Salvação do Belo. Comecei a compreender mais por que a rede social é tão palatável. É por que ela não te confronta. O belo só te satisfaz. Mas o sublime não. O sublime te confronta. E o sublime contém o belo. Porque ele não é só o estético. No momento que a gente escolhe estar em cena, a gente escolhe confrontar. Não que eu tenha pretensão de querer mudar as pessoas, mas quero conversar. Que pelo menos eu olhe no olho daquela pessoa e que a gente tenha alguma troca.
Você escolheu fazer um monólogo, mas defende que é um trabalho coletivo, Como funciona essa coletividade do teatro?
Uma atriz chegou para mim e falou assim: “Você vai fazer o monólogo, você está sozinha aí”. Eu falei: “Não, não tô sozinha. Não sou só eu no palco”. Porque se eu estiver sozinha não tem espetáculo. Ela insistiu que eu não contracenava com ninguém. Mas eu contraceno. Tenho um figurino que foi criado para a minha personagem, e ele tem que ser parte de mim. Eu tenho um cenário que foi criado para a personagem pelo Fábio Namatame. Eu tenho uma cama sonora criada por duas artistas fantásticas que são a Ava Rocha e Grisa, que contracena comigo o tempo inteiro. E eu tenho uma luz feita pelo Caetano Vilela, que é um privilégio. Então, se eu achar que eu estou sozinha, que sou só eu ali, não tenho peça. Você só tem teatro quando tem equipe.