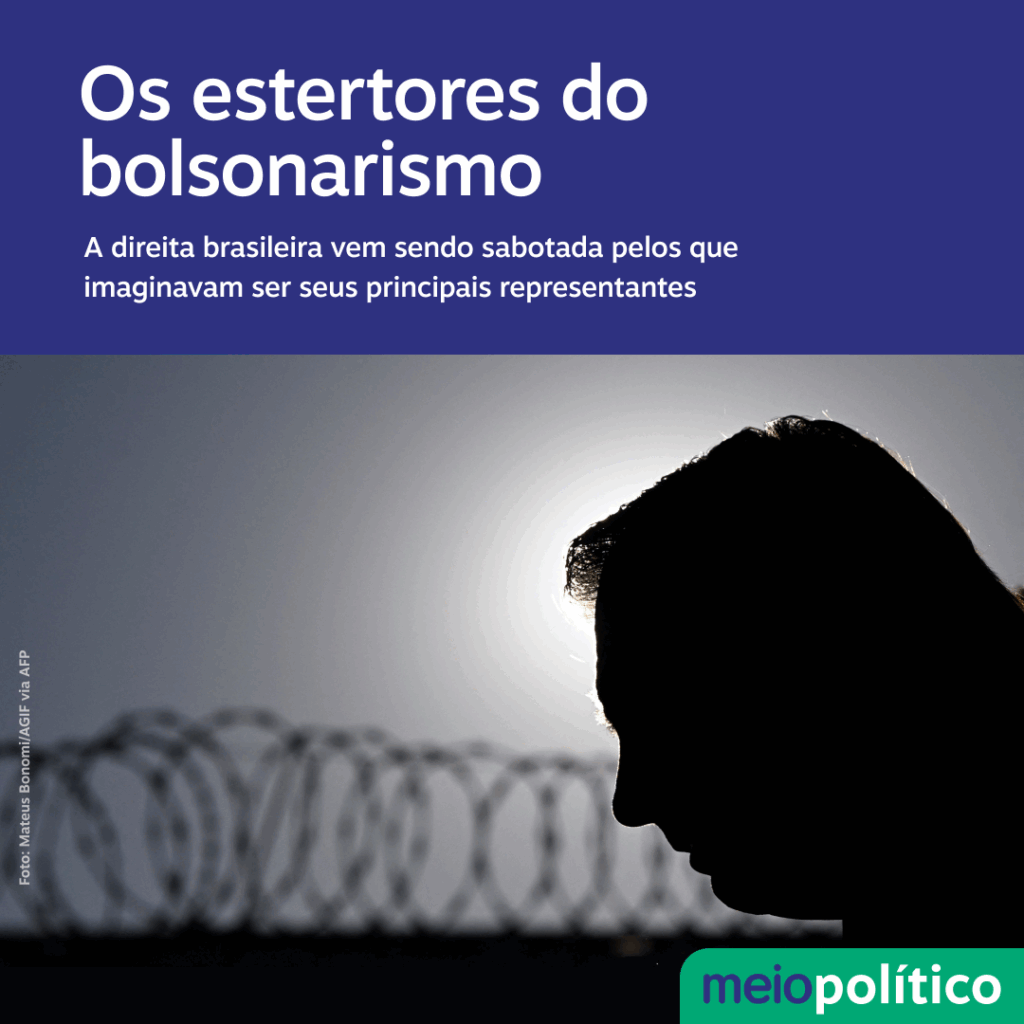A arte pelo olhar de um poeta do rock
Receba as notícias mais importantes no seu e-mail
Assine agora. É grátis.
A primeira vez que vi Rodrigo Carneiro foi no meio dos anos 1990, quando ele fazia umas performances incendiárias à frente do Mickey Junkies. Anos mais tarde, voltamos a nos cruzar no Trovadores do Miocárdio, com ele sempre elegante, lendo seus poemas de amor com uma leve influência beatnik, seguindo esse caminho da poesia falada.
Nos últimos anos, a poesia tem sido sua produção mais potente. Em 2018 lançou Barítono, seu primeiro volume de poemas pela Editora Terreno Estranho. O título remete a seu inconfundível registro vocal. Seu segundo lançamento foi Afetos Sísmicos, de 2022, que acabou gerando uma nova colaboração musical, desta vez com Paulo Beto, com quem Rodrigo já havia tocado no mítico Shiva Las Vegas, no fim dos anos 1990 e começo dos 2000.
Agora Carneiro acaba de lançar um livro de crônicas culturais, instigado pelo reverendo Fabio Massari, da Terreno Estranho, após a leitura de um post sobre o lançamento do livro Barulho, de André Barcinski. “Eu achei inusitado e logo aceitei. A partir dessa provocação dele, eu comecei a elencar que seria o livro.” No final, Jardim Quitaúna: Crônicas de Paixão, Política e Cultura Pop se tornou um livro memorialista, delicioso de ler, em que Carneiro lida com diferentes acontecimentos culturais dos últimos 40 anos, indo da paixão infantil por Sidney Magal, nos anos 1980, a reflexões sobre o documentário A Noite que Mudou o Pop, de 2024.
Conversamos sobre jornalismo, Mickey Junkies, poesia e memória. Leia abaixo os principais trechos da entrevista.
Um livro como Jardim Quitaúna preenche uma lacuna que a gente vê com a redução do espaço para o jornalismo cultural tanto em grandes jornais como nos portais?
Mesmo que seja um livro de tom memorialista e que eu seja ali o personagem principal, ou que esteja ali entre o personagem principal e o vilão convidado, pretendia fazer algo além do eu. E essa dinâmica vai resvalar na minha atividade como jornalista. É um pouco também da trajetória de alguém de 50 mais que viu uma série de mudanças muito malucas. Mas não há mais espaço para esse tipo de coisa na antiga grande imprensa ou na imprensa hegemônica.
E o que você vê de jornalismo nesses textos? Porque são crônicas, mas ao ler percebemos que há também um trabalho de apuração jornalística. Como foi o processo de escrita?
Pô, exato. Agradeço a leitura e é exatamente isso. Claro que, de novo, é memória, mas ao elencar o que seriam os capítulos e os causos, fui para para a apuração. Então, do jornalismo, eu empresto o deadline, ainda que eu tenha estourado os deadlines imaginários, e essa coisa da apuração, do rigor com a informação.
O livro tem o título de Jardim Quitaúna, que é de onde você vem. Assim como outra figura que vem de lá aparece bastante nos textos, o Rodrigo Brandão. Como crescer em Osasco nos anos 1970, 1980 dá uma baliza para esses textos?
Osasco é uma cidade bastante peculiar, muito curiosa. É uma cidade jovem, resultado de um interessante movimento autonomista, que se dá em 1962. E houve também uma movimentação muito forte com relação ao combate à ditadura. É uma cidade industrial, e do quartel de Quitaúna, que via da minha janela, Carlos Lamarca retirou os armamentos para a guerrilha. A cidade é muito próxima de São Paulo e ao mesmo tempo muito distante. E, houve também uma movimentação muito forte teatral nos anos 1960 e 1970. Hoje em dia, curiosamente, a cidade é muito conhecida pelo hot dog. Eu conheço o Rodrigo Brandão em 1988, a gente já se esbarrava, mas a relação cotidiana e umbilical se dá aí no comecinho de 1989. E aí a gente apronta mil aventuras. E a cidade é o lugar onde nascemos, mas a gente também sempre foi interessado em tudo, né?
Os anos 1980 foram muito abertos para a cultura, ao mesmo tempo tudo era muito compartimentado. Tem o punk rock, no meio da década, o hip hop e o começo da música eletrônica de pista. Você começa no punk. Como trabalhou a questão do próprio preconceito musical para conseguir alcançar esses outros sons?
O preconceito era a regra, né? Mas ao mesmo tempo, em casa, meus pais são gente de teatro e muito interessados em música. Já tinha toda uma diversidade musical e de gênero. Quando eu elegi o punk rock como meio de expressão, já tinha, todas as outras coisas de que eu gostava. Evidentemente eu não ficava comentando com o pessoal mais radical da gangue e tal. Somos da geração que se tornou roqueirinha com a vinda do Kiss ao Brasil. Não fui ao show, mas foi aí que o rock entrou. Logo eu ouvi o Grito Suburbano e encontrei o viés ali. O que me pegava era a onda do pós-punk. O que, para setores mais trogloditas, seria pior. Muito cedo eu entendi todos esses códigos. Tinha a gangue mais sectária, e você estabelece algum tipo de relação afetuosa com determinadas figuras, mas eu tinha mais abertura com as pessoas de visão mais ampla. Mesmo assim tinha a dinâmica da gangue, a hardcore de Osasco, que era bastante conhecida pela truculência, porque, enfim, o período também era esse. A violência era a linguagem.
Tinha muita briga. Briga com metaleiro, briga com careca, briga com todo mundo, né?
É isso. E aí a questão do hip hop, por exemplo, é quase óbvia. Eu era um punk preto. Meus primos e primas já eram da movimentação da Chic Show. A primeira vez que eu fui a uma boate, a um clube com globo de espelho e som, foi num baile da Chic Show levado pela minha tia. E vivia ali pelo Centro, fui pelo menos umas quatro, cinco vezes na São Bento para sacar a informação que o meu primo tinha me passado sobre a cena do hip hop. Recentemente fiz inclusive textos para a magnífica exposição do Sesc 24 de maio sobre essa época. Ainda que eu seja mais associado ao rock, à música esquisita, eu também estudo hip hop. Eu vi, eu estava lá, como na canção do Edgar [Scandurra].
No Mickey Junkies você escreve em inglês. Só um cover de Alguma Coisa, do De Falla, no segundo disco é em português. Ao se expressar como poeta, você assume o português. Como se dá essa transição lírica?
No Mickey Junkies de fato teve essa versão do De Falla e a gente também lançou um single, A Obsessão. Nessa cena maluca, o inglês era a língua. Mas é preciso trazer um contexto, essa garotada foi exposta ao rock como música de massa. Tinha o rock nacional dos anos 1980, mas a gente queria se contrapor à geração anterior. E elegeu-se o inglês, não que eu estivesse mirando trilhar o caminho no aberto pelo Sepultura, mas ele mostrou que era possível. Essa questão do inglês era velha também, desde os anos 1970 havia bandas de brasileiros tocando no rádio em inglês. Por outro lado, fui um garotinho impactado pela poesia em português, em casa tinha o disco do Morte e Vida Severina, do Drummond, do Ferreira Gullar. Meu pai é poeta. E quando eu comecei a fazer os primeiros experimentos nesse sentido, é claro que eu tinha mais recursos na minha língua natal. O Mickey Junkies ficou muito conhecido no microcosmo como uma banda explosiva e, para trabalhar a timidez, criei um personagem de frente. Aí na questão da poesia a personagem principal, a estrela, é a palavra. Então eu me apresentava mais tranquilo, sentado.
Como é a relação com a banda hoje?
Os Mickey Junkies são meus amados. São grandes artistas. Agora no dia 27 de novembro a gente faz 34 anos de fundação. Nessa relação longa teve de tudo, né? A banda termina por uma cobrança de excessos e, quando a gente retorna, é pela dinâmica da afetividade. E quando as declarações de amor foram devidamente feitas, os 10 anos de recesso parecem que não existiram.
Vocês estão escrevendo música ainda?
Tem um single novo para sair, estamos mixando. Mas sempre digo: os shows, as gravações são pretextos para que a gente se encontre, esteja junto e celebre a vida e a nossa amizade.