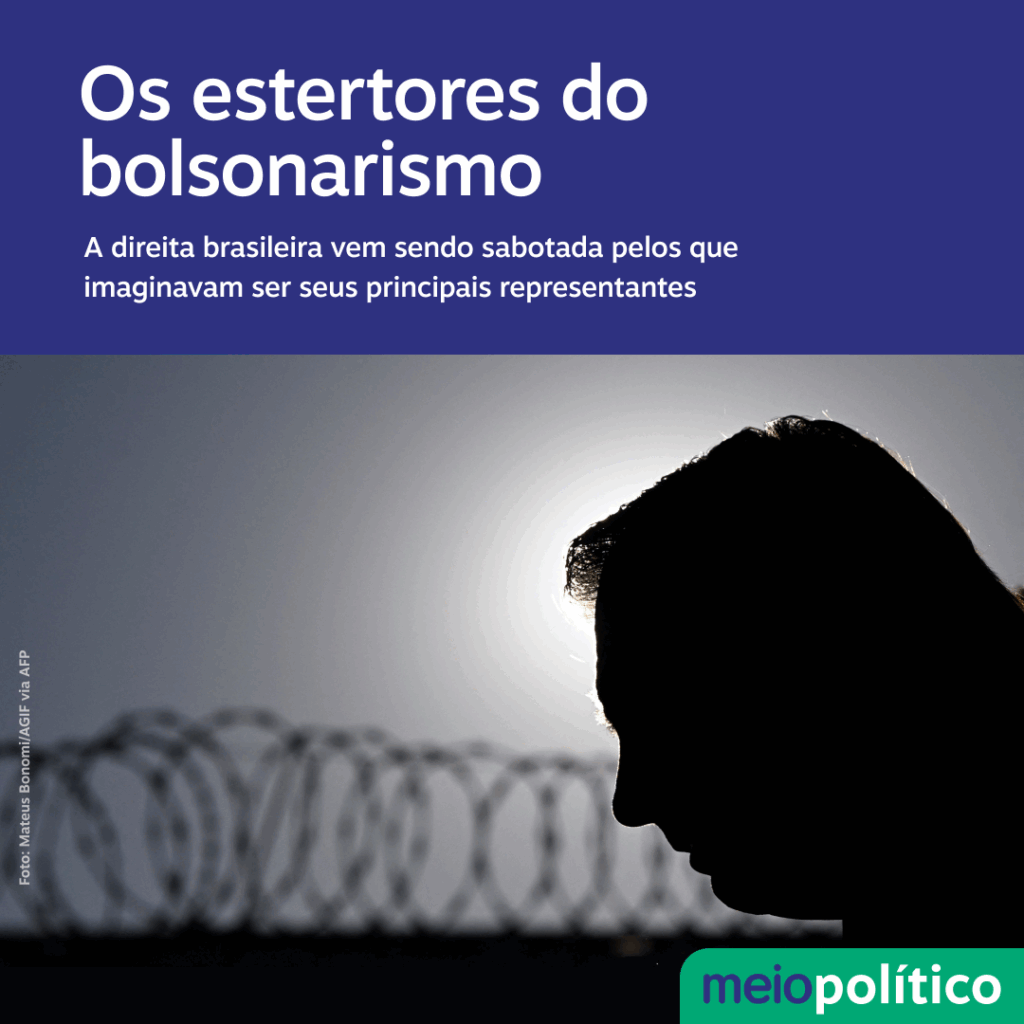Os estertores do bolsonarismo
Receba as notícias mais importantes no seu e-mail
Assine agora. É grátis.
Não será simples aos futuros historiadores compreender o bolsonarismo como fenômeno político e social brasileiro no limiar da década de 2020. Há nele algo simultaneamente ridículo, trágico e farsesco, que marcou não apenas o retorno da direita assumida, mas o reaparecimento de uma extrema-direita que a sociedade civil democrática julgava ter sido sepultada junto com a degradação final da ditadura militar.
A alternância entre conservadores, liberais e socialistas é constitutiva da democracia: conforme as circunstâncias, o eleitorado reage reforçando ordem, liberdade ou igualdade. O que singularizou o bolsonarismo foi a crise de representatividade do sistema inaugurado em 1988 — a erosão do presidencialismo de coalizão, a saturação da maré progressista dos anos 1990 e 2000 e a simultânea crise global da última onda de globalização. A direita, reduzida ao silêncio desde meados dos anos 1990, voltou a tomar forma num ambiente de descrédito das instituições.
Sem lideranças conservadoras carismáticas dentro do sistema político, a direita ressurgiu à margem dele, numa modalidade reacionária, difusa, disruptiva e anti-institucional. Não foi um renascimento organizado, como o progressismo durante a ditadura, que combinava grupos antigos e novos sob instituições e movimentos sociais. Ao contrário: surgiu sem partidos, sem enraizamento social, sem continuidade com o conservadorismo histórico brasileiro — articulada quase exclusivamente pelas redes sociais. A ausência de estrutura impediu o surgimento de lideranças orgânicas, abrindo espaço para que Bolsonaro ocupasse o vácuo como símbolo improvisado dessa nova direita.
O bolsonarismo jamais atingiu a densidade, capilaridade ou solidez do lulismo
Desde cedo, seus apoiadores tentaram vendê-lo como um “Lula de direita” — uma inversão caricata, reforçada pela incapacidade dos setores conservadores mais radicais de imaginar algo diferente da restauração de um passado idealizado. Essa estratégia imitativa nunca rendeu frutos: o bolsonarismo jamais atingiu a densidade, capilaridade ou solidez do lulismo. Foi espuma: um rótulo carismático para um movimento sem ossatura.
Bolsonaro nunca possuiu estofo de liderança. Não comandou nada, não formulou nada, não projetou nada. Foi sempre um deputado reacionário, histriônico, sem ideias, sem preparo, sem experiência administrativa, que construiu notoriedade explorando o reacionarismo como meio de enriquecimento pessoal e familiar. Tornou-se um fenômeno midiático, fabricado por influenciadores da ultradireita como “lacrador” irresponsável e debochado, cuja função era tensionar a ordem democrática, não construir alternativa para ela.
Isso não significa que parte do eleitorado não buscasse representação legítima de valores conservadores. Buscava — e encontrou em Bolsonaro um para-raios, não um líder. Mas ele foi um catalisador ruim: jamais correspondeu aos próprios valores que dizia encarnar. Foi mau pai, mau marido, mau cidadão, envolvido com criminosos, volúvel em religião, desprovido de integridade moral — um embuste para os que desejavam conservadorismo sério.
Eleito numa conjuntura excepcional — típica das crises de representação que o Brasil vive a cada trinta anos —, catalisada ainda pela Lava Jato e pela retirada do candidato mais competitivo, Bolsonaro governou sem programa, sem direção, sem projeto, limitando-se à destruição simbólica preguiçosa do existente. Seu governo foi uma combinação de despreparo, irresponsabilidade, histrionismo, autoritarismo e incompetência.
Organizou um governo familiar, doméstico, regido por lealdades privadas, sustentado por filhos, parentes, policiais de baixa patente, militares ressentidos e milicianos. Eram amadores que acreditavam poder governar por WhatsApp, ignorando instituições e constrangendo tribunais e o Congresso. Depois tiveram de aceitar militares mais graduados e, por fim, o próprio sistema político que desprezavam. Mesmo assim, com todos os instrumentos de poder, não conseguiram criar sequer um partido próprio. Derrotados nas urnas, tentaram prolongar seu governo por meio de um golpe de Estado.
Numa conjuntura normal, Jair, Flávio, Eduardo e Michelle seriam políticos provincianos de terceira linha
Atribuir a derrocada do clã à perseguição institucional é ignorar a combinação de arrogância e incapacidade que sempre o caracterizou. Sem qualidades intelectuais ou morais, confundiram acaso com destino e acreditaram-se predestinados. Numa conjuntura normal, Jair, Flávio, Eduardo e Michelle seriam políticos provincianos de terceira linha. A conjuntura os elevou; o fim da conjuntura os devolveu ao que sempre foram: um clã disfuncional, interesseiro e inepto, cuja vocação é criar confusão, não governar.
A direita institucional — o Centrão — jamais aceitou sua liderança. Quer apenas apropriar-se do seu capital eleitoral para lançar um candidato próprio, enquanto deixa a família retornar ao esquecimento. O clã, incapaz de reconhecer a natureza acidental de sua ascensão, insiste em preservar sua centralidade e, a cada tentativa, produz mais uma trapalhada: tentativas risíveis de golpe, apelos estrangeiros, fugas, bravatas digitais — sempre movimentos grandiosos seguidos por fracassos proporcionais.
É assim que se define o quadro eleitoral do próximo ano no campo da direita: o clã Bolsonaro tenta garantir lugar na chapa; o establishment quer excluí-lo. A família deseja anistia e indulto sem oferecer nada em troca além da velha arrogância. Se o processo seguir assim, a direita chegará dividida — ou carregará um Bolsonaro, que preferirá ser derrotado a ceder lugar a quem não pertença ao clã. Como observei no início, não será simples aos historiadores explicar como a ressurreição da direita brasileira foi sabotada pelos que imaginavam ser seus principais representantes.