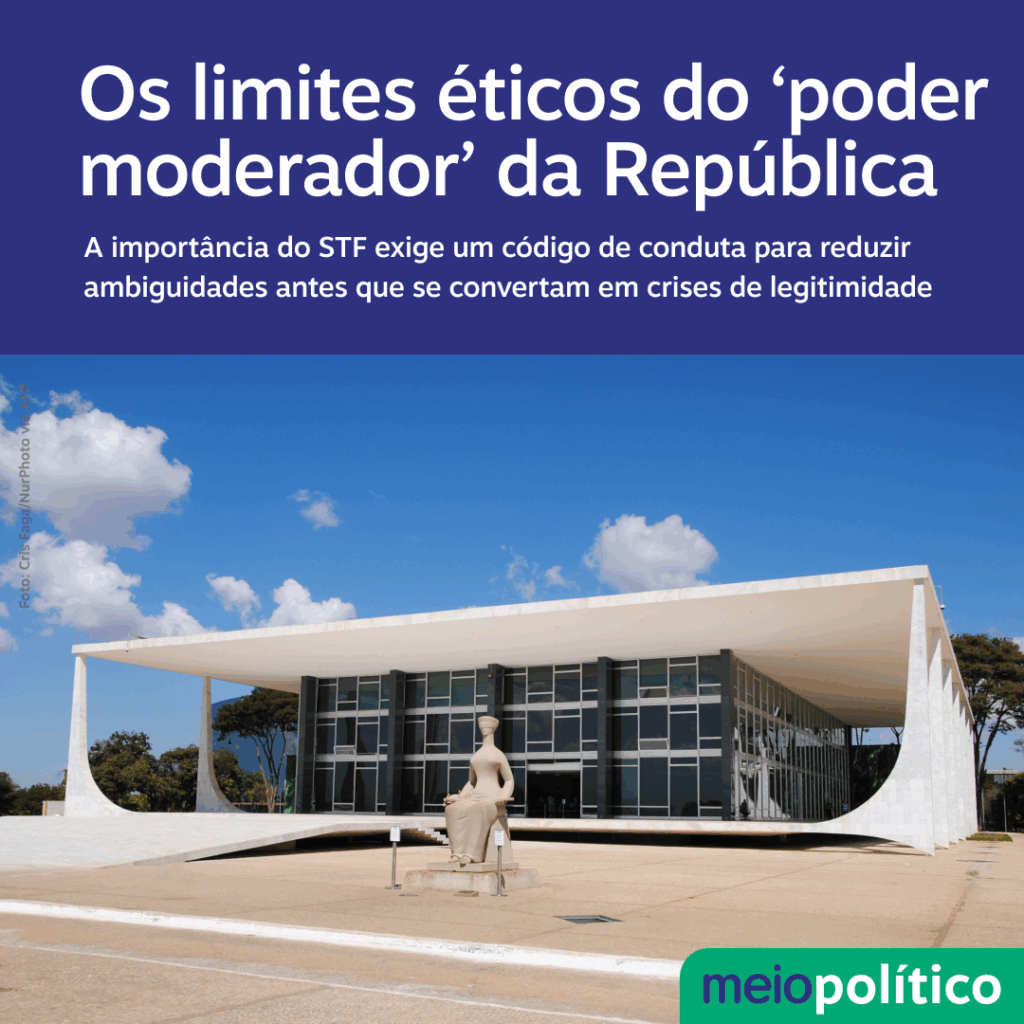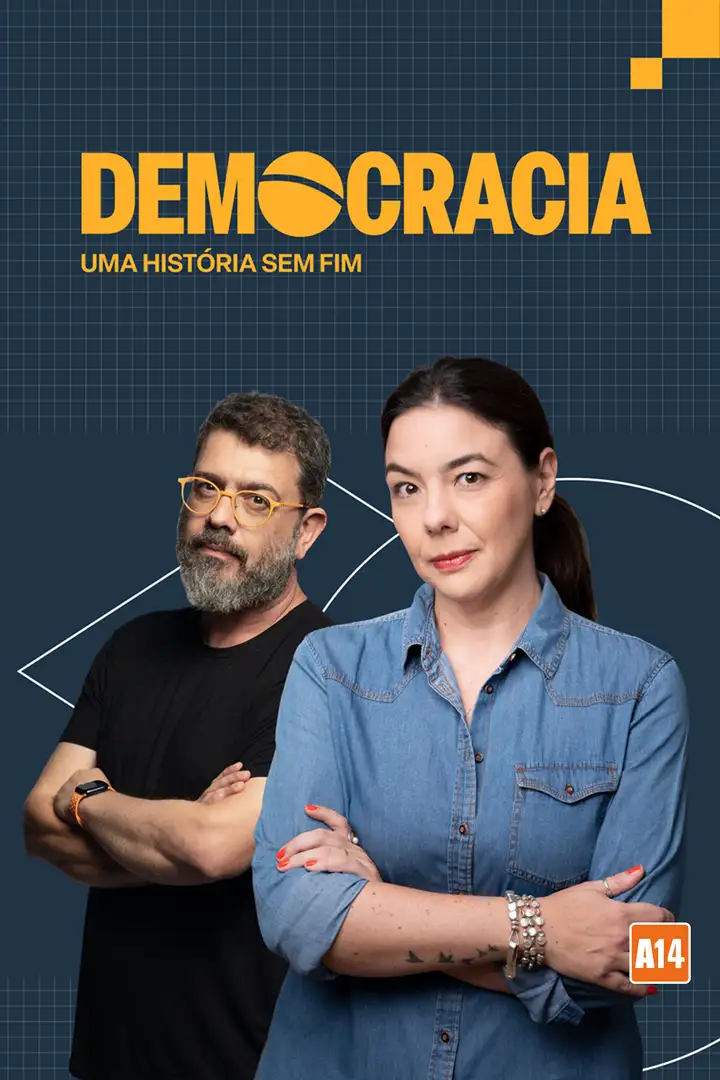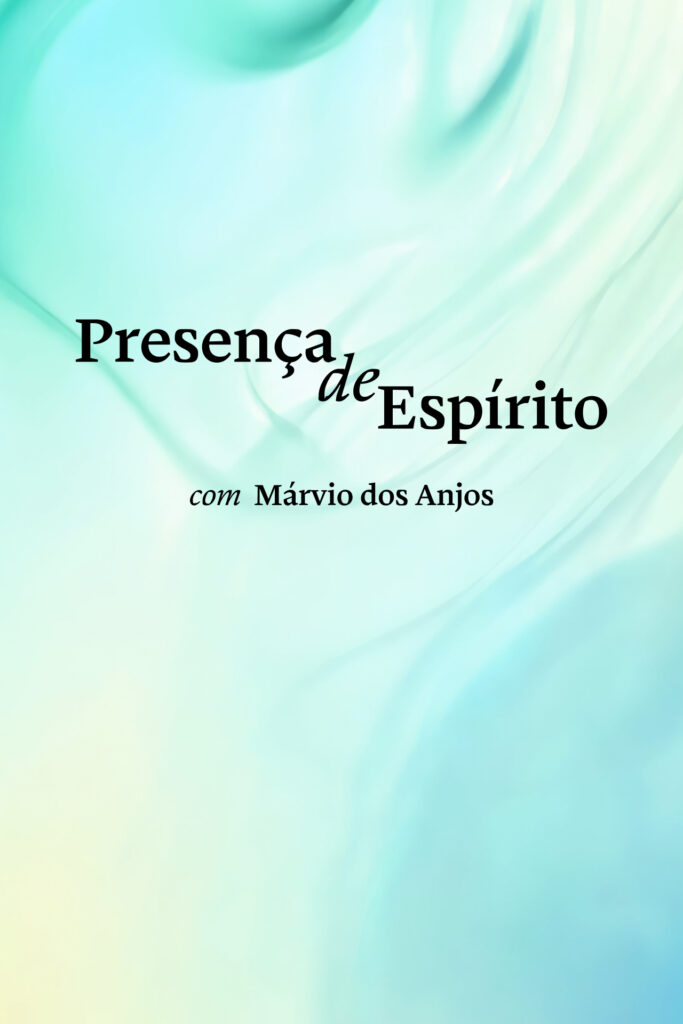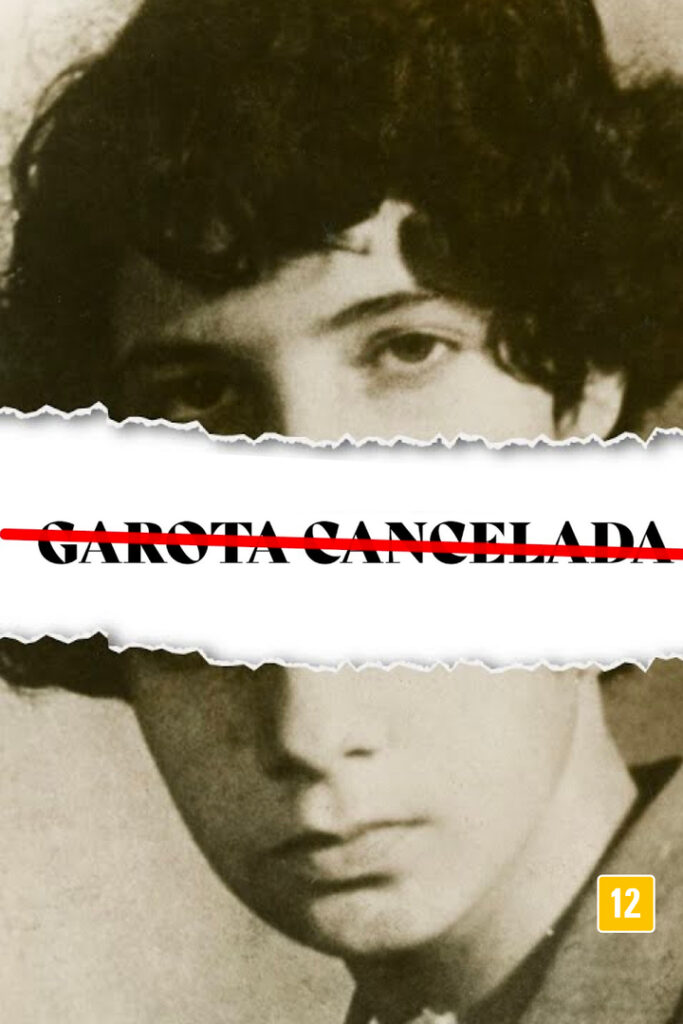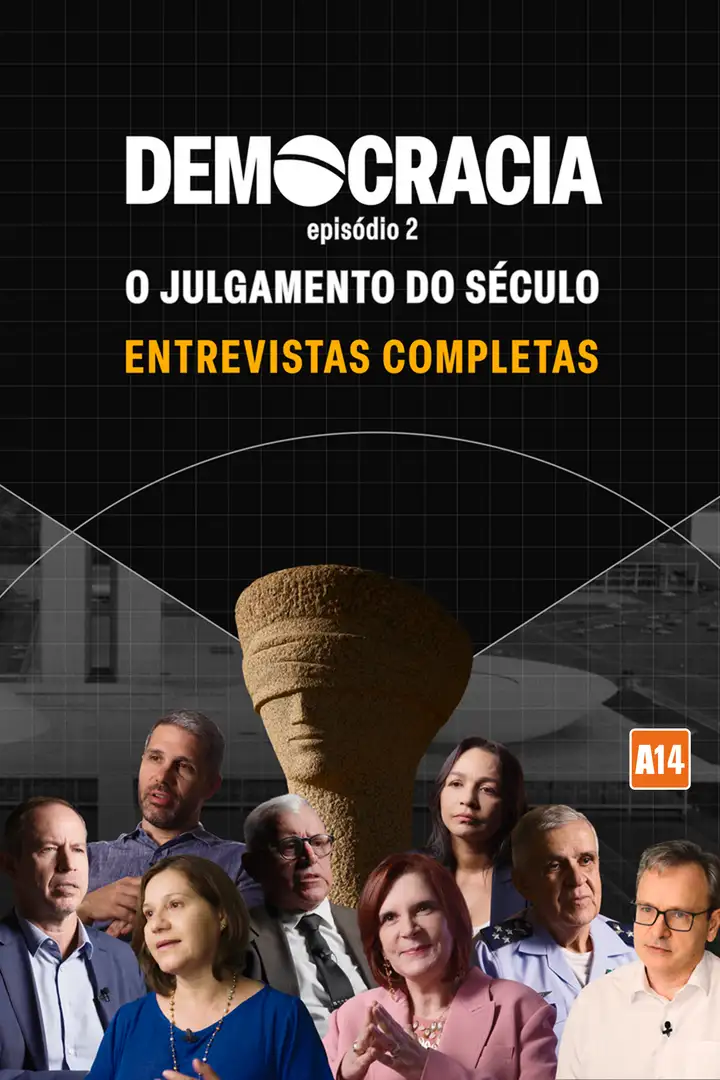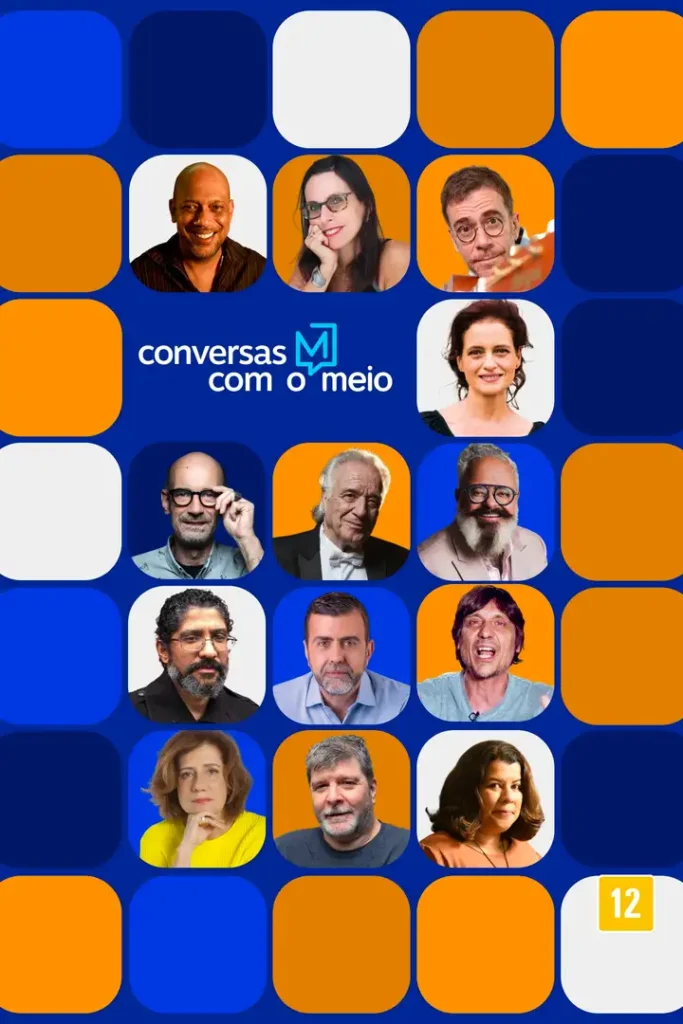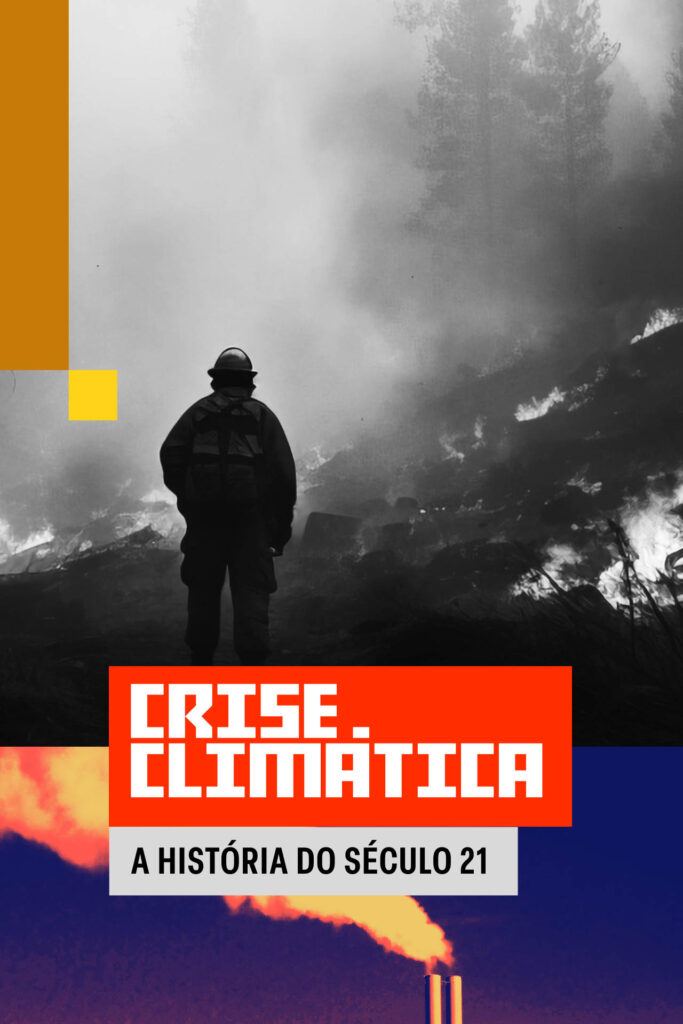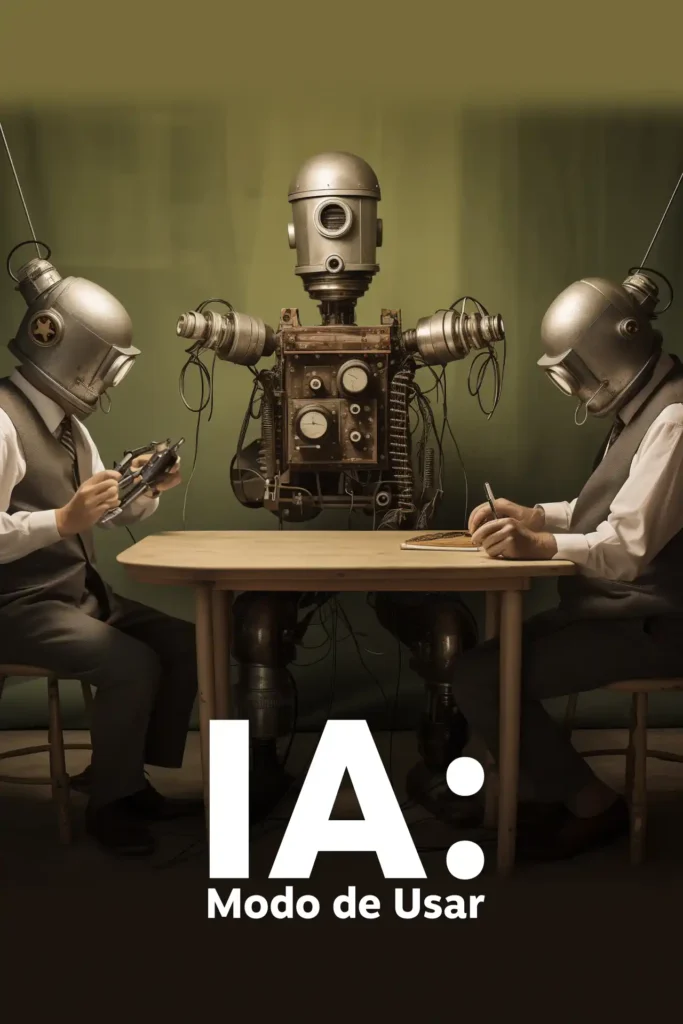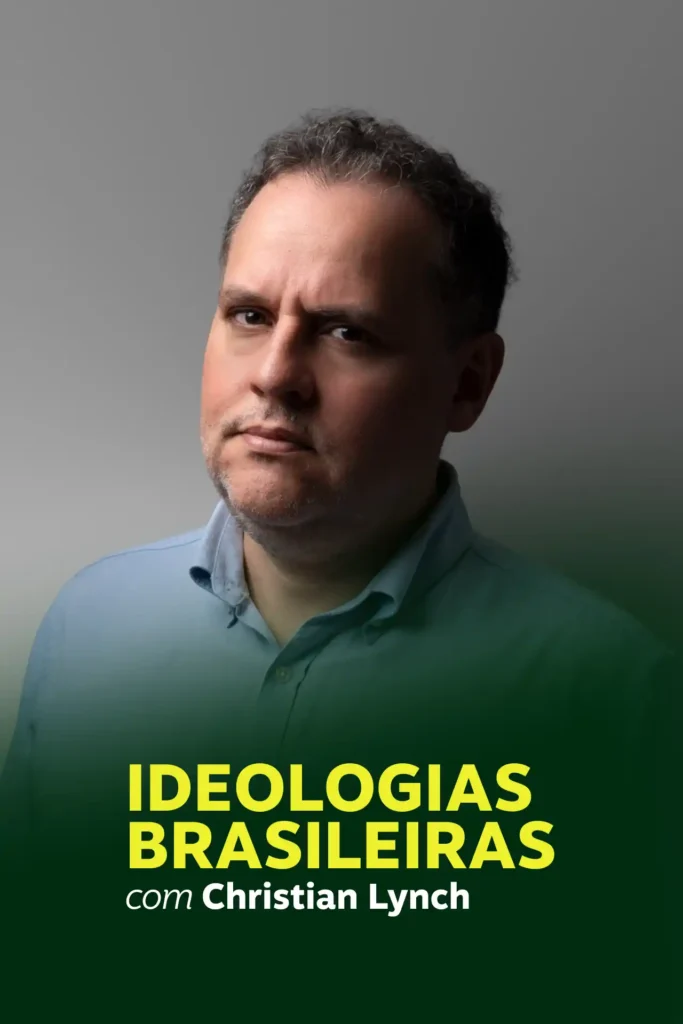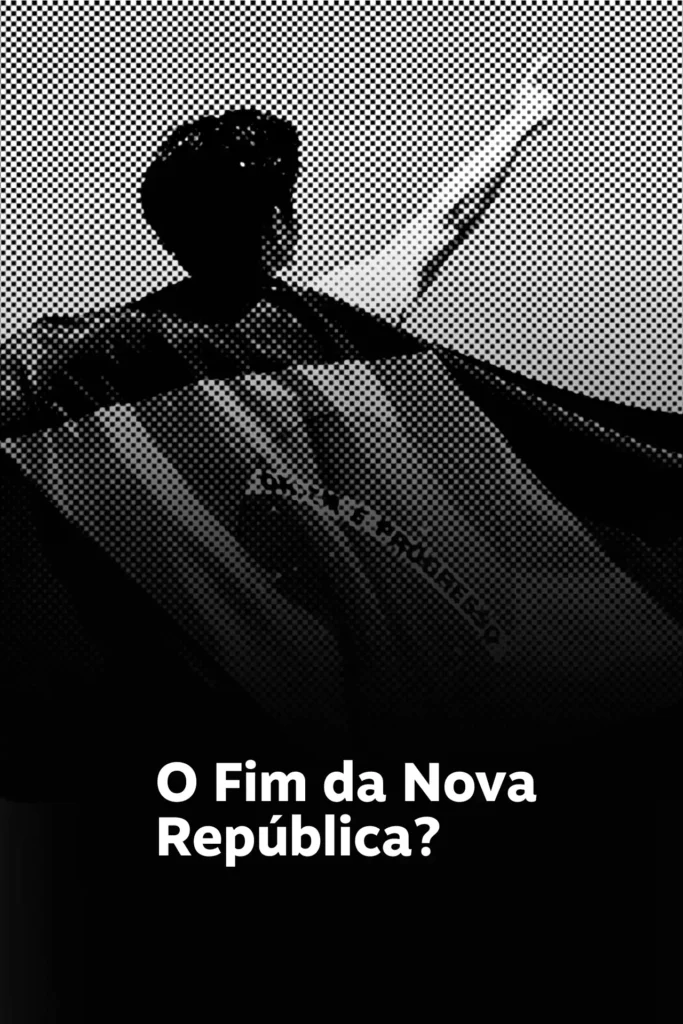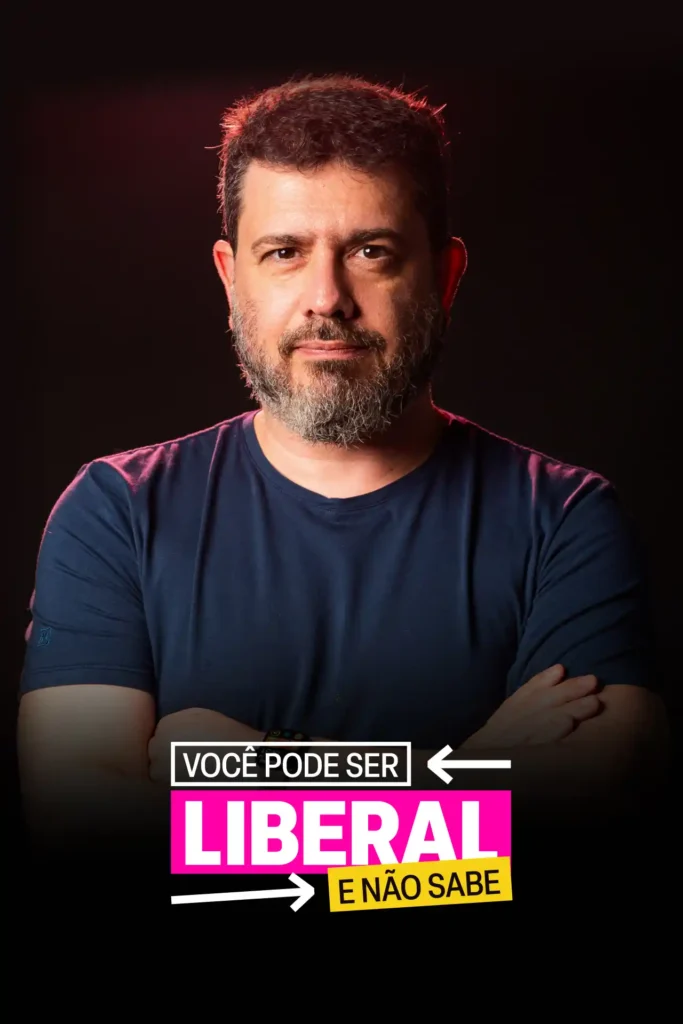Recua, fascista, recua! A universidade e a intolerância com virtude

Receba as notícias mais importantes no seu e-mail
Assine agora. É grátis.
O paradoxo antipoperiano da tolerância universitária é que supostamente em nome da democracia, muitos estão dispostos a suspender os princípios democráticos... dos outros.
Nos últimos dias, dois episódios de agressão em universidades públicas brasileiras voltaram a alimentar um velho e perigoso padrão: a naturalização da violência política por parte daqueles que se dizem guardiões da democracia. Jovens conservadores visitaram campi da UFF e da UFMG com uma proposta performática conhecida: filmar pichações, slogans ideológicos, banheiros degradados e intervenções partidárias “monoideológicas” no espaço público universitário. A intenção explícita era denunciar o que consideram a degradação dos espaços públicos sob hegemonia da esquerda estudantil, a mais absoluta falta de pluralismo ideológico ou neutralidade partidária na vida acadêmica, a crescente intolerância, na universidade pública, à presença de ideias e pessoas conservadoras, de direita ou economicamente liberais.
Provocação? Sem dúvida. Manipulação performática para produzir vídeos virais? Também. Aliás, muitos grupos fazem isso sistematicamente desde 2016. O MBL, por exemplo, notabilizou-se por essas práticas de assédio e denúncia, copiadas de programas de sucesso na televisão e na internet inspirados no mesmo método de importunação, provocação e ridicularização de políticos e celebridades, como o CQC (2008–2015) e o Pânico na Band (2012–2017).
Mas isso basta para legitimar a agressão física? Para muitos, sim. Os vídeos mostram que, ao fim das visitas, os intrusos foram expulsos sob empurrões, gritos e até agressões físicas por parte de estudantes de esquerda. Em resposta, publiquei posts criticando os atos de violência e chamando a atenção para o risco que eles representam não apenas para a imagem das universidades, mas para a própria saúde do debate democrático.
O que veio em seguida foi, na verdade, o principal sintoma do problema. Em dezenas de comentários recebidos, o padrão se repetia com clareza: a violência é compreendida como legítima e até heroica; os conservadores que entraram no campus foram imediatamente rotulados como “fascistas”; sua presença foi tratada como ilegítima; agredi-los foi entendido como uma forma superior de justiça. O que me impressionou não foi a radicalização de alguns — sempre esperável —, mas o consenso moral em torno da ideia de que certos grupos não devem ter o direito de estar na universidade, nem como pessoas físicas, nem como representantes de ideias; de que apanharam foi pouco; de que tratá-los com tolerância seria uma atitude ingênua, patética e ineficaz. Fogo nos fascistas!
É esse consenso que exige atenção. Ele se estrutura sobre duas crenças perigosas. A primeira é que a universidade pública é, por essência ou por conquista histórica, um território exclusivo da esquerda e dos progressistas, onde ideias conservadoras, direitistas ou economicamente liberais não têm legitimidade e devem ser expulsas. A segunda é que, uma vez rotulado como “fascista”, o outro deixa de ser um interlocutor político para se tornar um inimigo moral, passível de supressão física e simbólica. E se alguém ousa lembrar que ainda estamos em uma democracia, responde-se com sarcasmo ou desprezo: “fascismo não se debate, se combate”.
Essa lógica precisa ser desmontada. E o primeiro passo para isso é reconhecer o erro categorial de chamar de “fascistas” todos os que incomodam, provocam ou se opõem à hegemonia progressista nas universidades. Isso me lembrou uma frase irônica que circula como meme político na internet: Everyone I Don’t Like Is Hitler. Aqui no Brasil, todo mundo que a esquerda não suporta vira imediatamente “fascista”. Nos Estados Unidos de Trump, “terrorista” serve à mesma função.
Como mostram Lloyd Cox e Brendon O’Connor no artigo recente Trumpism, Fascism and Neoliberalism, o fascismo histórico — tal como se desenvolveu na Europa nas décadas de 1920 e 1930 — não é um sinônimo retórico para “direita”, nem um apelido moral para adversários. É um fenômeno complexo, com elementos mínimos identificáveis: um projeto nacionalista radical de “renascimento” (palingenesia), a recusa frontal da democracia liberal, o culto ao líder carismático, o partido de massas com vocação totalitária e, sobretudo, a organização de milícias ou esquadrões de rua que praticam violência de forma sistemática e organizada contra adversários políticos, sindicais e intelectuais.
A ausência desse último elemento — a violência organizada “de baixo para cima”, típica dos camisas-negras italianos, das SA e SS alemãs e das falanges espanholas — já seria suficiente para desqualificar como “fascista” a atuação dos provocadores de direita. Lembremos que isso não era brincadeira. A SA chegou a ter 3 milhões de membros em seu auge, por volta de 1933–1934, pouco antes da chamada Noite das Facas Longas. Não há entre esses provocadores — em geral produtores de conteúdo de direita buscando um lugar ao sol na próxima competição eleitoral — bandos paramilitares capazes de vandalismo físico, destruição de patrimônio ou ataques organizados. Ao contrário: sua estratégia é expor a hostilidade alheia. São oportunistas, grosseiros e manipuladores, mas não fascistas.
Eles provocam, filmam e mostram que estudantes, políticos e autoridades de esquerda reagem de forma agressiva e intolerante, ao contrário de sua defesa intransigente, hipócrita e puramente verbal do pluralismo e da tolerância. O objetivo é confirmar a narrativa de que a universidade pública virou feudo ideológico intolerante, um antro de reprodução de esquerdistas e autoritários desconectados do pluralismo da sociedade — e violentamente avesso a ele. E, infelizmente, os vídeos demonstram exatamente isso.
Fascismo não é qualquer conservadorismo performático, nem qualquer populismo digital, nem qualquer retrocesso de costumes
Outro artigo recente, de Harris et al. (2017), Trump and American Fascism, complementa esse diagnóstico ao mostrar que, mesmo quando há pulsões autoritárias em lideranças populistas contemporâneas, é preciso resistir à tentação de usar “fascismo” como categoria coringa. Fascismo não é qualquer conservadorismo performático, nem qualquer populismo digital, nem qualquer retrocesso de costumes. Trata-se de uma forma histórica específica de reorganização da política e da sociedade — que inclui mobilização de massas, captura do Estado, eliminação da oposição e uso sistemático do terror. Usar o termo fora desses parâmetros é não apenas um erro analítico: é um gesto de empobrecimento político que serve à intolerância travestida de vigilância moral. É como usar a palavra “terrorista” para todo e qualquer ato de vandalismo — ou, como faz Trump, para qualquer divergência política. Se tudo é fascismo, nada é.
Mas não é apenas a história que denuncia esse erro. A teoria democrática também nos oferece critérios. No clássico artigo The Structure of Attitudinal Tolerance in the United States (1989), James L. Gibson demonstra que a verdadeira tolerância política consiste na disposição de garantir direitos civis e políticos àqueles que se considera errados, ofensivos ou mesmo detestáveis. Ou seja, não basta defender a liberdade de expressão para amigos, aliados ou grupos simpáticos. A democracia só se sustenta quando os direitos são estendidos aos indesejáveis — desde que não violem as leis. O que define a tolerância, diz Gibson, não é a simpatia, mas a recusa em negar direitos com base em repulsa subjetiva.
É exatamente isso que está em jogo quando se rotula um adversário de “fascista” sem que ele preencha qualquer dos critérios históricos ou teóricos da categoria. A rotulagem funciona como atalho para a suspensão dos direitos civis: se é fascista, não deve estar aqui; se é fascista, não tem direito à fala; se é fascista, pode ser expulso a tapas. Como mostra Gibson, esse padrão de intolerância política segue três etapas: 1) identificação de um grupo com base em antipatia; 2) percepção moralizada de ameaça; 3) retirada de direitos em nome da autopreservação.
Outro artigo, de Barnum e Sullivan, Attitudinal Tolerance and Political Freedom in Britain (1989), amplia essa análise ao mostrar que sociedades democráticas muitas vezes toleram mal seus dissidentes, sobretudo quando o grupo detestado é o mesmo para muita gente. A isso eles chamam “intolerância concentrada”: quando a maioria passa a rejeitar o mesmo grupo, aumenta a aceitação de medidas repressivas, mesmo entre cidadãos democratas. É assim que nascem consensos perigosos: quando a intolerância se torna confortável, até virtuosa.
O paradoxo é que, nesse contexto, a própria defesa da democracia se perverte. Em nome da democracia, grupos se sentem autorizados a suspender os princípios que a sustentam. Em nome do antifascismo, permitem-se comportamentos miméticos ao que condenam: exclusão, silenciamento, violência. Em nome da tolerância, produzem zonas de exclusão política. E em nome do pluralismo, constroem hegemonias intolerantes que não admitem a presença de ideias divergentes — mesmo que legitimadas por milhões de votos.
Porque é preciso lembrar: a nova direita — com todas as suas distorções e retrocessos — não é um fenômeno clandestino ou insignificante. Ela venceu eleições, organiza partidos, forma opinião pública, mobiliza setores inteiros da sociedade. Reduzir tudo isso a “fascismo” não apenas obscurece a análise, como impede qualquer resposta democrática. Em vez de estratégias políticas, surge a pancadaria; em vez de argumentos, a repressão moral; em vez de reconhecer o adversário como sujeito político, nega-se sua humanidade política.
O pluralismo não é um favor que se faz ao adversário. É a condição da democracia
Não se trata aqui de defender provocadores oportunistas em busca de cliques e um lugar ao sol na nova onda eleitoral da extrema direita. Trata-se de defender os fundamentos normativos da vida democrática. O pluralismo não é um favor que se faz ao adversário. É a condição da democracia. E a violência, mesmo quando aplicada contra quem se considera desprezível, não é um gesto de virtude — é um passo em direção à barbárie.
A universidade pública brasileira, por sua história e vocação, deveria ser o espaço onde mais se cultiva a razão pública, o debate qualificado e a convivência com a diferença. Quando ela se torna terreno de caça aos “inimigos da causa”, e quando cada discordância vira pretexto para expulsão sumária, ela deixa de ser universidade. Vira trincheira. Vira parquinho ideológico. Vira o avesso do que diz defender.
A luta contra o autoritarismo — de ontem ou de hoje — se faz com mais democracia, não com a paródia dela. Se a esquerda universitária não entender isso, acabará cedo ou tarde entregando nas mãos de seus inimigos aquilo que diz proteger: a legitimidade da universidade, o valor da tolerância e a promessa da democracia.
E onde os complacentes defensores da intolerância e da violência contra intrusos de direita — que ousaram invadir o território que esquerdistas e identitários consideram exclusivamente seu — veem heroicos revolucionários, a direita conservadora, que acumula votos e mandatos, vê cavalgaduras que algum Nikolas Ferreira ou assemelhado usará em sua marcha rumo à Presidência. E se nem as universidades privadas americanas resistiram ao garrote de Trump, imaginem as nossas, que dependem integralmente da fazenda pública nacional.
******
Referências
Barnum, D. G., & Sullivan, J. L. (1989). Attitudinal tolerance and political freedom in Britain. British Journal of Political Science, 19(1), 136–146.
Cox, L., & O’Connor, B. (2025). Trumpism, fascism and neoliberalism. Thesis Eleven, 174(1), 72–89.
Gibson, J. L. (1989). The structure of attitudinal tolerance in the United States. British Journal of Political Science, 19(4), 562–570.
Harris, J., Davidson, C., & Edelman, M. (2017). Trump and American fascism. Critical Sociology, 43(6), 967–980.