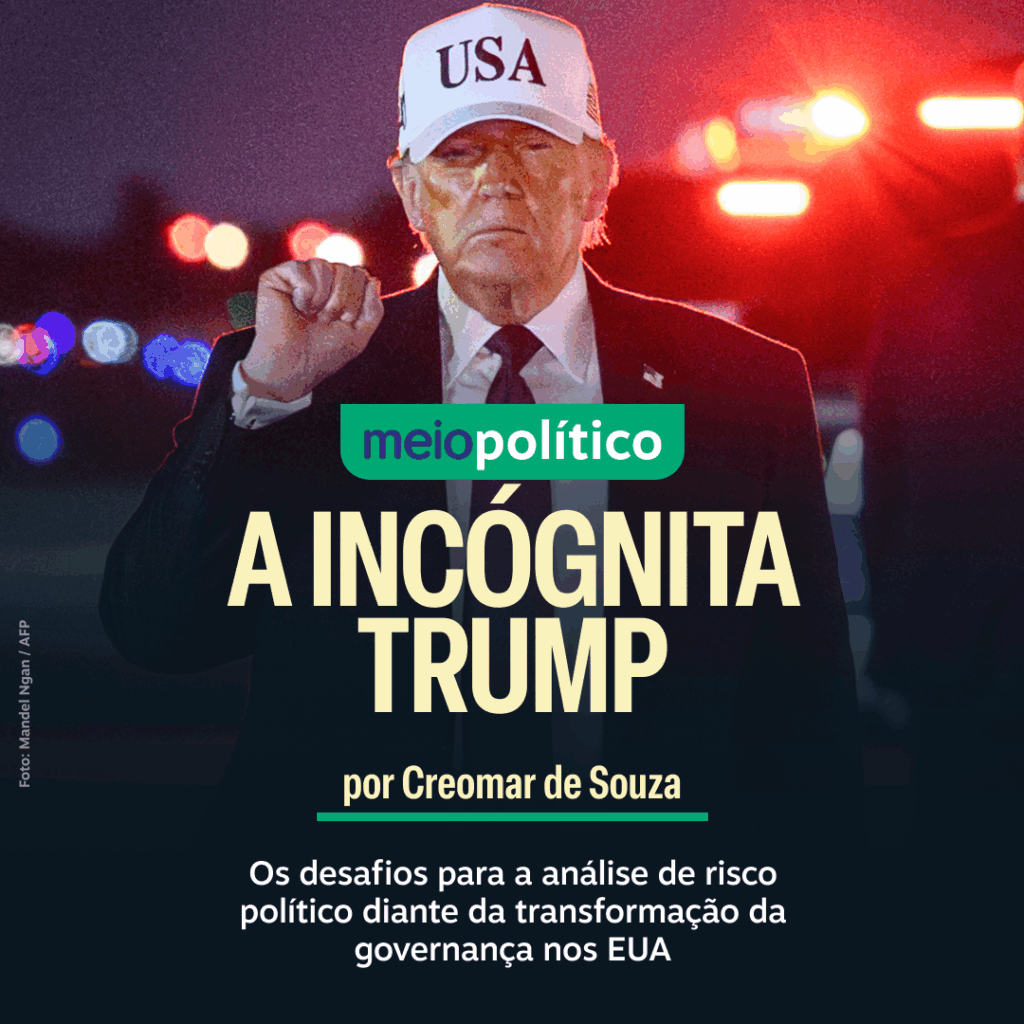Dinheiro e democracia

Receba as notícias mais importantes no seu e-mail
Assine agora. É grátis.
Quando a principal fonte de receita de um partido vem do Estado, a lógica de prestação de contas tende a se distanciar do eleitorado
A democracia tem um custo financeiro pago direta ou indiretamente pela sociedade. Mas a democracia também possui um conjunto de valores e ideais. Essas duas dimensões se misturam quando falamos da relação entre dinheiro e política. Essa mistura nem sempre se dá de forma clara, muitas vezes a relação entre os recursos envolvidos e o exercício da representação política ocorre de forma sórdida ou dúbia. Financiar a política é, simultaneamente, uma prática necessária e um problema a ser enfrentado.
O financiamento político-partidário ocupa uma posição central no funcionamento das democracias contemporâneas: viabiliza campanhas eleitorais, sustenta a estrutura organizacional dos partidos e influencia diretamente a dinâmica da competição política. Ao mesmo tempo, o desenho institucional do sistema de financiamento é capaz de gerar incentivos ou desincentivos para a participação popular e para a manutenção de vínculos sólidos entre representantes e suas bases eleitorais. Em outras palavras, a forma como os recursos são arrecadados e distribuídos não é apenas uma questão administrativa ou contábil, mas um componente estruturante da qualidade da democracia.
No Brasil, o debate sobre o tema ganhou força nas últimas duas décadas, impulsionado por denúncias de corrupção, mudanças legislativas e decisões judiciais que alteraram significativamente a forma de financiar partidos e campanhas. A criação do Fundo Partidário, em 1995, e a regulamentação das doações empresariais após o escândalo de corrupção envolvendo a eleição de Fernando Collor de Mello, em 1989, marcaram o primeiro posicionamento da jovem democracia brasileira nessa questão. Em 2015, a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que proibiu o financiamento empresarial representou um ponto de inflexão nesse processo, vedando a participação de empresas e ampliando o papel dos fundos públicos como o Fundo Partidário e o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas (FEFC) e das doações de pessoas físicas.
A quantidade de mudanças no sistema de financiamento brasileiro, sejam promovidas pelo Legislativo ou pelo Judiciário, aponta o grau de ineficácia com o qual temos convivido nos últimos anos. As práticas adotadas dificilmente conseguem atingir os objetivos previstos e novas medidas são colocadas para corrigir problemas criados pelas anteriores. Um emaranhado de pequenos incentivos multidirecionais e contraditórios resulta do arranjo legal provido pela regulação do dinheiro em campanhas eleitorais e nos partidos políticos.
O fim das doações de pessoas jurídicas, por exemplo, buscou reduzir a influência desproporcional de grandes corporações e prevenir a captura do processo político por interesses econômicos específicos. Os votos favoráveis à proibição basearam-se na tese de que o financiamento empresarial interfere indevidamente nas eleições, violando o princípio da isonomia e comprometendo o regime democrático. Por outro lado, os efeitos da decisão do STF sobre a participação cidadã no financiamento político-partidário e sobre a conexão dos representantes com suas bases eleitorais ainda são objeto de debate na literatura especializada. Lembrando que a medida foi estabelecida pela corte judicial máxima do país, e que o Legislativo não teve maioria para aprovar a vedação das doações empresariais.
O Brasil adota atualmente um sistema híbrido, mas fortemente concentrado em recursos públicos. Dados das eleições de 2022 mostram que cerca de 80% do total dos fundos para campanhas eleitorais tiveram origem no Fundo Especial de Assistência Eleitoral e de Campanhas (FFEC) e Fundo Especial de Assistência Partidária (o Fundo Partidário). A distribuição desses recursos segue critérios que favorecem partidos com maior representação congressual, respeitando a proporcionalidade de votos recebidos para a Câmara dos Deputados, reforçando o peso das legendas consolidadas e, segundo críticos, limitando as chances de renovação política. Soma-se a isso o fato de apenas partidos que cumpram o desempenho mínimo definido pela cláusula de desempenho terem acesso ao Fundo Partidário e à Propaganda Eleitoral Gratuita no Rádio e na Televisão, e que a decisão sobre a alocação interna dos recursos é centralizada nas direções partidárias, reduzindo a autonomia de candidatos e, potencialmente, sua responsabilidade direta perante os eleitores.
No campo da ciência política, há consenso de que o financiamento político não é neutro: ele molda o comportamento dos atores e influencia padrões de representação.
Quando a principal fonte de receita de um partido vem do Estado, a lógica de prestação de contas tende a se distanciar do eleitorado, o que pode enfraquecer os mecanismos de responsividade, entendida como a capacidade de representantes responderem às demandas e preferências de seus eleitores. Além disso, quando o representante não sabe quais são as pessoas que contribuem com seu sucesso político, é muito difícil que se estabeleçam laços de lealdade entre voto e mandato, relegando ao eleito autonomia e flexibilidade que atende apenas a interesses egoístas.
Os efeitos da mudança
Se, por um lado, a chance de reeleição de políticos estabelecidos continua alta e constante — políticos com mandato possuem 12,5 vezes mais chances de se elegerem se comparados com desafiantes, por outro, a quantidade de escândalos de corrupção que temos presenciado na última década não desvaneceu. A percepção sobre a corrupção no país piorou nos últimos anos. Conforme levantamento do V-Dem, tivemos uma queda na percepção durante os anos de 2014 a 2020, com o índice voltando a subir. Segundo a Transparência Internacional, o Brasil ocupa uma das últimas posições mundiais, abaixo de países vizinhos como Chile, Colômbia, Uruguai, Argentina, mas também de Ucrânia, Indonésia e África do Sul. Ou seja, há uma percepção generalizada de que a classe política brasileira está longe de ter um comportamento transparente e honesto.
Apesar dessas discussões, a maior parte dos estudos se concentra na análise de corrupção e abuso de poder econômico, deixando em segundo plano a investigação sobre como o arranjo institucional impacta a mobilização popular e o enraizamento social dos partidos. Essa lacuna é particularmente relevante em um contexto de crescente distanciamento entre sociedade e instituições políticas, evidenciado por altos índices de desconfiança no Congresso e pelos baixos níveis de engajamento formal da população.
Dados do Índice de Confiança Social apresentado pela IPSOS-IPEC em julho de 2025 mostram que os brasileiros possuem quase nenhuma confiança nos partidos políticos e no Congresso Nacional. Numa escala de 0 a 100, os primeiros atingiram apenas 32 pontos e o Congresso 37 pontos, comparando com a instituição mais confiável do país, o Corpo de Bombeiros com 85 pontos, o valor é bastante baixo.
O financiamento político-partidário no Brasil passou por mudanças significativas nas últimas décadas, refletindo as tensões entre diferentes concepções de democracia, padrões de competição eleitoral e estratégias de controle do abuso de poder econômico.
Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que, nas últimas eleições gerais antes da proibição do financiamento empresarial, aproximadamente 74% dos recursos arrecadados para campanhas eleitorais tiveram origem em contribuições de pessoas jurídicas, enquanto as doações de pessoas físicas corresponderam a menos de 10% do total. Essa concentração gerava preocupações recorrentes sobre a influência desproporcional de grandes corporações nas decisões políticas, fomentando o risco de “captura regulatória” e comprometendo a percepção de integridade do processo eleitoral.
Em 2015, o STF declarou as doações de pessoas jurídicas a partidos e candidatos como inconstitucionais. Como consequência da proibição no Brasil, a participação de doações de pessoas físicas e de financiamento público ganhou relevância. Contudo, essa mudança não resultou em um aumento expressivo das contribuições cidadãs. Dados do TSE indicam que a proporção de eleitores que realizam doações permanece extremamente baixa, e o peso proporcional não aumentou se comparado com o cenário anterior à proibição: em 2022, apenas 10,82% do total de receitas para todos os cargos em disputa teve origem de recursos privados de pessoas físicas.
Para compensar a perda de receita privada, o Congresso Nacional aprovou em 2017 a criação do FEFC, financiado com recursos do orçamento da União destinado exclusivamente ao custeio das campanhas eleitorais. Nas últimas eleições gerais, o FEFC foi abastecido com R$ 4,9 bilhões.
O que vimos recentemente é uma busca predatória por recursos estatais que têm moldado as estratégias de competidores em seus estados a fim de conquistar cadeiras das bancadas federais. Até 2014, quando abundavam os recursos privados, os candidatos dependiam da relação com financiadores e que esses financiadores pudessem manter relações com seus partidos para que os repasses de recursos de campanha fossem realizados. A partir de 2018, as disputas ocorrem com o financiamento de campanha predominantemente público. O efeito é que os candidatos passam a olhar os partidos como fontes de recursos disponíveis e traçam sua estratégia eleitoral para maximizar a captura de recursos públicos nos partidos disponíveis.
A ampliação do papel do Estado como provedor de recursos permitiu ao sistema brasileiro adotar instrumentos para fortalecer a equidade no acesso a recursos financeiros no processo eleitoral, sobretudo após decisões que obrigam a reserva de um percentual mínimo para mulheres e sua distribuição proporcional aos grupos raciais de candidatos. Contudo, ao não incorporar mecanismos robustos de estímulo à captação junto à base social, o modelo adotado no Brasil pode acabar por enfraquecer uma dimensão importante da democracia participativa: o engajamento cidadão no financiamento e no acompanhamento de campanhas.
O caso do PSDB recentemente é um exemplo dessa dinâmica. Um partido que conquistou a Presidência da República apenas seis anos após sua fundação e ocupou ininterruptamente o governo do estado mais importante da federação por 28 anos garantia sua sobrevivência fora do governo federal com cargos no nível subnacional. Quando o partido foi desalojado do governo de São Paulo pela onda à direita da política brasileira, não encontrou mais recursos que permitam oferecer guarida às disputas eleitorais futuras, viu sua bancada legislativa diminuir drasticamente e está no meio de negociações para fusões ou incorporações por outros partidos. É o destino de uma legenda que não possui uma base social sólida e depende prioritariamente de recursos do Estado para sobreviver.
O modelo brasileiro, tal como desenhado, parece não estimular a conexão orgânica entre partidos, candidatos e suas bases sociais.
A baixa mobilização financeira cidadã, a centralização interna e os critérios concentradores de distribuição de recursos públicos contribuem para um distanciamento representativo que afeta tanto a qualidade da democracia quanto a legitimidade percebida das instituições políticas. Ainda que tenhamos observado uma desconcentração na distribuição de recursos no último pleito, o controle centralizado e a captação estratégica não permitem que a relação com os eleitores se estreite.
Para os detentores de mandatos e as cúpulas partidárias que se beneficiam do modelo atual, em que os recursos estão garantidos e as decisões sobre a distribuição são discricionárias, a mudança representaria uma perda de poder e de autonomia. É pouco crível que deputados e senadores pautem o debate de mudanças que partam dessa perspectiva, mesmo que mantenham a magnitude de recursos públicos atualmente dedicados ao financiamento político-partidário.
O desafio político está em equilibrar os interesses de partidos grandes, que se beneficiam do modelo atual, e as pressões por maior democratização interna. A viabilidade política pode ser ampliada se as propostas forem apresentadas como complementares, ajustando incentivos para favorecer maior participação popular, sem substituir ou diminuir a base pública do modelo atual. O dilema, como sempre, é realizar mudanças que não beneficiam diretamente os parlamentares e que vão além do interesse egoísta dos mesmos. É possível, mas não provável, que nosso sistema caminhe na direção do estreitamento da ligação entre partidos, sociedade e representantes. Mas assim como a última reforma eleitoral aprovada em 2017, a esperança é que ao menos parte dos beneficiados — os maiores partidos — aja de forma a bloquear interesses promíscuos das legendas de aluguel, que buscam acumular recursos e amealhar eleitores e cadeiras em suas tentativas de busca de poder.
***
O artigo completo será publicado na edição de outubro do Journal of Democracy em Português, da Plataforma Democrática (Fundação FHC e Centro Edelstein de Pesquisas Sociais). As demais edições estão disponíveis