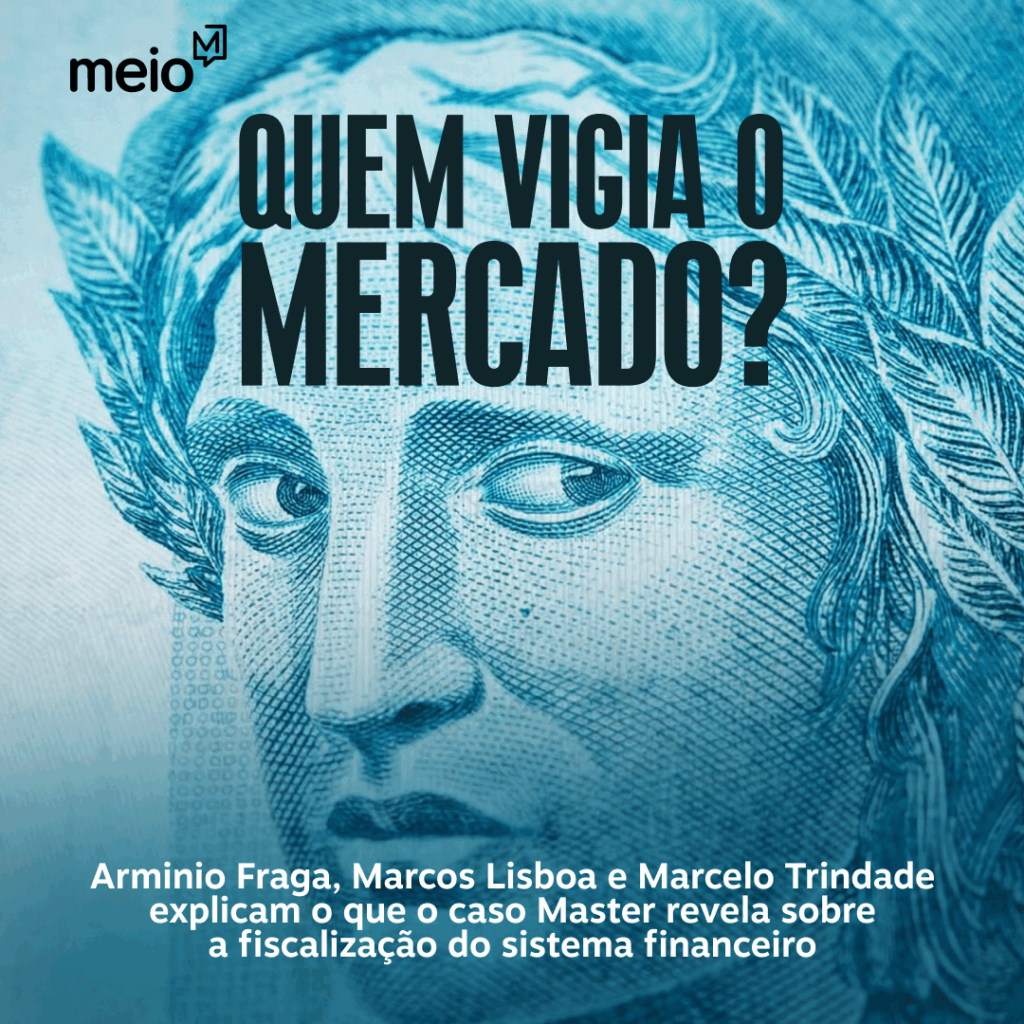Como começam as guerras civis

Receba as notícias mais importantes no seu e-mail
Assine agora. É grátis.
Políticas agressivas de Trump seguem um modelo de erosão das instituições democráticas que, por improvável que pareça, cria os elementos causadores de conflitos armados
Todo regime autoritário, para se constituir contra a legalidade que o limita, precisa antes suspender simbolicamente a normalidade. O expediente é conhecido: a invocação permanente de uma ameaça à segurança nacional, suficientemente difusa para não poder ser verificada, mas suficientemente insistente para justificar a exceção. É em nome dessa ameaça que se desloca o centro da autoridade, que se relativizam direitos e que a arbitrariedade se torna rotina. Não há ditadura que não se apresente, em seu nascedouro, como governo de salvação.
É essa lógica que estrutura o governo Trump. Não se trata apenas de um Executivo agressivo ou de um presidente personalista, mas da tentativa sistemática de instituir um regime de exceção durável, até aqui tolerado pelo Congresso e pela Suprema Corte. A legalidade não é formalmente abolida; ela é esvaziada por dentro, subordinada à narrativa de emergência permanente. Governa-se como se estivesse em guerra — ainda que essa guerra seja, em larga medida, uma construção política.
Como todo governo de exceção, esse regime se legitima pelo combate simultâneo a um inimigo externo e a um inimigo interno. Nenhum dos dois corresponde a uma ameaça objetiva à segurança americana. O inimigo externo é todo aquele que se interpõe ao projeto imperial da Casa Branca, voltado a garantir, pelas próximas décadas, a hegemonia militar, tecnológica e comercial dos Estados Unidos diante da ascensão da China. O inimigo interno, por sua vez, é todo aquele que resiste — em maior ou menor grau — à tentativa de reconstituir uma unidade cultural e moral imaginada, situada nos Estados Unidos da década de 1950: branca, cristã, masculina, hierárquica. A defesa de direitos passa a ser tratada como desafio à ordem; o dissenso, como deslealdade; a crítica, como subversão.
As últimas semanas tornaram essa lógica brutalmente visível. No plano internacional, o extremismo de direita atuou sem disfarces: ameaçando a Groenlândia, tensionando o Canadá, intervindo na Venezuela, desprezando normas e alianças. Mais decisivo ainda, converteu tarifas comerciais em instrumento de coerção unilateral. Não se trata apenas de reequilibrar a balança comercial americana, mas de punir economicamente qualquer resistência às vontades caprichosas da Casa Branca. A política comercial deixou de ser negociação e passou a funcionar como técnica de dominação — países que não se curvam enfrentam sanções imediatas, impostas por decreto presidencial. No plano interno, o mesmo extremismo se traduziu em técnica de governo. Agentes do Immigration and Customs Enforcement (ICE) passaram a ocupar bairros inteiros como demonstração de poder; prisões foram conduzidas como encenações de autoridade; a violência extrapolou qualquer justificativa legal.
O caso mais eloquente ocorreu no último sábado, 24 de janeiro, em Minneapolis: Alex Pretti, enfermeiro de cuidados intensivos de 37 anos, cidadão americano sem antecedentes criminais, foi morto por agentes do ICE durante um protesto. Vídeos gravados por testemunhas revelam a sequência: Pretti filmava a operação com seu celular quando tentou defender outros observadores empurrados por agentes federais. Foi borrifado com spray de pimenta, derrubado no chão e imobilizado por sete agentes. Um deles removeu uma pistola — para a qual Pretti tinha licença legal — da parte de trás de sua cintura. Segundos depois, enquanto Pretti permanecia no chão desarmado e imobilizado, os agentes recuaram e dispararam dez tiros. Não houve resistência armada. A pistola nunca foi sacada por Pretti. Houve apenas o exercício da violência como afirmação de poder. Críticos do governo passam a ser equiparados, de modo cada vez menos implícito, a potenciais terroristas domésticos. Trata-se menos da aplicação da lei do que da produção calculada do medo.
É contra esse pano de fundo que a leitura de Como as Guerras Civis Começam, de Barbara F. Walter, se impõe. Publicado em 2022 por uma das principais especialistas em conflitos civis dos Estados Unidos — professora na Universidade da Califórnia em San Diego —, o livro não anuncia uma guerra civil iminente. Ele oferece algo mais rigoroso e perturbador: um diagnóstico das condições sob as quais democracias liberais, ao normalizarem a exceção e ao redefinirem o dissenso como inimizade, passam a conviver com a violência política como prática legítima de governo.
A guerra civil moderna não se anuncia; ela se infiltra
O mérito central do livro está em desmontar a imagem clássica da guerra civil como ruptura súbita e visível. Contra a ideia de dois exércitos regulares e de colapso institucional imediato, a autora mostra que os conflitos civis contemporâneos emergem de forma gradual, difusa e frequentemente imperceptível para sociedades que ainda se percebem como estáveis. A guerra civil moderna não se anuncia; ela se infiltra. O problema central não é o momento da explosão, mas o processo pelo qual a violência política se torna admissível.
A partir de ampla pesquisa comparada, Walter identifica um conjunto recorrente de mecanismos. O mais decisivo é a anocracia: regimes intermediários nos quais instituições democráticas sobrevivem formalmente, mas perdem legitimidade substantiva. Nessas condições, o Estado conserva capacidade repressiva, mas perde capacidade integradora. A legalidade continua em vigor, porém deixa de organizar expectativas compartilhadas. É nesse limbo que a violência deixa de ser tabu e passa a ser considerada alternativa possível.
Esse processo é acompanhado pela faccionalização da política. À medida que a confiança nas instituições se deteriora, o conflito deixa de ser regulado por regras comuns e passa a ser vivido como disputa existencial entre grupos. O adversário político já não é alguém com quem se compete, mas alguém que ameaça a sobrevivência do grupo. A criminalização do dissenso deixa de ser exceção e passa a funcionar como técnica regular de governo.
Outro elemento central é a perda de status. Walter mostra que guerras civis recentes costumam ser precedidas por processos nos quais grupos dominantes — ou que se percebem como tais — passam a experimentar declínio econômico, cultural ou demográfico. Essa sensação de deslocamento, independentemente de sua base objetiva, produz ressentimento político profundo e torna aceitável o recurso à força como meio de restauração hierárquica, inclusive pela mobilização de segmentos socialmente desclassificados como força auxiliar da repressão.
Completa esse quadro o colapso da esperança institucional. Quando parcelas significativas da sociedade deixam de acreditar que o sistema político seja capaz de produzir resultados aceitáveis por meios legais, cresce a disposição para soluções extralegais. O ponto não é a miséria absoluta, mas a percepção de bloqueio: a convicção de que os canais legítimos foram capturados ou esvaziados. A política deixa de mediar conflitos e passa a ser percebida como jogo fraudado.
Esses mecanismos não produzem automaticamente uma guerra civil. Eles constroem o terreno. A escalada costuma ser acelerada por choques específicos — crises econômicas, decisões judiciais polarizadoras ou políticas deliberadamente provocativas. O erro analítico mais comum, insiste Walter, é confundir esses aceleradores com a causa. Quando isso ocorre, o diagnóstico chega tarde demais.
O excepcionalismo americano — a crença de que instituições fortes bastariam para conter esse tipo de dinâmica — não resiste à evidência comparada
É a partir desse arcabouço que a autora examina os Estados Unidos. Sua análise é incômoda justamente porque não depende de Trump como causa exclusiva. O trumpismo aparece como intensificador de tendências mais longas: erosão institucional, faccionalização política e declínio da confiança na mediação democrática. O excepcionalismo americano — a crença de que instituições fortes bastariam para conter esse tipo de dinâmica — não resiste à evidência comparada.
Nesse ponto, os acontecimentos recentes ganham densidade explicativa. A atuação do ICE como força de intimidação territorial corresponde ao padrão descrito por Walter de militarização difusa do conflito interno. Não se trata apenas de aplicar a lei migratória, mas de produzir medo, testar limites institucionais e sinalizar dominância política. Ao redefinir o dissenso como ameaça à segurança nacional, o governo converte o conflito político em questão de ordem pública.
O sinal mais inquietante é a fragmentação do monopólio da violência. Quando cidadãos passam a se armar não contra criminosos, mas contra agentes estatais, a autoridade deixa de ser percebida como árbitro e passa a ser vivida como parte do conflito. A violência torna-se descentralizada, moralmente justificada e progressivamente difícil de conter — exatamente o ponto em que, segundo Walter, democracias deixam de ser apenas instáveis e passam a ser estruturalmente vulneráveis.
Nada disso autoriza afirmar que os Estados Unidos estejam prestes a mergulhar em uma guerra civil aberta. A própria Walter é cuidadosa em rejeitar previsões deterministas. O argumento do livro é mais rigoroso — e mais perturbador. As condições de possibilidade estão sendo progressivamente construídas. Ignorar esse processo porque ele não se apresenta sob formas clássicas é repetir o erro cometido por sociedades que, retrospectivamente, não compreenderam quando o conflito começou. O ponto de não retorno são as eleições de meio termo deste ano, destinadas à renovação da Câmara dos Deputados e do Senado. Uma vitória fraudulenta do Partido Republicano importará não apenas a continuidade do processo de autocratização, mas a possibilidade de que, diante da impossibilidade de resistência institucional, aumentem os riscos de resistência armada por parte da oposição.
A força de Como as Guerras Civis Começam reside justamente nessa advertência. Guerras civis raramente começam quando todos reconhecem que começaram. Elas se tornam possíveis quando a exceção vira rotina, quando a violência seletiva se banaliza e quando a política abandona sua função integradora. O livro de Barbara F. Walter não anuncia o colapso americano; ele desmonta, com rigor analítico, a ilusão de que democracias em erosão estejam protegidas contra ele.