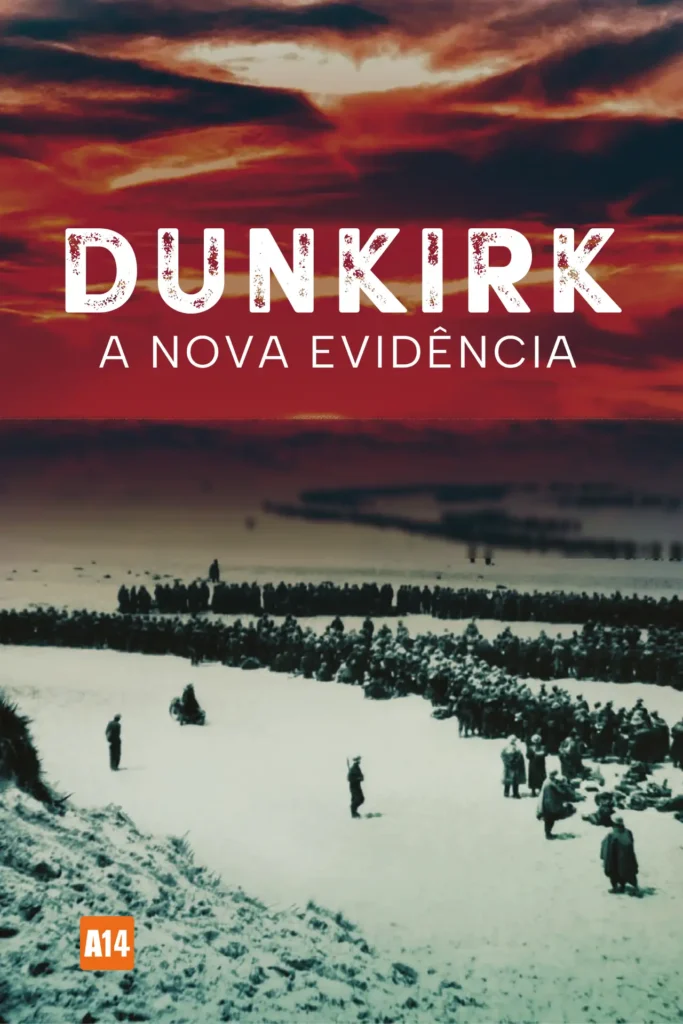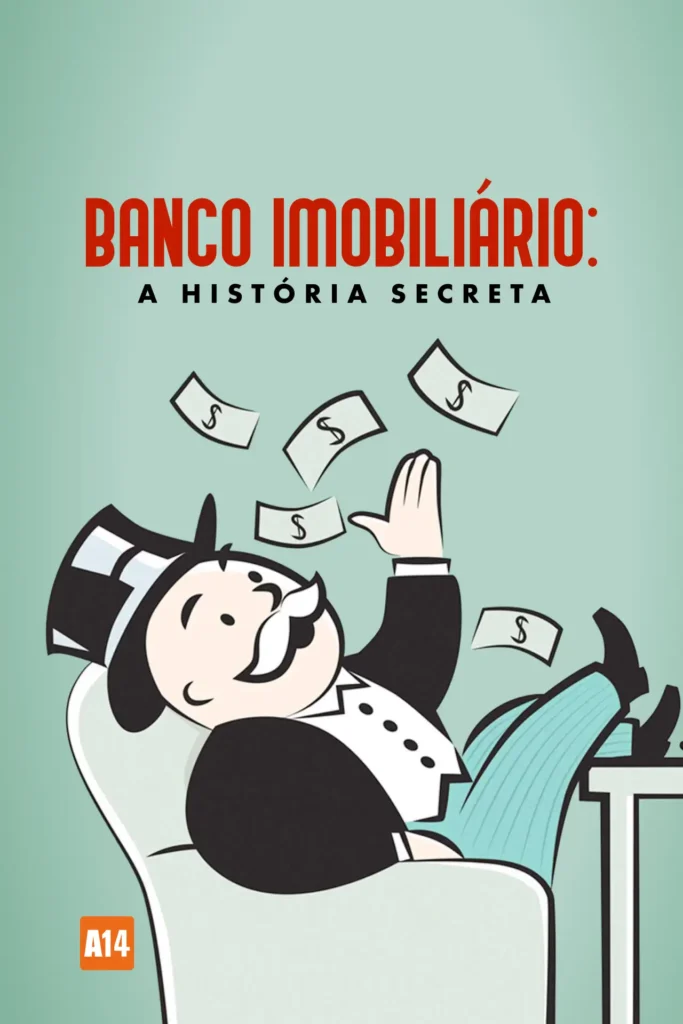Sabores amazônicos
Receba as notícias mais importantes no seu e-mail
Assine agora. É grátis.
Na 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30 — que acontecerá de 10 a 21 de novembro em Belém (PA) —, a chef de cozinha Bel Coelho vai lançar o livro Floresta na Boca: Amazônia — Pessoas, Paisagens e Alimentos, acompanhado de um documentário. Ambos retratam uma viagem feita pelo Pará para entender não só os modos de produção de alimentos na região, mas também a maneira como as pessoas vivem e se relacionam com a terra e o turismo, trazendo histórias de personagens encontradas rio adentro. E também receitas.
A Amazônia paraense é só a primeira perna desse projeto ambicioso de mapear os biomas brasileiros, seguindo esse tripé humano, geográfico e gastronômico. Feito de forma independente por Bel, a maneira de colocar o projeto de pé foi ir diretamente atrás de quem investisse na ideia e juntar uma série de profissionais, como a fotógrafa e diretora Carol Quintanilha, a fotógrafa Lari Lopez, a jornalista Janaina Fidalgo e a ilustradora e a produtora executiva Marina Aranha. O livro foi financiado pelo Instituto Arapyaú e realizado em parceria com a Reenvolver. Já o filme é apoiado pela Open Society Foundation, pelo Instituto Imbuzeiro e pelo Google
O projeto tem uma sequência garantida: o bioma da Caatinga. Mas antes Bel precisa encontrar formas de distribuir o doc, depois de ele ser mostrado em Belém. “Como corremos para fazer o filme para a COP30, ainda nem pensamos na distribuição”, disse a chef na conversa que tivemos por videochamada. O longa foi inscrito no Sundance e, depois da resposta do festival de cinema dos EUA, Bel tentará levá-lo para o streaming.
Leia abaixo os principais trechos da entrevista.
Qual é o desejo político por trás do livro e do filme que serão lançados na COP30?
Eles nascem com uma vontade de trazer luz e atenção para essa causa socioambiental que utiliza a cultura alimentar e a gastronomia como ferramenta aliada. Lançar na COP30 não foi necessariamente um desejo meu, mas aconteceu porque os institutos que financiaram o projeto pediram. E eu acho propício porque tanto o livro quanto o documentário são formatos interessantes pra gente comunicar essas causas. É mostrar que a conservação de biodiversidade, do meio ambiente no Brasil, sobretudo na Amazônia, depende das pessoas que vivem lá e que convivem de forma razoavelmente harmônica, que produzem riqueza sem desmatar.
No livro você traz a questão do açaí, hoje quase monocultura. O que viu de diferente na Amazônia desta vez?
Existe uma fragilidade entre a conservação de fato e a exploração. A gente segue ainda nessa contradição, nessa dicotomia de como é contribuir para a bioeconomia local, sem explorar de forma nociva para o meio ambiente e para as comunidades que vivem lá. É a minha preocupação constante, e por isso eu falo muito que a conservação de biodiversidade, do meio ambiente e da cultura estão aliadas. Então, eu chego em Altamira (PA), que é meio epicentro de várias questões ambientais e de ocupação de terra, e é igual a Goiânia (GO), igual às cidades do interior de São Paulo, muito ditada por uma estética agro. Isso vem junto com uma devastação que é da cultura também. Quando o povo tem sua cultura conservada e autoestima, que percebe ser muito muito valiosa, vai lutar por ela e também pelo meio ambiente, precisa estar sempre atrelado. Não acredito na conservação como preservação intacta. A gente fecha a Amazônia, ou grandes extensões de terra e deixa lá. O Brasil não consegue, enquanto Estado, controlar nem as reservas que tem. Então imagina se a gente cercasse? Eu realmente acredito na mão humana que sabe conviver com a floresta de forma harmônica, e têm muitos povos que ainda sabem.
Como foi a geografia humana que você encontrou para fazer o livro?
Quando a gente está falando de migração de trabalhadores, eles têm dificuldades, obviamente. Porque a floresta é muito imponente, desafiadora para quem não vivia lá. Por exemplo, a gente visitou a família do Dema [Ademir Federicci], era um ativista que denunciava grileiros e madeireiros ilegais e foi assassinado com um tiro na boca, dormindo do lado da sua esposa, com um bebê no berço no quarto, na Transamazônica. Assim como vários outros ativistas morreram de forma brutal. Mas aí a dona Maria, contando a história dela, diz que ficou com três filhos e que, embora já estivesse produzindo cacau, ainda era tudo muito novo. Quando a causa é coletiva, nunca é só sobre uma família, um núcleo, seja em povos originários, seja em agricultores, familiares, ribeirinhos.
Algum grupo chamou mais a atenção?
Uma coisa que notei é o papel da mulher. Eu sei que eu sou feminista, já tenho esse olhar, mas a mulher tem um papel sistêmico na Amazônia, e acho que em outros biomas também, porque elas já têm esse olhar coletivo. Não sei se por uma questão cultural nossa, se por uma questão biológica, ou talvez por uma percepção mais aguçada de que se acabar com aquilo tudo vai dar alguma grande merda, uma intuição. Não que não tenham homens assim, tiveram dois homens que estão no livro, produtores de cacau de sombra no sistema cabruca, que são poetas da agricultura, que pensam a produção do que for, açaí ou cacau, de forma sistêmica.
Do que você visitou, os plantios mais interessantes estão em regime de agrofloresta?
Sim, e o extrativista é mais floresta ainda. Por exemplo, a castanha do Pará, lá no rio Novo, no rio Iriri, no médio Xingu, está numa reserva extrativista. É mata fechada, então não tem quase desmatamento, é um serviço ambiental. Eu falo que não é uma economia circular. A gente tinha que encontrar uma forma, com investimento internacional e interno, para que esses povos sigam ali nesses modos de vida que são de nosso interesse. Agora, só comprar a castanha do Pará ou só beneficiá-la talvez não seja suficiente, mas ajude. A gastronomia pode ser uma grande aliada, mas a gente precisa de muito mais.
Em que sentido?
Precisa de turismo de base comunitária, um turismo ecológico, mesmo que seja de luxo, mas que seja um turismo consciente. Ele já existe, mas eu acho que a gente pode explorar isso melhor, sendo incentivado pelo Ministério do Turismo. A malha aérea precisa melhorar. E aí eu não estou falando só da Amazônia, mas também da Caatinga. Esses biomas precisam de investimento e incentivo. E o turismo consciente, ecológico, pode ser um outro aliado importante, que leve riqueza para as comunidades seguirem lá. E a gastronomia também.
E você traz também receitas no livro. São coisas que você aprendeu lá?
Tem três receitas minhas. As outras são de pessoas locais, e são receitas muito simples, algumas até que só dá para fazer lá, tipo o mingau de crueira, uma farinha que é quase um resto que não se usa para vender, mas é uma delícia. Tem muita receita interessante assim, que é de subsistência. As minhas têm técnicas um pouco mais complexas, mas não muito, para que as pessoas possam fazer em casa e usar esses produtos. Consumir esses ingredientes é uma forma de fortalecer não só essas cadeias produtivas, mas também despertar a curiosidade de ir até lá, de visitar, de levar recursos também para essas regiões. Mais do que as receitas, a gente criou um glossário falando dos ingredientes, que eu acho que era importante.
Por quê?
Eu não tenho mais nenhuma vontade de fazer um livro de receitas mais autocentradas do meu eu criativo, e não estou aqui julgando os outros chefs. Claro que eu já admirei, claro que quando eu vejo técnica em um prato falo: “Nossa, que incrível”. Mas não deixa de ser tão excludente aquele prato virar tipo uma obra de arte que ninguém quase consegue consumir ou reproduzir. Acho hoje em dia muito desconectado com o que é o Brasil. A comida está no nosso dia a dia, precisa ser um pouco mais descomplicada e acessível. E enxergo muito mais o alimento como esse aliado de algumas causas e também como um amálgama para as relações humanas. A gente vive os melhores momentos das nossas vidas em volta de uma mesa ou em volta de um prato de comida. As melhores conversas, as melhores risadas. Tudo bem que eu sou muito ligada nisso, mas acho que muita gente é também.