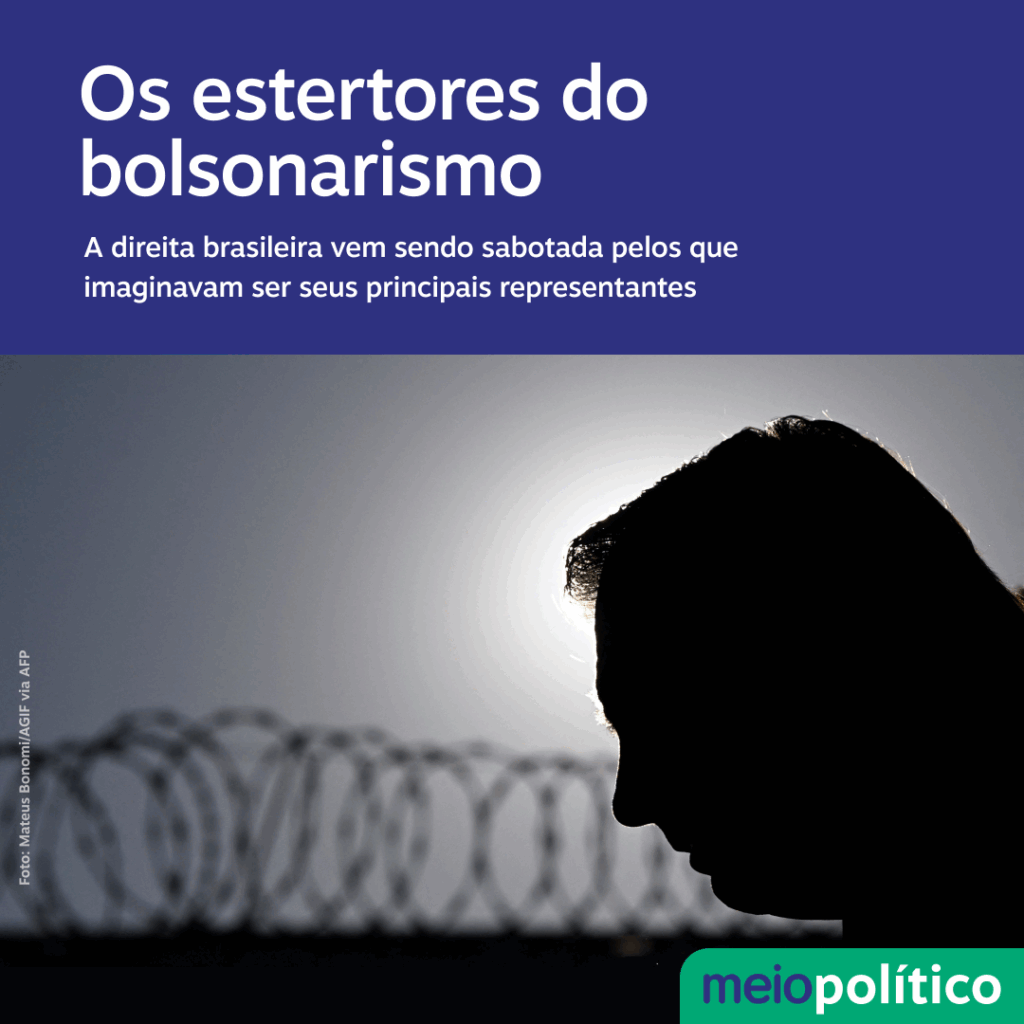Tudo sobre meu pai
Receba as notícias mais importantes no seu e-mail
Assine agora. É grátis.
Ignácio de Loyola Brandão está com 89 anos e mais de 60 deles dedicou às palavras. Passando dos 40 livros publicados, é daqueles escritores que merecem a cadeira que ocupa na Academia Brasileira de Letras — a de número 11. Quem leu suas obras, ou acompanhou as centenas de crônicas que publicou ao longo da vida, entre elas um lindo conto de Natal publicado aqui neste Meio no último dezembro, sente uma proximidade com esse personagem que saiu de Araraquara, no interior de São Paulo, para fazer carreira nas principais redações do país.
Mesmo com tantas pistas deixadas, ainda há muitas histórias a se contar sobre esse escritor prolífico, de rara sensibilidade e imaginação. Alguém que foi dos experimentos mais radicais, como o romance quase cubista Zero, denúncia dos anos de chumbo da ditadura brasileira escrita com um estilo singular, aos livros mais autobiográficos, como A Veia Bailarina, publicado em 1997, em que medita sobre a dança com a morte depois da descoberta de um aneurisma cerebral.
Uma dessas histórias é a de que, no fundo, antes de ser escritor ele queria mesmo era fazer cinema. Nesse sentido, o documentário Não Sei Viver Sem Palavras — que estreia hoje no Festival do Rio e depois tem sua primeira sessão paulista na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo —, dirigido por seu filho André Brandão, dá novas pistas para entender o universo do escritor a partir de entrevistas recentes, filmagens caseiras e reflexões sobre seus textos, que dão contornos a sua vida e obra, mas também falam de uma relação entre pai e filho. Conversei com André sobre como foi estrear no cinema contando uma história tão particular e tão universal. Leia abaixo os principais trechos da entrevista.
Como nasce a ideia de fazer um filme sobre o seu pai?
Eu tinha acabado de me separar e estava para fazer um projeto de documentário sobre resíduos sólidos em grandes cidades do mundo. Teria de viajar para cidades como Tóquio, Estocolmo, Nova York e, como não queria alugar uma casa antes dessas viagens, fui morar com meu pai. Veio a pandemia e acabei ficando por lá. Decidi transformar aquela experiência de estar com 45 anos morando na casa do pai em um projeto legal. Peguei o meu telefone e comecei a filmar o nosso cotidiano por algumas semanas. Eu e meu sócio [Ricardo] Carioba [codiretor do filme] estávamos à procura do nosso primeiro filme, começamos a conversar e percebemos que aquilo poderia se tornar algo maior. Nesse ponto, falei com a Luana Furquim, da Prosperidade Content, a mesma do filme do lixo e com quem já havíamos feito outros projetos, para serem coprodutores. Isso porque também queria ter o André Collazzo e a Vivian Brito como corroteiristas. A gente começou a mergulhar no universo do meu pai e a se dar conta que que tinha um filme legal a ser feito.
O filme vai um pouco além de só contar a história de vida do seu pai, não?
Ele tem muito da vida e da história dele, da carreira, dos desejos, mas ele invariavelmente tem uma camada da nossa relação. Desde o começo, a gente desenvolveu a ideia de que teriam três camadas. Uma é a vida dele e o mundo em que ele vive, porque nasceu em 1936 e segue com a gente. Então viveu esse momento de muita transformação, estando muito próximo das coisas que aconteceram. E quando ele não estava, inventava que estava. A segunda é a obra dele, e tem toda a discussão sobre autoficção, porque muito do que ele escreveu estava diretamente conectado às suas experiências de vida. E a gente quis trazer elementos dos livros para ilustrar essa conexão. E a outra parte é justamente a da nossa relação de pai e filho, que foi a discussão mais longeva dentro do processo do filme.
Quais eram as discussões?
Justamente o quanto a gente iria entrar nisso. Por um lado, um filho fazendo um documentário sobre um pai escritor traz uma singularidade para o filme. Por outro lado, até que ponto deveria ir? Porque também não é um Elena, da Petra Costa, não é uma DR ou uma questão que eu precisava resolver. Teve até uma coisa curiosa, o [Ricardo] Calil [diretor de documentários] esteve próximo no começo do processo e me perguntou: “André, eu fiquei curioso aqui, você deve ter uma relação muito boa com o seu pai. Qual é o conflito do filme?”. E eu respondi: “Não sei tem um conflito nesse lugar”. [risos] A gente entra numa conversa sobre a dureza masculina, que passa de geração para geração e que não foi diferente na minha família. Também um pouco sobre a relação dele com a gente, sobre educação, sobre o quanto ele esteve próximo ou não da gente. Mas não chega a ser um conflito, e a gente ficou equilibrando esses lugares. O Carioba sempre advogou que tinha de ser mais sobre a literatura, sobre o Loyola, já o Collazzo estava na outra ponta, querendo explorar a relação de pai e filho, mas encontramos um meio-termo. No filme, essa nossa parte íntima é relativamente pequena, mas traz uma intensidade grande. E tem uma outra coisa muito relevante para mim que é ser um filho terminando um filme que o pai começou.
Como assim?
Meu pai sempre quis fazer cinema e nunca fez. Ele queria ser roteirista, não escritor. Foi para Roma em 1963 com 27 anos e lá ele só mexeu com roteiros. Sempre viveu no mundo do cinema, conviveu com pessoas do cinema, mas nunca fez um filme. Ele tinha uma Super 8 e filmou muito nos anos 70 e começo dos 80. Coisas íntimas, a gente crescendo, São Paulo, filmou o meu nascimento. As imagens dele e o texto dele são a essência desse documentário.
Entre elas estão alguma imagens incríveis de quando ele morou em Berlim.
São umas imagens preciosas. Ele ficou dois anos em Berlim, entre 1982 e 1983, para fazer um projeto. Foi um período que o marcou muito e também marcou bastante a minha infância. Porque quando ele foi para Berlim, eu fui para Campo Grande [no Mato Grosso, com a mãe]. E foi um período que ele estava distante, mas mandava cartas com um monte de brincadeiras, cartões coloridos, coisas de papelaria, e as cartas dele eram sempre uma alegria.
As filmagens em Araraquara foram um jeito de ficcionalizar o passado usando as palavras dele?
Quis levá-lo para os lugares importantes para a história, para a infância dele. A gente fez uma entrevista na plataforma da estação de trem de Araraquara, que já está desativada e é importante por várias razões. A minha família era toda ferroviária, meu avô foi chefe daquela estação, e também tem o trem como símbolo de ir embora. A gente fez uma entrevista na Biblioteca Municipal de Araraquara, que já não é o mesmo prédio, mas foi onde ele passou a adolescência. Mas tem também esse ponto de que, para ele, realidade e ficção são coisas completamente misturadas, inseparáveis. E isso é uma questão que me acompanha desde sempre, e hoje a gente está perdendo completamente a noção da diferença entre realidade e ficção, o que torna essa discussão bastante atual.
Seu pai tem um lado político muito forte, inclusive política ecológica em Não Verás País Nenhum. Como isso transparece no filme?
Os livros que a gente mais cita no filme são o Zero e o Não Verás. Um momento importante do filme é quando ele conta a história do Zero. A redação passou a ter um censor que dizia o que podia e o que não podia ser publicado, e meu pai começou a guardar tudo o que tinha sido censurado. E tinha uma pilha de dois metros em casa com esses textos. Um dia a [atriz] Ítala Nandi foi à casa dele e perguntou o que era aquele monte. Quando ele respondeu, ela disse: “Isso é um livro, Ignácio”. Foi a faísca para começar o processo que, no filme, ele descreve como um documentário sobre tempos tenebrosos. E a história do Não Verás também é interessante. Porque nasce dessa sensibilidade simbólica. Tinha um ipê na rua onde ele morava em Perdizes e certo dia ele morreu. O grupo de vizinhos pergunta à dona da casa que fica em frente à árvore o que tinha acontecido e ela diz que havia envenenado o ipê porque ele sujava o seu jardim com suas flores malditas. Foi o estopim para ele imaginar um país, um mundo sem árvores do Não Verás. A política era presente, mas sempre partir da observação e da imaginação.