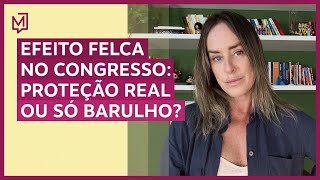Fantasia inocente ou apropriação cultural?
Nos primeiros dias de setembro, em 1976, ocorreu em Lisboa o Congresso da Associação Internacional de Críticos de Arte. Um dos palestrantes era um artista plástico britânico nascido na Dinamarca, homem de alguma fama por conta da extensão de seu trabalho. Aos 47, Kenneth Coutts-Smith era pintor e poeta, romancista e crítico de arte, professor e historiador da arte, curador. Àquela altura, após ter passado por inúmeros cantos do mundo, havia fincado raízes no Canadá, onde se dedicava a dar aulas e estudar a produção artística esquimó. Poucos anos depois, mergulharia nos aborígenes australianos. Coutts-Smith se interessava por tudo que fosse arte, não importa a cultura, e tinha um quê de antropólogo. Tentava compreender a produção a partir dos olhos das culturas que a criavam. Naquela edição do Congresso, cujo tema era a relação da arte negra de Américas e Europa com aquela produzida na África subsaariana, o crítico em Coutts-Smith decidiu trazer uma provocação, uma questão com a qual ele vinha trabalhando. O que trazia não era uma acusação, ou mesmo uma queixa. Era uma constatação.
Ele estava para incluir no vernáculo a expressão apropriação cultural.
Por ainda uns bons anos, e mesmo após sua morte, em 1981, o tema permaneceu obscuro, coisa para críticos de arte eruditos. Então se esgueirou dos departamentos de belas artes para os de ciências sociais, e demorou ainda mais de década até que a academia começasse a produzir em volume estudos com este foco. Kenneth Coutts-Smith seria provavelmente pego de surpresa ao constatar que sua cautelosa reflexão, que se debruçava nos trabalhos de alguns dos mais importantes artistas dos séculos 19 e 20, no século 21 se tornaria instrumento para debates acalorados e moeda corrente para acusações de toda sorte. Que entraria no discurso da militância identitária. Muitas vezes, escapando por completo ao conceito inicial.
Desde a Renascença, pensou o crítico, as artes plásticas haviam se tornado parte importante de uma sociedade que começava a se organizar no sistema que hoje chamamos capitalista. Diferentemente de outras formas de expressão artística, como a literatura, mais tarde a música ou o cinema, um quadro ou escultura são exclusivos. Quem compra uma tela tem, ali, algo que ninguém mais terá. Este não é um detalhe pois dá um valor alto à obra. A exclusividade põe o artista dentro do sistema, organiza sua carreira em função da produção de arte numa lógica capitalista que sustenta sua vida e o incentiva.
O mesmo sistema também produziu o colonialismo, e marca do colonialismo foi tirar barato dos países periféricos aquilo que, na Europa, teria muito mais valor.
Na história da arte, percebeu Coutts-Smith, há um marco importante no início do século 19, quando Napoleão Bonaparte trouxe do Egito para a França inúmeras peças do tempo dos faraós. Foi uma explosão temática. Nas pinturas e na arquitetura, apareceu Egito Antigo por toda parte na França daqueles anos. Poucos anos depois, Eugène Delacroix pintou muito do que viu em suas viagens pelo norte da África, de beduínos a odaliscas de harém. Era arte de qualidade, era produto caro no mercado, e deu o tom daquele universo exótico que muitos não conheciam. Na geração seguinte, Paul Gauguin fez o mesmo nas ilhas do Pacífico. Inúmeros artistas europeus retrataram o mundo. Tinham, em muitos casos, afeto pelas regiões nas quais foram parar. Não raro, eram também artistas com valores humanísticos e altruístas.
Ainda assim, faziam parte de uma máquina, que era o colonialismo dentro do capitalismo. Não estavam, por serem artistas, longe da máquina europeia branca. As colônias, vistas por seus olhos, voltaram na forma de boa arte. Mas uma arte que também era produto, mesmo que produtos sofisticados. E daí a observação de Kenneth Coutts-Smith. No fundo, não eram muito diferentes dos importadores que traziam da Pérsia barato tapetes que venderiam nas capitais europeias muito caro. Para o público consumidor branco, o tapete ou a pintura retratavam o exótico, um artefato doutro mundo. Descolados do ambiente cultural em que foram criados, perdiam todos seus significados originais e viravam instrumento para que o europeu olhasse de cima para baixo os selvagens. Não bastasse, o dinheiro alto que estes produtos rendiam não era revertido para as culturas que o originavam. Uma apropriação, pois. No caso, uma apropriação cultural. O crítico não fazia o comentário por censura, mas como uma observação da mecânica, de como o sistema funcionava. Ele, como outros críticos, considerava importante entender estes processos.
Seu trabalho era não ser ingênuo a respeito de tudo que fazia parte da produção de uma obra de arte.
Leia o artigo original do crítico.
O hábito da fantasia
Há registros do uso de máscaras por nós, humanos, desde antes de haver civilização. As máscaras mais antigas conhecidas foram feitas em pedra e descobertas nas colinas da Judeia, não longe de onde hoje fica Jerusalém. É um conjunto, foram esculpidas em pedra, e têm algo próximo de nove mil anos. A principal hipótese é de que representavam ancestrais. A Revolução Agrícola era recente e, portanto, também era novo o processo de o homem se tornar sedimentário. Foi uma transformação cultural de forte impacto. Naquelas religiões primitivas, a terra que alimentava era a terra onde também moraram avós, bisavós, trisavós. Histórias destas pessoas do passado, de seus momentos de sapiência ou dificuldades, eram relembradas. Possivelmente vestiam as máscaras em rituais, como se fossem retratos dos antigos, para que, no contar de histórias, os ancestrais fossem representados. Era neste elo entre os que vieram antes e a terra que nossos antepassados construíam seu misticismo.
Mas não há cultura que não tenha tido algum uso para máscaras. Os egípcios cobriam suas múmias mais importantes com ricos rostos falsos. A peça em metal mais antiga da América do Sul é uma misteriosa máscara de cobre. Misteriosa porque não se sabe em que circunstâncias era usada, mas também porque, tendo sido descoberta no sul dos Andes e com três mil anos de idade, é a prova de que um povo dominou o uso do metal, no continente, antes dos incas. Os tupis brasileiros, eles próprios, usavam máscaras plumárias em cerimônias que tratavam de seus deuses.
Máscaras e correspondentes fantasias de Carnaval são, também, um costume muito antigo — mais antigo do que o Brasil. Possivelmente o Carnaval é uma construção ancorada em festas pagãs, mas ele tem significado específico nos países católicos. A Quaresma, ou o período de 40 dias anterior à Páscoa, era tradicionalmente o tempo de demonstrar mais fé. As pessoas comiam pouco, vestiam negro, evitavam toda sorte de excessos. E é por isso mesmo que, na Terça-Feira Gorda, faziam justamente o contrário — cometiam toda sorte de excessos. Comiam, bebiam — e se fantasiavam. O costume é amplamente documentado desde a Idade Média.
Porque a máscara, como a fantasia, serve mesmo para fingir ser quem não é. Como se o católico tivesse de, metaforicamente, se vestir de outro para pecar. Ou, nas palavras do antropólogo Roberto DaMatta, “no carnaval são suspensas temporariamente as regras de uma hierarquização opressora”. Já era assim nas Saturnálias romanas. O empregado pode ser senhor, o homem pode ser mulher, o branco pode ser aquele de quem ele se considera muito diferente — o índio, o cigano, o pirata, o árabe. “Fantasia carnavalesca revela muito mais do que oculta”, continua DaMatta, “representando um desejo escondido, faz uma síntese entre o fantasiado, os papéis que representa e os que gostaria de representar.”
Partindo-se da ideia original de Kenneth Coutts-Smith sobre apropriação cultural, nada poderia estar mais distante. O catolicismo, e daí o Carnaval, estão na raiz da cultura brasileira. Dentro deste princípio de que a festa é uma na qual se transforma em ritual a inversão de papeis da sociedade, o português que se veste de tupi; o homem latino que se veste de mulher; o branco que se veste de cigano ou árabe — poucas celebrações estão tão enraizadas na cultura brasileira quanto esta.
Apropriação cultural?
Outra britânica, a cientista política e ativista de origem bengali Ash Sarkar, é uma que contesta o uso repetitivo do conceito. “É correto comparar o ato de tomar emprestado de uma cultura em que não há exploração política ou econômica com o mesmo ato em que há?”, ela indaga. Sarkar é inglesa, filha de ingleses — bengali eram seus avós. Ela reflete sobre esta identidade — “você é estrangeira aqui, é turista na terra ancestral, e sua casa é um ninho construído com as lascas de cultura que consegue juntar”. Ela sugere que, em muitos casos, o argumento da apropriação cultural é usado por grupos que, sem ter podido encontrar um lugar de conforto na sociedade em que vivem, buscam abraçar a cultura de seus ancestrais. “O debate sobre apropriação promove a mentira reconfortante de que é possível ter uma conexão estável e autêntica com uma cultura após as interrupções sísmicas provocadas pelo colonialismo e pela imigração.”
O cacique Raoni, talvez a principal liderança indígena brasileira hoje, aprova as fantasias de índio com um argumento mais direto. “Quem está fazendo, faz porque quer se enfeitar, adquirindo nossas vestimentas, nosso cocar, nossas coisas. Nós usamos objetos de vocês também, então é uma troca. Ele gosta e fica contente e alegre.”