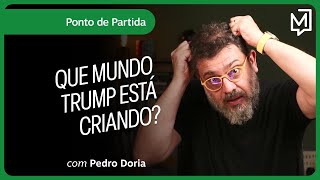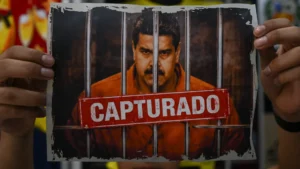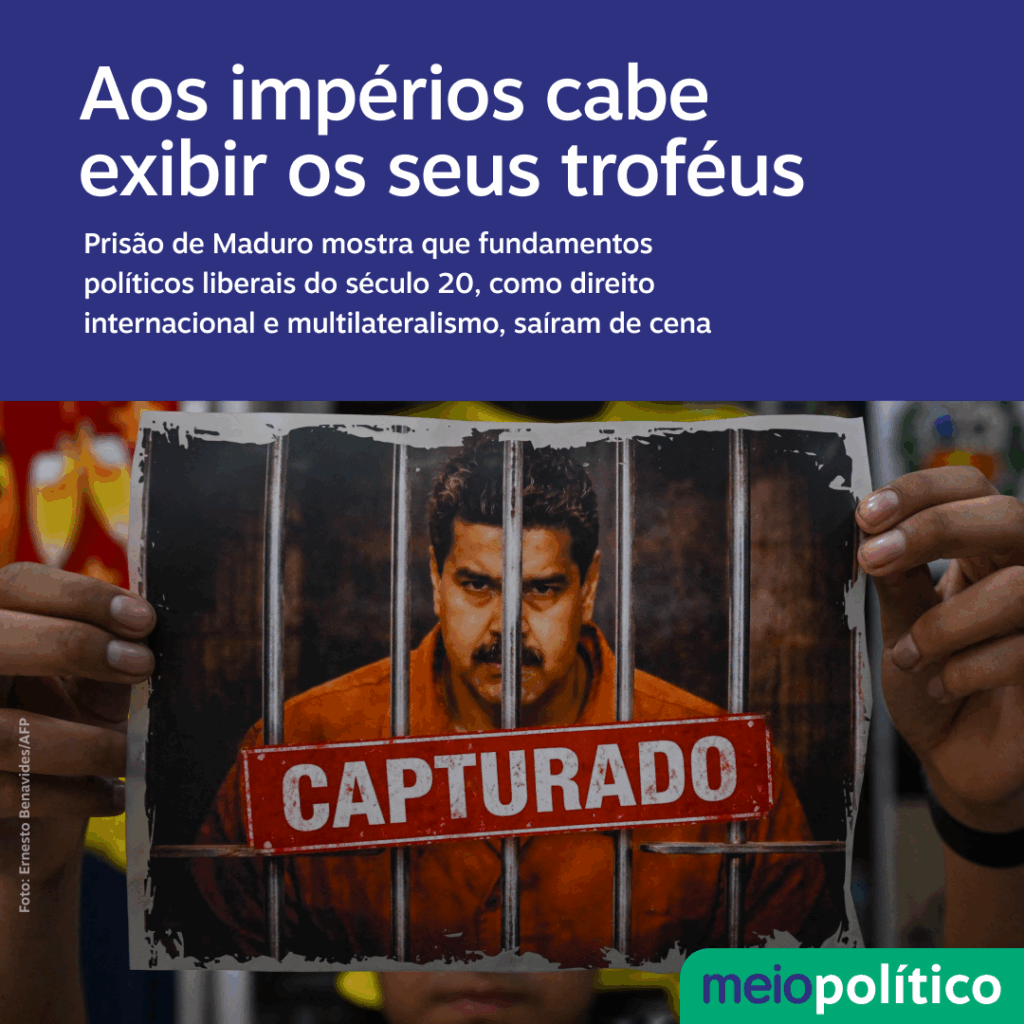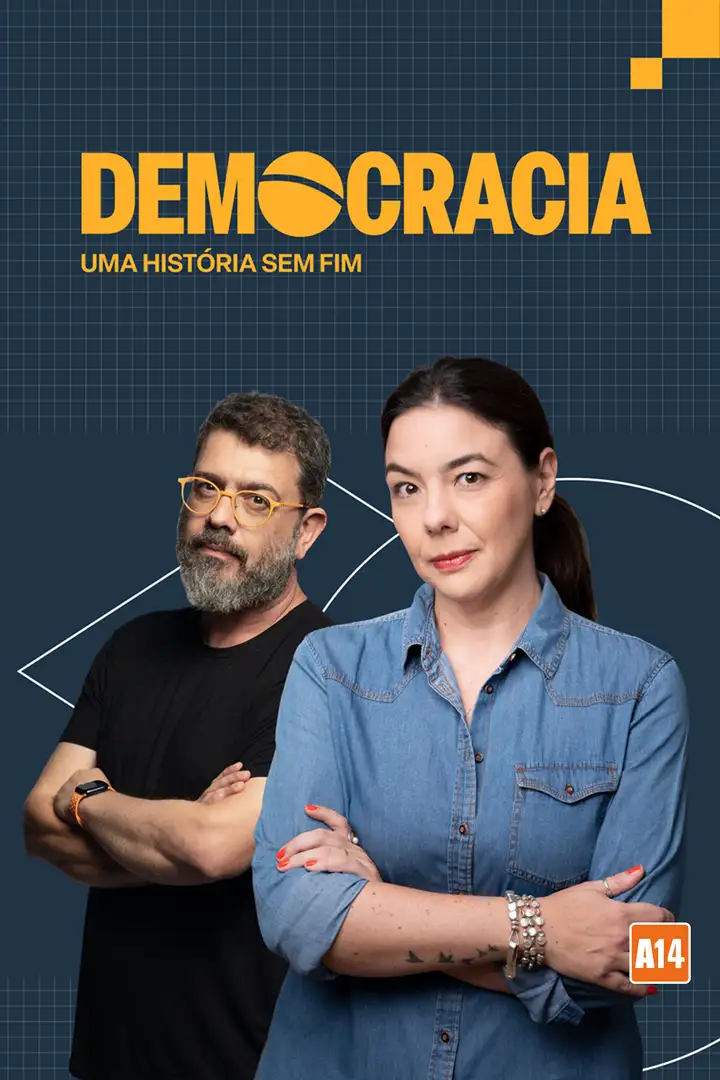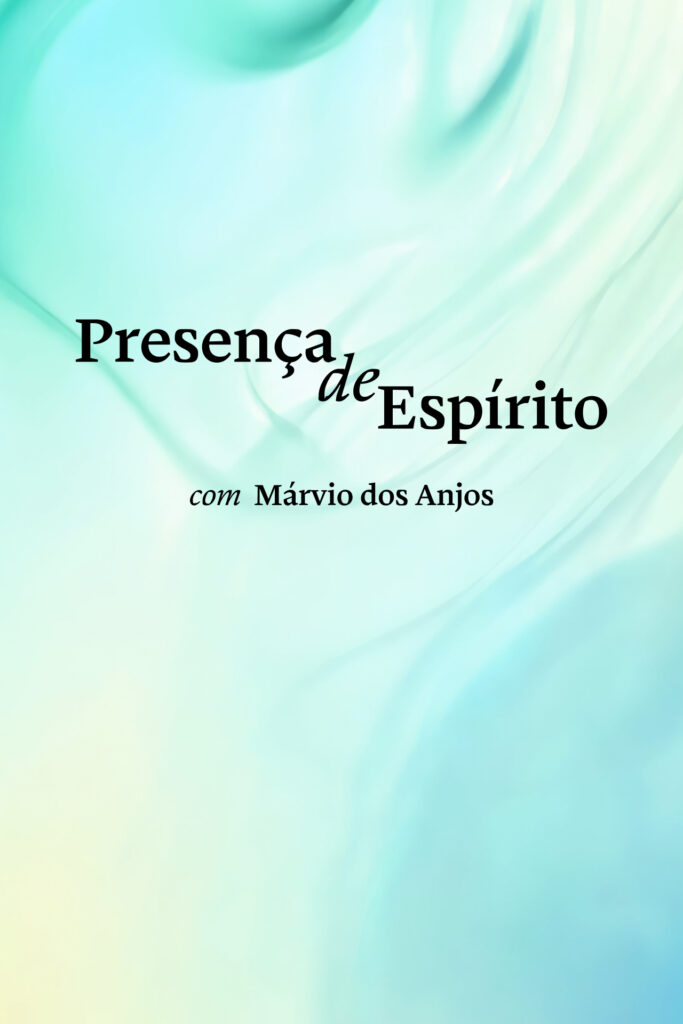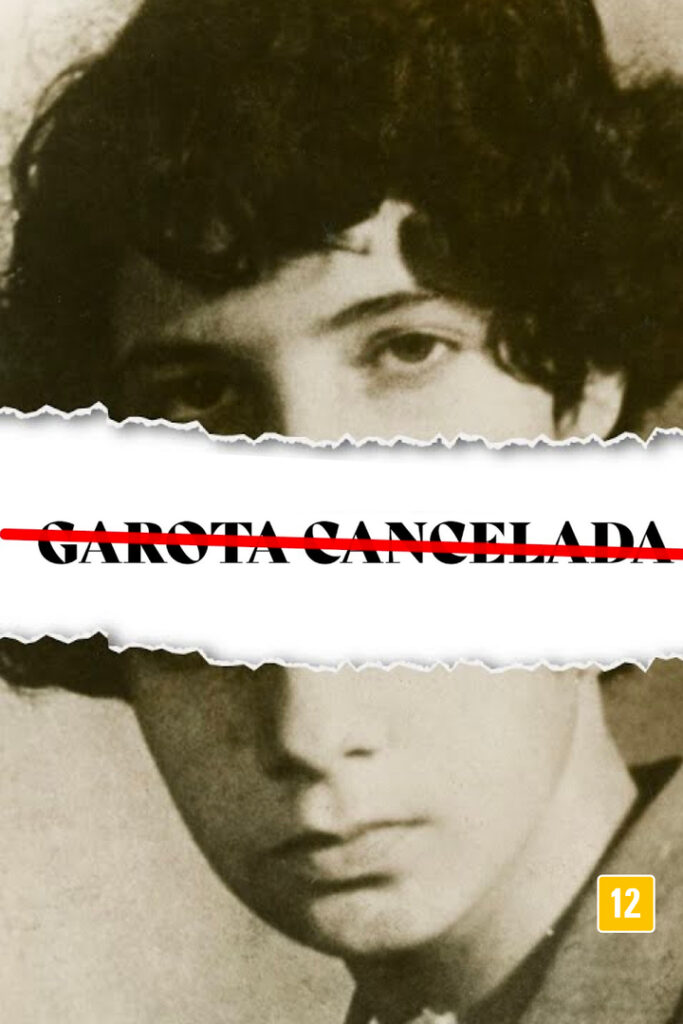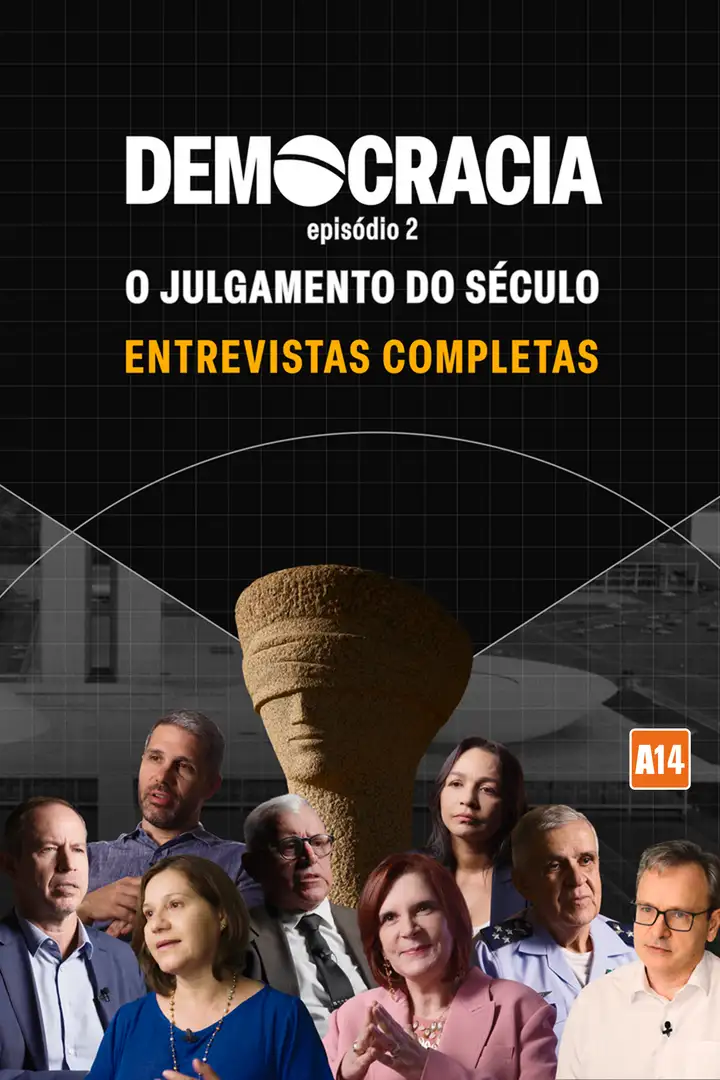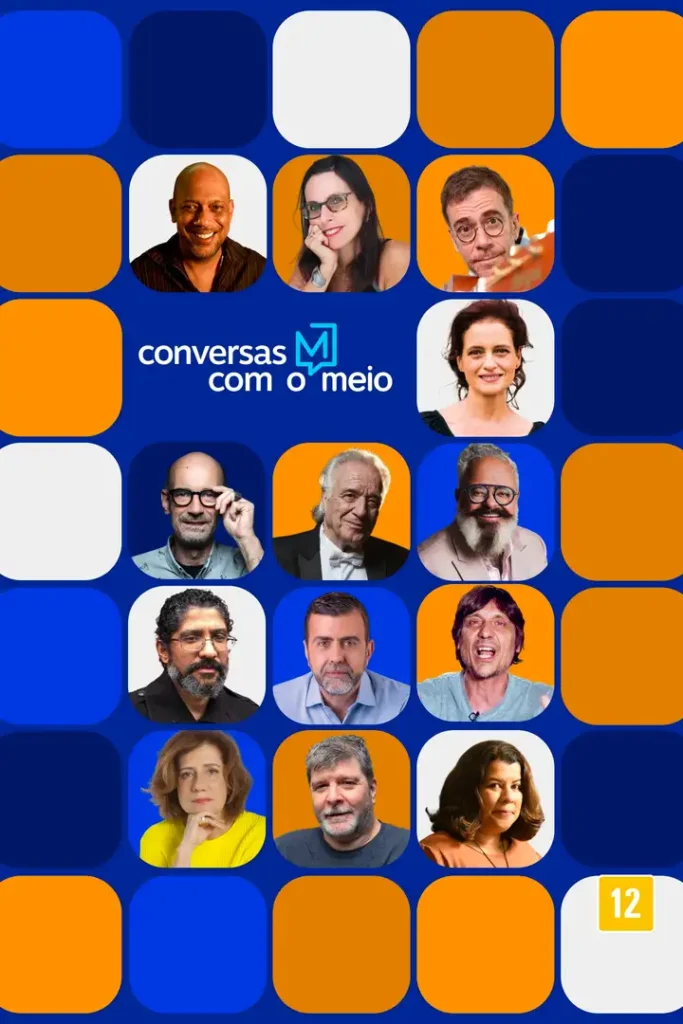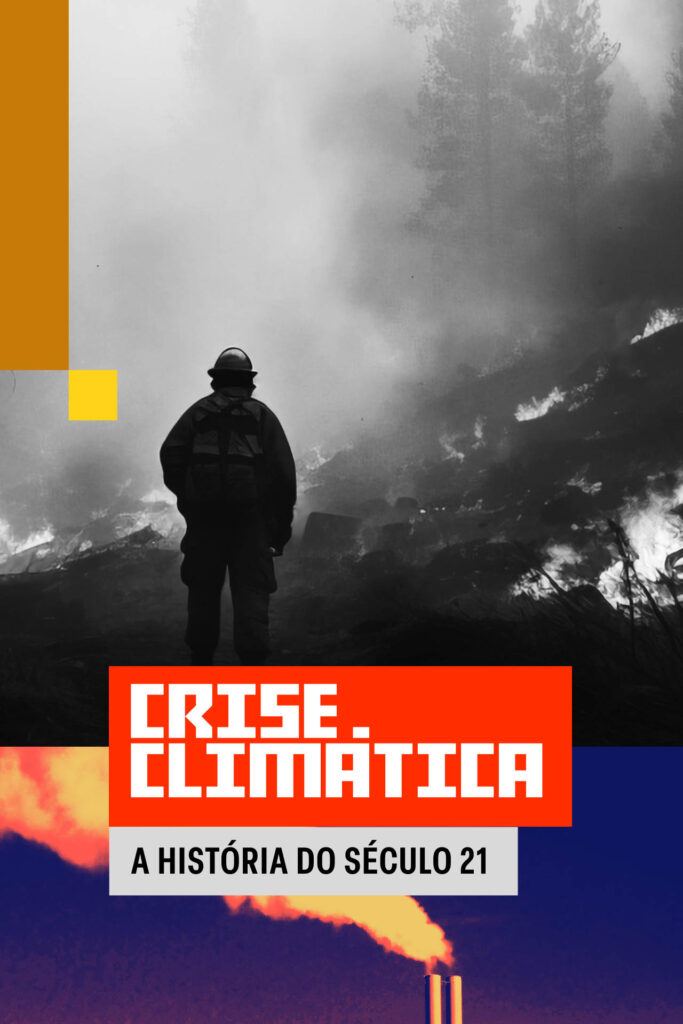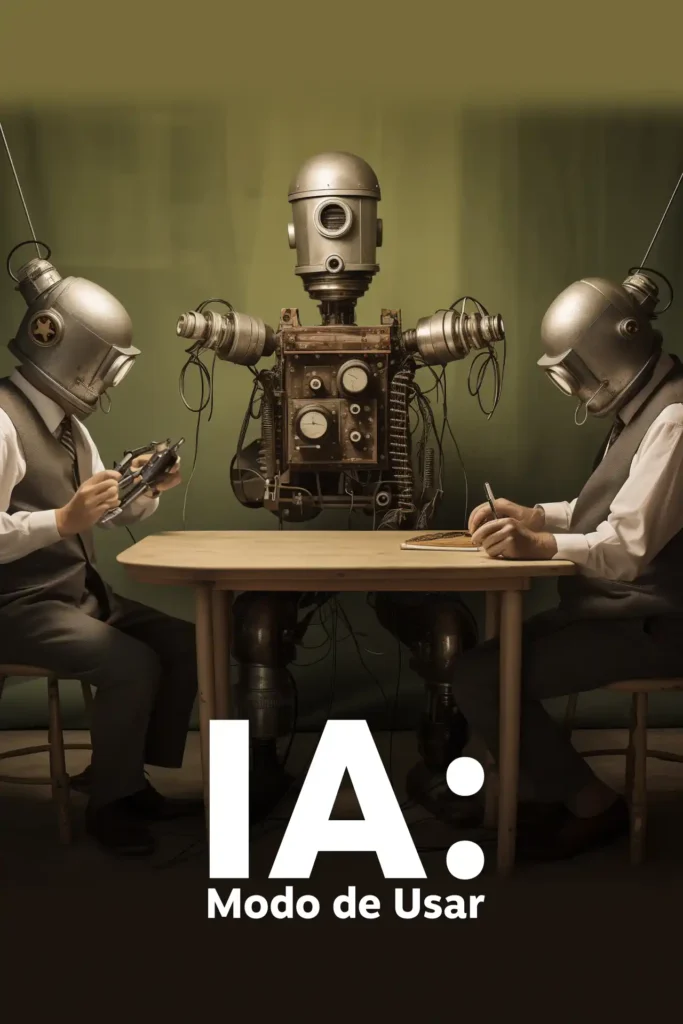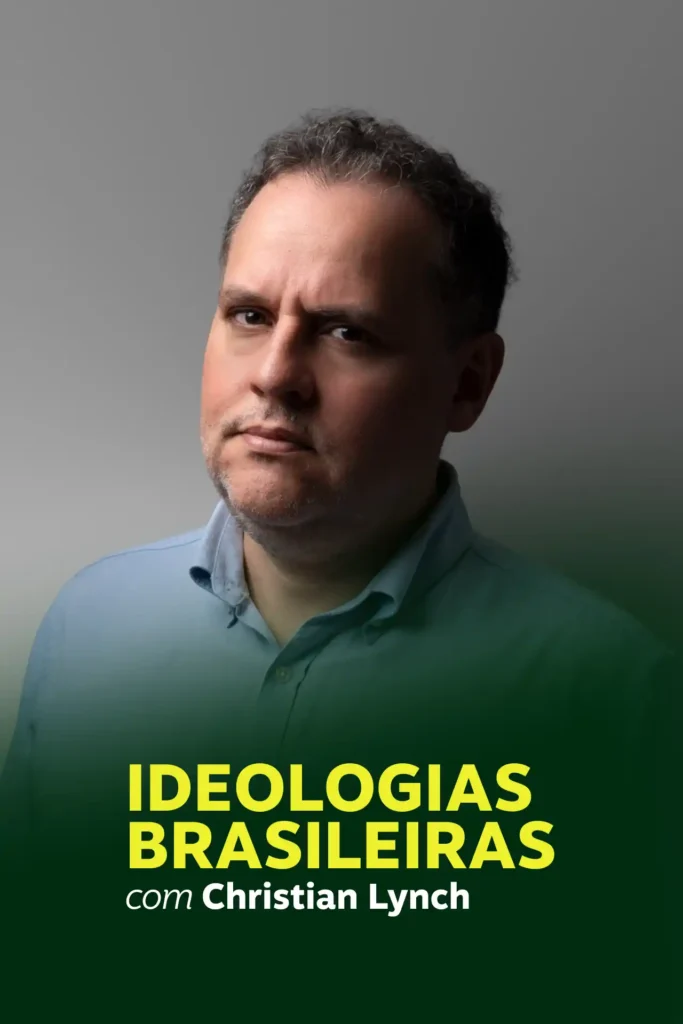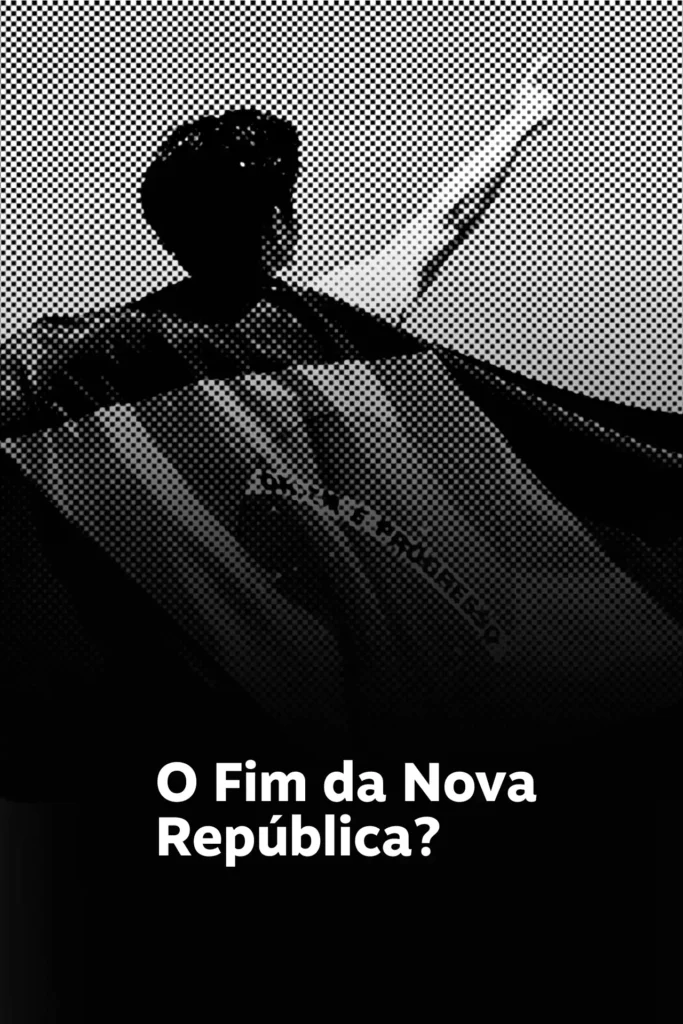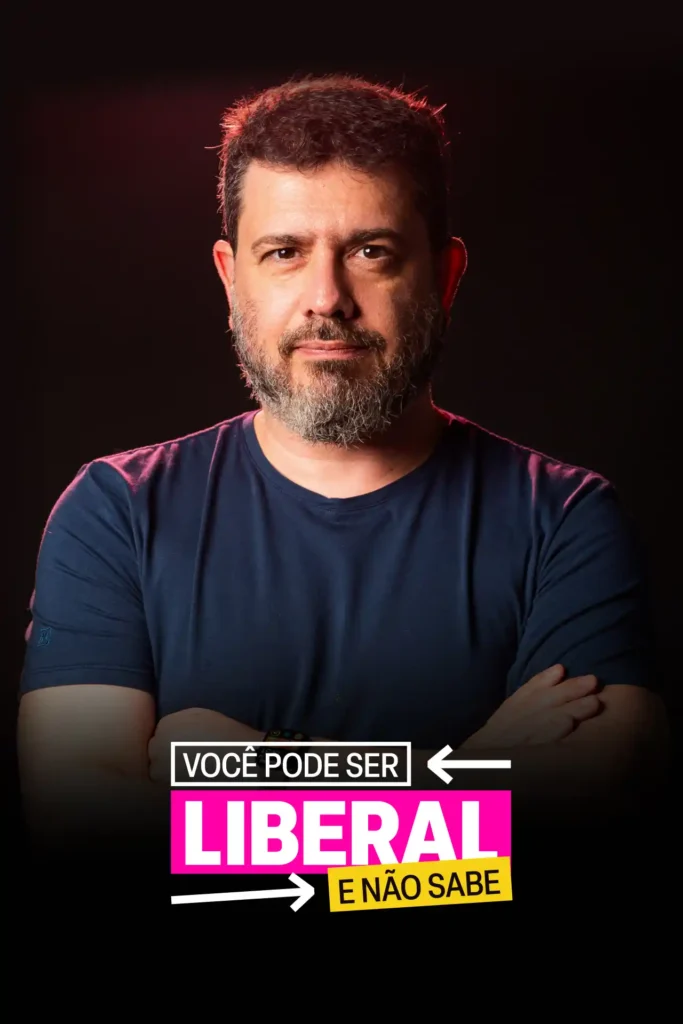A má compreensão do retrocesso democrático

Receba as notícias mais importantes no seu e-mail
Assine agora. É grátis.
Os casos de retrocesso democrático têm se multiplicado em todo o mundo nos últimos anos, provocando uma busca incansável por explicações. Uma das ideias mais comuns é a de que a culpa é das democracias que não cumprem suas obrigações: quando não proporcionam aos seus cidadãos benefícios socioeconômicos, muitos desses cidadãos abraçam figuras antidemocráticas que, uma vez eleitas, minarão as normas e instituições democráticas. Dessa ideia decorre a conclusão política de que, para impedir o retrocesso democrático, os formuladores de políticas e os provedores de ajuda internacional devem ajudar as democracias novas ou em dificuldades a melhorar a oferta de bens públicos aos seus cidadãos, como empregos, salários mais altos, segurança alimentar ou acesso à educação.
Parece quase indiscutível que os governos de qualquer vertente política que entregam resultados socioeconômicos sólidos para seus cidadãos serão, em média, mais estáveis e duradouros do que aqueles que não o fazem. No entanto, é menos claro que a falta de resultados por parte das democracias seja uma das principais causas da onda de erosão democrática. Há alguns casos em que isso parece ser, pelo menos, parcialmente verdade. Na Tunísia, por exemplo, a frustração popular acumulada com o desempenho socioeconômico de todos os governos que comandaram o país após a transição para um governo civil eleito em 2011 claramente influenciou a decisão do Presidente Kais Saied de realizar um autogolpe em 2021, revertendo a experiência democrática do país.
No entanto, também há casos em que o argumento da “democracia que não entrega resultados” parece muito menos verdadeiro, se é que existe: a Polônia, por exemplo, tinha um histórico econômico favorável nos anos anteriores ao início de seu retrocesso democrático, em 2015. É necessário desenhar um quadro bem-informado para investigar as complexidades que se escondem por trás dessa ideia intuitivamente atraente, porém generalizante.
Para desenhar esse quadro, examinamos doze países que sofreram retrocesso democrático nos últimos vinte anos a partir de um ponto de partida de democracia eleitoral ou democracia liberal: Bangladesh, Brasil, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Hungria, Índia, México, Nicarágua, Polônia, Tunísia e Turquia. Esse grupo inclui alguns dos casos mais proeminentes internacionalmente de retrocesso — Brasil, Estados Unidos, Hungria, Índia e Turquia —, ao mesmo tempo em que é representativamente diverso em várias dimensões, incluindo tamanho da população, nível de riqueza, localização geográfica, nível de democracia antes do início do retrocesso, a trajetória desse retrocesso e a reação a ele.
Para cada país, analisamos uma série de acontecimentos socioeconômicos e políticos para responder a três perguntas importantes: primeiro, a eleição do líder que acabou se envolvendo em um retrocesso estava claramente ligada a uma falha da democracia? Segundo, esse líder fez campanha com uma plataforma antidemocrática? E, em terceiro lugar, quando o retrocesso ocorreu, os cidadãos aceitaram? Nossas conclusões levantam muitas dúvidas sobre a utilidade da tese da “democracia que não entrega resultados”. Mesmo nos casos em que a tese se aplica, ela envolve uma complexidade considerável e exige uma interpretação diferenciada. Nossos achados reforçam, em nível global, um insight crucial extraído do importante estudo de Larry Bartels sobre as tendências democráticas na Europa: o de que as democracias “erodem de cima para baixo” e não por uma decisão de seus cidadãos.
Para examinar se o desempenho socioeconômico ruim precede a eleição de líderes que promovem o retrocesso democrático, analisamos três indicadores — desigualdade, pobreza e crescimento — nos cinco anos anteriores a cada uma das eleições cruciais em questão. A ideia de que a insatisfação com a crescente desigualdade leva os cidadãos a abraçar políticos iliberais talvez seja a forma mais comum da tese da “democracia que não entrega resultados”. No entanto, embora os níveis crescentes de desigualdade interna sem dúvida representem muitos problemas para as democracias (e outros tipos de sistema político), a relação com o retrocesso não é óbvia.
Em oito dos doze casos estudados, a desigualdade estava em tendência de queda nos cinco anos anteriores às eleições que levaram ao poder líderes que acabaram atentando contra a democracia, com uma queda média de quase 7% no coeficiente de Gini do país. Nos quatro países em que isso não ocorreu — Brasil, EUA, Índia e Tunísia —, a desigualdade ficou praticamente estável no período em questão. Com relação às taxas de pobreza, o quadro é semelhante: nos cinco anos anteriores ao início do retrocesso, os níveis de pobreza diminuíram em nove dos doze países — de maneira substancial em alguns casos, como na Índia e na Polônia.
Na maioria dos casos, o crescimento econômico foi relativamente estável por pelo menos cinco anos antes do início do retrocesso. E em alguns — Bangladesh, Filipinas, Índia, Polônia e Turquia —, o crescimento não era apenas estável, mas relativamente alto em termos regionais e globais. Três dos casos sofreram uma grande desaceleração econômica antes da eleição decisiva: Brasil, Hungria e Tunísia. Os EUA, por sua vez, sofreram uma desaceleração econômica em 2016, o ano de sua eleição crítica, mas isso ocorreu após um crescimento relativamente forte de 2010 a 2015.
Dois fatores parecem ter um papel importante nos resultados das eleições cruciais em alguns dos casos: a corrupção e a criminalidade
Embora a tese da “democracia que não entrega resultados” geralmente se concentre no desempenho socioeconômico, o que dizer da governança? Dois fatores parecem ter um papel importante nos resultados das eleições cruciais em alguns dos casos: a corrupção e a criminalidade. No Brasil, o escândalo da Lava Jato, que envolveu o PT e outros atores políticos importantes, foi um dos principais fatores de alienação de muitos em relação à elite política tradicional e de sua virada para Jair Bolsonaro em 2018. Com relação à criminalidade, o longo período de níveis extremamente altos de crimes violentos em El Salvador desempenhou um papel central para que os cidadãos abraçassem Nayib Bukele nas eleições de 2019. Nas Filipinas, Rodrigo Duterte focou sua campanha presidencial bem-sucedida na alegação de que a situação da criminalidade no país estava fora de controle e que ele resolveria o problema.
No entanto, mesmo com essa ampliação da lente, a busca pelo que levou à eleição desses vários líderes exige que se olhe além do desempenho insatisfatório. Na Nicarágua, Daniel Ortega conseguiu voltar ao poder em 2006, em grande parte, porque os dois principais partidos do outro lado do espectro político disputaram os mesmos votos, fazendo com que os 38% de votos de Ortega fossem suficientes para vencer no primeiro turno. Na Polônia, uma combinação complexa de fatores — incluindo promessas de novos auxílios do governo e um desejo um tanto vago de mudança — colocou o partido populista Lei e Justiça na linha de frente em 2015. Na Turquia, o fato de Recep Tayyip Erdogan ter impulsionado de forma eficaz certos temas sensíveis de cunho islamista ajudou ele e seu Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP) a conquistar o poder em 2002 e a permanecer no poder em 2007. E nos EUA, não foi principalmente a reação econômica dos americanos da classe trabalhadora que enfrentam dificuldades financeiras e sentem que foram “deixados para trás” que impulsionou a vitória de Donald Trump em 2016, mas sim sua habilidade em explorar animosidades e ansiedades culturais — sobre imigrantes, minorias raciais e China, por exemplo —, bem como outros fatores, como a forte aversão pessoal a Hillary Clinton entre determinados grupos de eleitores nos principais estados decisivos.
Mesmo quando o desempenho do governo se torna uma questão importante em uma eleição decisiva, as percepções, e não as realidades do desempenho, tendem a ser mais importantes. Nos últimos anos, os candidatos carismáticos vêm demonstrando uma habilidade notável em moldar negativamente as percepções dos cidadãos sobre o desempenho do titular, um fenômeno talvez alimentado por ambientes de mídia cada vez mais dinâmicos e manipuláveis.
O outro componente importante da tese da “democracia que não entrega resultados” é a proposição de que, quando os cidadãos se decepcionam com os resultados socioeconômicos da governança democrática, eles conscientemente votam contra a democracia. Aqui, também, o registro dos doze casos em análise não oferece um forte apoio. Em vez disso, reforça outra conclusão crucial de Larry Bartels sobre o surgimento do iliberalismo político na Polonia e na Hungria: quando os poloneses votaram no partido Lei e Justiça em 2015 e os húngaros escolheram o Fidesz e Viktor Orban em 2010, estavam votando por mudanças, mas não conscientemente pelo iliberalismo: somente após as eleições é que ficou claro que os vencedores estavam empenhados em remodelar radicalmente o sistema político, resultando em um “illiberalismo de surpresa”.
Nas eleições cruciais analisadas aqui, os cidadãos estavam votando por mudanças, como os cidadãos das democracias costumam fazer nas eleições. Mas, na maioria das vezes, não estavam votando em figuras políticas que prometiam abertamente uma ação antidemocrática ou a ameaça de anulação da democracia. Na Turquia, por exemplo, Erdogan não fez campanha com uma plataforma de antiliberalismo político ou antidemocracia nem em 2002, quando foi eleito primeiro-ministro, nem em 2007, quando foi reeleito pela primeira vez. Em vez disso, ele e seu partido se posicionaram na interseção entre a centro-direita e o tradicionalismo islâmico, oferecendo uma alternativa democrática aos principais partidos que, há muito tempo, dominavam a política turca.
A vitória histórica de Narendra Modi nas eleições de 2014 na Índia foi impulsionada principalmente por seu histórico de sucesso econômico em seu estado natal, Gujarat, e por sua reputação de líder sensato e favorável aos negócios, que promoveria reformas econômicas e combateria a corrupção. Os muitos tunisianos descontentes que votaram em Kais Saied em 2019 também não estavam optando por uma figura antidemocrática.
Alguns dos líderes eleitos nos países do estudo de caso que mais tarde promoveram a erosão democrática haviam agido de forma antidemocrática em seus passados políticos. No entanto, suas campanhas não foram baseadas nesse fato, e suas vitórias também não parecem ter sido. Em apenas três de nossos doze estudos de caso, pode-se dizer que o vencedor da eleição decisiva fez uma campanha que prometia especificamente ações antidemocráticas sistêmicas, embora não com a intenção declarada de minar todo o sistema democrático: Duterte, nas Filipinas, e Trump, nos Estados Unidos, ambos em 2016, e Bolsonaro, no Brasil, em 2018.
Antes de ser eleito presidente, Duterte havia governado a cidade de Davao com mão de ferro, ordenando execuções extrajudiciais de suspeitos de crimes, usuários de drogas e rebeldes comunistas. Na campanha ameaçou dissolver, calar ou ignorar o Congresso, os tribunais e os ativistas de direitos humanos que atravessassem seu caminho, e elogiou o ex-ditador Ferdinand Marcos. Trump, nos comícios da campanha de 2016, recebeu aplausos ao defender que sua principal oponente, Hillary Clinton, fosse “presa”, e disse que respeitaria os resultados da eleição somente se ganhasse. Da mesma forma, Bolsonaro, que rejeitou como “fake news” as acusações de que fosse uma ameaça à democracia brasileira, apesar de ser um conhecido apologista da ditadura militar, disse durante a campanha de 2018 que eliminaria seus oponentes políticos “do mapa”. Mesmo nesses casos, no entanto, as ameaças ou promessas antidemocráticas faziam parte de plataformas muito mais amplas que os candidatos defendiam ou se comprometiam a cumprir.
Exceto em alguns casos, os eleitores não estavam apoiando figuras políticas que defendiam o fim da democracia ou questionavam abertamente o valor da democracia em si. Na verdade, muitos pareciam estar tentando salvar a democracia, por meio de uma mudança acentuada, mas orientada a reformas.
Alguns dos líderes antidemocráticos nos países do estudo obtiveram níveis notavelmente altos de popularidade enquanto estavam no cargo. López Obrador, Bukele, Duterte e Modi se destacam nesse quesito. Esses líderes mantiveram sua popularidade, pelo menos em parte, dando aos seus apoiadores o que eles querem, seja por meio de políticas linha-dura contra o crime em El Salvador e nas Filipinas, políticas econômicas a favor dos pobres no México ou políticas sociais pró-hindus e nacionalismo vigoroso na Índia.
A maioria desses líderes, entretanto, manipula a opinião pública de várias formas ilegítimas. Os líderes de quase todos os doze países em retrocesso empregam um amplo controle sobre a mídia para moldar o espaço informacional a seu favor. Também usam frequentemente os recursos do Estado para financiar as campanhas políticas de seus próprios partidos e para cooptar empresas e outros grupos importantes, ao mesmo tempo em que perseguem os opositores com retaliações regulatórias, inspeções fiscais e outras medidas punitivas.
No Brasil, nos Estados Unidos e na Polônia, os líderes antidemocráticos perderam popularidade suficiente e enfrentaram instituições compensatórias fortes o bastante para que acabassem perdendo o poder em tentativas fracassadas de reeleição. No caso de Trump, por exemplo, o primeiro ano da pandemia de Covid atingiu duramente sua presidência, tanto os efeitos econômicos negativos quanto as fraquezas expostas em seu estilo de governança. Embora as ações antidemocráticas de Trump, Bolsonaro e do partido Lei e Justiça pareçam ter desempenhado algum papel no enfraquecimento de seu apoio popular, essa não é uma história simples.
Em todos os três casos, parece que as ações antidemocráticas dos líderes não incomodaram muito os principais apoiadores. Pesquisas de opinião antes da eleição presidencial de 2020 nos EUA mostraram que, mesmo antes do pleito, havia um forte desejo entre os partidários de Trump de que o presidente em exercício lutasse contra uma derrota eleitoral. Esses apoiadores não consideravam suas ações antidemocráticas tão prejudiciais ou estavam dispostos a aceitá-las em troca de outros ganhos políticos.
Ao mesmo tempo, os dados das pesquisas eleitorais indicam que as ações antidemocráticas de Trump, Bolsonaro e do partido Lei e Justiça os prejudicaram na franja de seus círculos de apoiadores — entre os eleitores que decidiram inicialmente experimentar, mas que não estavam firmemente comprometidos. Além disso, suas transgressões democráticas ajudaram a mobilizar seus opositores e a levá-los às urnas em número ainda maior.
De modo geral, foi uma ampla gama de fatores, e não apenas as queixas econômicas e de governança, que levaram os eleitores desses países a elegerem líderes que acabaram corroendo a democracia. Esses fatores incluem ansiedades socioculturais mais amplas, as impressionantes habilidades eleitorais e de retórica de alguns dos líderes em questão, aspectos específicos das leis eleitorais, a nova fluidez e corruptibilidade dos ambientes de mídia em muitas democracias, e o apelo frequente aos eleitores, em quase todos os lugares, da mudança como um fim em si mesmo.
Não se pode dizer que a maioria dos eleitores desses países tenha se afastado conscientemente da democracia ao fazer as escolhas nas urnas
Além disso, a maioria dos vencedores dessas eleições cruciais não fez campanha com promessas de desmantelamento da democracia. Mesmo aqueles para os quais isso era verdade concentraram suas estratégias eleitorais em outras questões, como políticas econômicas em favor dos pobres e dinamismo. Alguns pareciam ser a escolha mais democrática em comparação com seus principais adversários, como em Bangladesh em 2008 e na Tunísia em 2019. O iliberalismo que surgiu nos doze países do estudo foi, portanto, mais um iliberalismo após o fato do que um iliberalismo por promessa. Não se pode dizer que a maioria dos eleitores desses países tenha se afastado conscientemente da democracia ao fazer as escolhas nas urnas.
O que isso sugere é que é um erro apontar o fraco desempenho socioeconômico dos governos democráticos e a insatisfação dos cidadãos em relação a esse desempenho como os principais impulsionadores do retrocesso democrático. O ônus do retrocesso recai sobre os líderes que conquistam o poder por uma ampla gama de razões, inclusive, em muitos casos, prometendo renovar a democracia, mas que, uma eleitos, acumulam incansavelmente um poder irrestrito, anulando as instituições compensatórias e minando as normas e os procedimentos democráticos fundamentais. Nesses casos, o retrocesso tem menos a ver com uma falha da democracia em entregar resultados, mas sim com uma falha da democracia em conter as ambições e os métodos políticos predatórios de determinados líderes eleitos.
Essa conclusão não isenta os governos democráticos que estão deixando o poder, nesses e em outros casos, de suas muitas deficiências em termos de como governaram e o que entregaram aos cidadãos, o que, sem dúvida, causou ou agravou inúmeras dificuldades e injustiças. Na verdade, essas deficiências contribuíram para o ressurgimento, nos últimos anos, do antigo debate — que remonta à década de 1960 e antes — sobre se as autocracias são mais capazes do que as democracias de proporcionar benefícios econômicos. Mas nossas conclusões apontam como principais culpados pelo retrocesso democrático os políticos e partidos políticos que agiram de forma antidemocrática e a fragilidade das proteções institucionais da democracia nesses países.
A comunidade de organizações públicas e privadas que trabalham internacionalmente para desacelerar ou reverter a maré de retrocesso democrático deve enfatizar o reforço da independência e da força das instituições que servem de proteção contra invasões antidemocráticas por parte de figuras políticas. No que diz respeito às instituições públicas, isso pode incluir tribunais, órgãos anticorrupção, órgãos de gestão eleitoral e as partes do governo local que preservaram alguma autonomia do controle político nacional. Também pode incluir o trabalho com os parlamentos nacionais, se isso puder ser feito de forma a aumentar o papel do parlamento como um controle do Poder Executivo. Do lado não governamental, isso geralmente significa apoio à mídia independente e a grupos cívicos independentes que buscam responsabilizar os governantes, seja protegendo os direitos políticos e civis, aumentando a accountability do governo ou combatendo a desinformação política.
Priorizar essa abordagem não significa que os apoiadores internacionais da democracia devam renunciar aos esforços em curso ou em potencial para ajudar governos democráticos novos ou em dificuldades a obter melhores resultados socioeconômicos para seus cidadãos. Esses esforços são válidos por si só, pois contribuem para uma vida melhor para as pessoas em todo o mundo democrático. Mas esses esforços devem ser vistos como um complemento, e não como um substituto, de uma estratégia primária de fortalecimento das fontes e estruturas internas de controle pró-democrático e de desincentivo aos líderes politicamente predatórios para que não aprofundem suas aventuras antidemocráticas.
***
O artigo completo será publicado na edição de outubro do Journal of Democracy em Português, da Plataforma Democrática (Fundação FHC e Centro Edelstein de Pesquisas Sociais). As demais edições estão disponíveis gratuitamente para download.