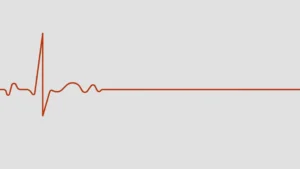Prezadas leitoras, caros leitores —
Em virtude do recesso de fim de ano, esta é a última edição do Meio Político em 2025. Estaremos de volta no dia 7 de janeiro com um artigo inédito de Creomar de Souza.
A todos boas festas e um feliz 2026.
Os editores.
Os limites éticos do ‘poder moderador’ da República

Receba as notícias mais importantes no seu e-mail
Assine agora. É grátis.
A importância do STF exige um código de conduta para reduzir ambiguidades antes que se convertam em crises de legitimidade
O Supremo Tribunal Federal não se tornou o centro do sistema político brasileiro por acaso, nem por voluntarismo de seus ministros. Esse deslocamento é resultado de um longo processo iniciado com a Constituição de 1988, aprofundado pela fragmentação do sistema partidário, acelerado pela crise de governabilidade do presidencialismo de coalizão e consolidado após 2013, quando a política passou a transferir sistematicamente seus impasses para o Judiciário. Desde então, o STF deixou de ser apenas uma corte constitucional para se tornar instância arbitral permanente de conflitos estruturais — eleitorais, federativos, econômicos e culturais — que a política já não consegue resolver por si mesma.
Essa centralidade produziu efeitos ambivalentes. Em momentos críticos, como durante a erosão democrática do ciclo bolsonarista, o Supremo funcionou como dique de contenção institucional. Ao mesmo tempo, acumulou um poder simbólico e decisório inédito na história republicana, aproximando-se, na prática, de um papel moderador informal. Não foi apenas entre os militares que prosperou, desde a instauração da República, o imaginário de herdeiros do quarto poder imperial. Ele também se difundiu entre atores jurídicos, com a diferença de que, nesse caso, o papel foi atribuído ao Supremo. Na discussão relativa à criação dessa função na Constituinte de 1890, enquanto o ministro da Justiça do governo provisório enunciava as atribuições da nova corte, o deputado Gonçalves Chaves não hesitou em intervir em aparte: “É o poder moderador da República”.
Quanto mais concentrado o poder, mais estreita se torna a margem para ambiguidades
É precisamente aí que surge o problema: instituições que ocupam posições excepcionais não podem operar segundo padrões éticos ordinários. Quanto mais concentrado o poder, mais estreita se torna a margem para ambiguidades. Como titular do Poder Moderador do Império, Dom Pedro II teve decisões frequentemente contestadas no plano político, mas nunca se colocou em dúvida, de modo sério, sua imparcialidade ou sua honestidade pessoal. Ao contrário: entrou para a história republicana como uma figura paradoxalmente celebrada — a do “imperador republicano”. O próprio Rui Barbosa, que participou do golpe republicano, o reconheceria em discurso de 1914: “No outro regime, o homem que tivesse certa nódoa em sua vida era um homem perdido para todo o sempre —
as carreiras políticas lhe estavam fechadas. Havia uma sentinela vigilante, de cuja severidade todos se temiam e que, acesa no alto, guardava a redondeza, como um farol que não se apaga, em proveito da honra, da justiça e da moralidade gerais”.
Em chave distinta, foi também em nome de uma missão regeneradora que o chamado judiciarismo, ao longo da República, atribuiu ao Supremo Tribunal papel de velar — e às vezes de garantir — contra as tendências oligárquicas, autoritárias e patrimoniais do novo regime os princípios democráticos, liberais e republicanos inscritos em suas constituições. Não foi outro o sentido da pregação do próprio Rui Barbosa e de outros juristas liberais, alguns dos quais vieram a ocupar cadeiras no Supremo Tribunal Federal: Pedro Lessa, João Mangabeira, Levi Carneiro, Aliomar Baleeiro. A frustração dessas expectativas marcou a posição de outros, como Afonso Arinos de Mello Franco, que preferiu apostar no parlamentarismo.
Desde 1988, porém, afastado o Exército como concorrente, o Supremo passou aparentemente a corresponder às expectativas do judiciarismo, chegando mesmo ao exagero de oferecer, na década passada, pleno respaldo institucional ao chamado “tenentismo togado” da Lava Jato. Juízes e promotores de Curitiba e seus aliados — a começar pelo então procurador-geral da República — apresentaram esse movimento como esforço indispensável para “passar o país a limpo”. Foi também o período em que o ministro Luís Roberto Barroso sustentava ser função da Corte exercer um papel “contramajoritário, representativo e iluminista”, capaz de “atender demandas sociais que não foram satisfeitas a tempo pelo Legislativo” e de atuar em “conjunturas nas quais é preciso empurrar a História”.
O problema é que esse discurso republicano do atual “poder moderador” da República vem sendo, nos últimos anos, comprometido pela opacidade da atuação de alguns de seus próprios membros.
O debate recente sobre a atuação profissional de familiares de ministros do STF — em especial no campo da advocacia — deve ser compreendido nesse registro. Não se trata, ao menos em sua formulação séria, de imputar ilegalidade ou de insinuar corrupção. O próprio Supremo, em julgamento anterior, entendeu não haver impedimento jurídico para que cônjuges ou parentes próximos mantenham escritórios de advocacia, inclusive com atuação perante a Corte, desde que o ministro diretamente relacionado se declare impedido. Essa solução pode ser defensável à luz de uma leitura estritamente processual das regras de impedimento. O que ela ignora é a transformação institucional do próprio Supremo.
A distinção clássica entre conflito de interesses real e aparente deixa de ser um detalhe técnico para se tornar questão de legitimidade
O STF contemporâneo não é mais um tribunal de cúpula discreto, voltado predominantemente à guarda abstrata da Constituição. É um ator que interfere diretamen te na economia política do país, produz efeitos regulatórios profundos e afeta expectativas de mercados, governos e agentes privados. Nesse contexto, a distinção clássica entre conflito de interesses real e aparente deixa de ser um detalhe técnico para se tornar questão de legitimidade. Cortes constitucionais não sobrevivem apenas da correção formal de suas decisões, mas da confiança difusa de que elas não estão atravessadas por vínculos privados, ainda que lícitos.
É aqui que o precedente do próprio Supremo revela sua fragilidade. Ao tratar a questão como se estivesse diante de um juiz comum, o Tribunal aplicou a si mesmo um padrão ético pensado para instituições que não concentram tamanho poder. O resultado foi a abertura de uma zona cinzenta que não gera necessariamente ilegalidades, mas produz ruído institucional permanente — ruído que corrói a autoridade da Corte e alimenta, paradoxalmente, campanhas de deslegitimação conduzidas tanto por adversários de má-fé quanto por críticos sinceros do hipertrofismo judicial.
Não é irrelevante que essa controvérsia emerja num país cuja história é marcada pela confusão persistente entre o público e o privado. O Supremo não opera no vácuo institucional de democracias consolidadas; atua num ambiente social profundamente desconfiado, no qual a percepção de privilégios costuma preceder — e muitas vezes substituir — a prova de abusos. Ignorar esse dado é subestimar o contexto no qual a Corte exerce sua autoridade.
Por isso, a adoção de um código de ética claro, público e vinculante para os ministros do STF não deveria ser vista como concessão a pressões externas nem como gesto moralista. Trata-se de um movimento de autorrestrição institucional, compatível com o novo lugar ocupado pelo Tribunal no sistema político. Códigos desse tipo não existem para punir desvios, mas para reduzir ambiguidades antes que elas se convertam em crises de legitimidade.
Mais do que isso, é preciso reconhecer que o Supremo pode — e talvez deva — revisar o entendimento que autorizou a atuação de escritórios de advocacia de familiares junto à própria Corte. A revisão de precedentes não é sinal de instabilidade; é parte da adaptação institucional a novas circunstâncias. O STF já revisou entendimentos sobre prisão, execução penal, financiamento de campanhas e competências federativas. Não há razão para tratar a própria ética institucional como tema imune à revisão.
Ao impor limites mais rigorosos a si mesmo, o Supremo não estaria enfraquecendo sua autoridade, mas tentando preservá-la num ambiente político cada vez mais hostil às mediações institucionais. A alternativa é manter o arranjo atual e aceitar que, a cada decisão sensível, a Corte pague o preço da suspeita — não necessariamente justa, mas socialmente eficaz.
O problema, em suma, não é jurídico em sentido estrito. É político-institucional. Um tribunal que se tornou central demais para errar precisa ser também central na construção de seus próprios freios. Caso contrário, continuará a exercer poder em condições de legitimidade decrescente, sustentado menos pela confiança pública do que pela ausência de alternativas institucionais. E esse é, historicamente, um terreno instável para qualquer corte constitucional.