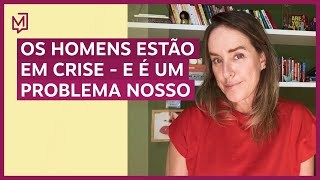História visual do Brasil
Marcelo D’Salete era um dos dois únicos alunos de uma sala de 30 estudantes de artes visuais que vinham da Zona Leste de São Paulo. Formado em design gráfico, ele ingressou na USP depois de passar no pré-vestibular Núcleo de Consciência Negra, onde recebeu uma formação política que seria crítica tanto para traçar os caminhos multidisciplinares dentro da universidade como para construir os alicerces de um autor que combina imaginação e rigor acadêmico para levar as histórias negras para os quadrinhos. Hoje ele é um dos mais premiados autores brasileiros, tendo recebido o Oscar dos Quadrinhos, o Prêmio Eisner por seu livro Cumbe, de 2014.
Informado por textos históricos, mas também pela música negra brasileira, do soul e do samba-rock dos anos 1970 até o rap dos anos 1990, pelo cinema e pela literatura, ele começou sua trajetória escrevendo duas novelas gráficas sobre a experiência da juventude negra em São Paulo, Noite Luz e Encruzilhada, para depois enveredar por uma narrativa histórica a partir de Cumbe, com os também premiados Angola Janga e Mukanda Tiodora. Com um traço em branco e preto e uma narrativa econômica em palavras e rica em visual, traz uma profundidade lírica à história dos negros no país, sem abrir mão da crítica
Agora, Marcelo acaba de lançar seu primeiro livro para crianças, Luanda no Terreiro, e participa, neste fim de semana, da Feira do Livro Periférico, que acontece até domingo no Sesc Consolação. Um bom pretexto para conversar com ele sobre a sua obra. Leia abaixo os principais trechos da entrevista.
A base do que você olha para construir sua pesquisa é uma historiografia muito ocidentalizada, muito branca. Como os seus quadrinhos, principalmente o seu olhar para o Brasil colônia, para esses documentos históricos, consegue contrabalançar essa ótica sempre muito europeia?
Olha, é uma experimentação, uma tentativa. Ainda estamos construindo essa forma de ver a nossa história, de fugir de estereótipos, de criar uma nova experiência de leitura. É claro que esses documentos, em grande parte, são escritos pelas forças coloniais, imperiais, pela polícia da época e pelo sistema jurídico. Os documentos sobre Palmares são os dos invasores, né? De quem subia a serra para destruir aqueles quilombos. A Tiodora foi uma mulher negra escravizada em São Paulo, que em 1866 escreve um conjunto de sete cartas com ajuda de um outro escravizado. É algo raro dentro da história da escravidão no Brasil e provavelmente em boa parte da América. Ali ela traz sua visão em primeira pessoa. Muitas vezes, criar essas narrativas é saber ler esses documentos, mas saber também imaginar as frestas, as possibilidades que existem entre esses documentos. Por exemplo, pensando em Palmares, era importante tentar imaginar como seria o quilombo por dentro. E isso a gente consegue pela ficção. É sempre um exercício de imaginação. A gente tem os fatos principais sobre a saga de Palmares. Então, nós sabemos que ali teve um acordo tipo o de Cucaú em 1678, sabe que os primeiros quilombos de Palmares surgiram no começo de 1600. A gente sabe do relato dos holandeses quando subiram a serra para destruir os quilombos por volta de 1640. Agora nós não temos informações das pessoas que estavam dentro do quilombo. Então, a ideia do livro era um pouco respeitar esses principais fatos, mas construir uma perspectiva desses palmaristas, desses quilombolas de dentro, como que eles teriam agido nessas diversas circunstâncias.
Suas primeiras obras, Noite Luz e Encruzilhada, são crônicas da asfixia urbana contemporânea, muito do presente. Já Cumbe, Angola Janga e Mukanda Tiodora mergulham no passado do Brasil colonial, em um olhar para a história. O que causou essa virada de chave?
Noite Luz e Encruzilhada traziam a vivência de um garoto negro da periferia de São Paulo indo trabalhar inicialmente como office boy no centro da cidade, se deparando com um momento muito tenso de São Paulo na década de 90, onde tinham muitos casos de crianças morando na rua. É a época da Candelária lá no Rio de Janeiro, e aqui em São Paulo tinha histórias envolvendo crianças de rua e arrastão no centro da cidade. Eu vivenciava muito isso na pele. Não cheguei a ver esse tipo de situação, mas eu era um garoto negro andando pelo centro da cidade. Muitas vezes as pessoas passavam e escondiam a bolsa, sabe? Ia entregar um documento em um banco e você era direcionado para o elevador de serviço. Enfim, essa experiência marca a vida de qualquer um. São reiteradas experiências de discriminação. E olha que as minhas aconteceram, foram várias, mas diria que nem foram as mais violentas possíveis, como as que outros jovens negros passaram. Os livros trazem muito do que eu estava vendo ali diretamente ou de histórias que ouvia dos colegas ou lia no jornal. Então é todo um imaginário, um retrato de uma época, utilizando o quadrinho, essa mídia que eu queria dominar e estava começando a criar uma visualidade própria. Esses livros fazem parte dessa necessidade de entender o momento presente, mas também uma necessidade muito grande minha de contar histórias que tivessem próximas e de dominar esse meio dos quadrinhos.
E vira quando?
Assim que eu vi que eu já criava ali as minhas próprias histórias, fui me deparando desde 2004, 2005, 2006 com esses cursos na universidade, onde eu estava lendo muito sobre história negra do Brasil. E conhecendo muito sobre Carolina Maria de Jesus, sobre a própria história da Tiodora Dias da Cunha, Palmares, quilombos, me deparando com diversos grandes historiadores como Flávio Gomes, Clóvis Moura, Décio Freitas, entre vários outros. Fui vendo que havia uma gama enorme de personagens negros históricos, não somente personagens, mas momentos históricos negros importantes que estavam ausentes dos quadrinhos. Talvez o Maurício Pestana seja um dos poucos quadrinistas que tenham desde as décadas de 1980 e 1990 trabalhado com esses temas. O André Diniz também fez alguns quadrinhos importantes sobre isso. Mas, tirando esses autores, havia bem poucos trabalhos trazendo essa história negra. Então, foi uma necessidade. Eu pensei: “Tem um vácuo enorme dentro disso”. E tentar imaginar esse Brasil de séculos atrás a partir do meu desenho foi um desafio que eu mesmo criei.
E como você analisa essa conexão entre a violência estrutural desse período colonial retratado em Cumbe e principalmente em Angola Janga com as formas contemporâneas de racismo e de violência policial, essas feridas que parecem permanecer abertas no Brasil?
A gente tem que entender que o Brasil tem cerca de cinco séculos de existência. Praticamente quatro séculos foram dentro de um regime de escravidão. Inclusive, quando o Brasil se torna império, ele é um dos poucos países do mundo que tem a independência da metrópole, mas com a manutenção da escravidão. Alguns autores comentam que a escravidão foi relevante para manutenção do império. Era um pacto dos fazendeiros com o império para que o Brasil continuasse existindo daquele modo. E de que modo? Extremamente desigual, sem a partilha da terra, sem fazer com que grande parte da população negra, pobre, tivesse acesso minimamente à riqueza produzida por aquela sociedade. Esse pacto de certo modo surge no Brasil colônia, mas permanece no Brasil imperial, ele a gente pode dizer que uma grande parte dele também tem uma continuidade na república. Não é à toa que o Brasil se torna uma república em 1889 e, logo depois, a gente tem a questão da lei da vadiagem, a não inserção dessa população negra nos diversos postos de trabalho, a imigração europeia utilizada como ferramenta de embranquecimento de grande parte da população. Você tem intelectuais por volta de 1910 dizendo que em no máximo 100 anos o Brasil seria um país branco. Então, há todo um projeto de extinção e de violência contra a população negra no Brasil, e esse projeto ainda está em curso. Talvez não seja hoje apenas um projeto de extinção, mas é um projeto sim de subordinação, de subjugação dessa população em grande parte. De não fazer com que essa população tenha acesso a essas riquezas e de manutenção dela nos setores mais baixos da pirâmide social. Eu diria que nós tivemos alguns poucos movimentos nas últimas décadas pelas ações afirmativas e algumas outras políticas públicas que conseguiram mitigar um pouco desse fosso enorme, mas isso ainda está em construção. É algo que com certeza só se modifica em muitas décadas. O Brasil atual vive justamente esse conflito. De forças que querem que essas mudanças avancem, mas também de muitas forças reacionárias que não querem que esse Brasil mude. Então, há diversos Brasis aí em disputa.