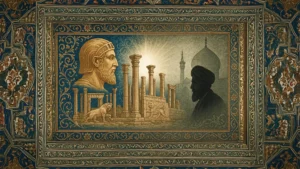Joana e Maria

Em um 30 de maio como hoje, só que em 1431, Joana D’Arc era queimada viva em Rouen, condenada por heresia. A camponesa que se havia liderado o exército francês contra os ingleses na Guerra dos Cem Anos é um dos mais emblemáticos símbolos da força feminina. São muitas camadas em torno de sua história, da camponesa que se torna guerreira, da herege que, 300 anos depois, é considerada santa. Joana D’Arc moldou tanto o arquétipo da guerreira que uma outra mulher de origem popular, Maria Quitéria, tornada líder no campo de batalha durante a Guerra da Independência do Brasil, recebe o apelido de Joana D’Arc brasileira.
Essas duas histórias se entrelaçam no livro “Revolucionárias: Joana d’Arc e Maria Quitéria”, escrito pela socióloga brasileira Isabelle Anchieta. Mais do que um cruzamento biográfico, a autora estrutura todo o pensamento sobre essa mulheres a partir dos registros iconográficos e de uma pesquisa sobre os lugares pelos quais passaram em vida. Como Isabelle Anchieta conta ao Meio nesta entrevista: “Não sem razão recupero este passado e não outro, essas mulheres e não outras. Elas dizem de algo que só hoje se consolida: a conquista social da expressão de si. De viver de acordo com seus anseios primordiais, sem restrições morais, religiosas, legais e institucionais. Mas também apontam para algo que nos falta: a luta por um futuro comum, de um propósito que nos una e nos ultrapasse. Esse difícil exercício de encontrarmos uma interseção, de tentarmos consensos, ainda que difíceis.”
Sua pesquisa para esse livro parte de um estudo das imagens. O que você encontrou de paralelismo entre as iconografias de Joana D’Arc e de Maria Quitéria, separadas por 400 anos e um oceano?
Apesar do ‘oceano’ de diferenças socioculturais entre Joana D’Arc e Maria Quitéria, a ambiguidade coincide nas iconografias. Ambas oscilam entre a brutalidade e a inocência, que em grande medida foi traduzida na oposição masculino versus feminino. Um paradoxo que produz uma representação fascinante para o público. Tais imagens tocam em uma provocação central que faço na introdução: “Por que essa sociedade não sufocou a trajetória dessas mulheres, não lhes impediu a ascensão social e simbólica? Como essas sociedades, tanto a do séc. 15 e (ainda) quanto a do 19, que restringiam as funções femininas à maternidade ou à reclusão no convento, não só as aceitaram, mas as aclamaram como mulheres e militares?”. Teria razão o francês François Starita, quando pergunta: Até que ponto a sociedade que proíbe, de certa forma, deseja a subversão feminina?
E quais são as principais diferenças entre essas duas mulheres e o que faz cada uma delas se enquadrar numa jornada de heroína?
Uma viveu em plena crise do mundo medieval, ainda orquestrado pela religiosidade popular e diante do impasse da construção do Estado francês. Outra, em uma sociedade colonial e escravista, que dava seus primeiros passos em busca de uma identidade e da independência nacional. França e Brasil. Idade Média e Moderna. O civilizado e o prosaico que habitam nos dois mundos. Apesar das muitas diferenças que as separam, muitas linhas as entrelaçam. Um caminho repleto de entraves sociais. Foram questionadas, testadas e tiveram de fazer uso de inteligência e capacidades pessoais para romper os impasses culturais. E romperam. No livro busco desvelar em que medida as similitudes das trajetórias de mulheres tão diferentes não são frutos de meras coincidências, ou de uma jornada de uma “heroína”, mas de como viveram (e enfrentaram) os arranjos sociais de sua época. É nessa direção que realizo uma “sociologia das revolucionárias”, e as compreendendo como “heroínas imperfeitas”, tentando extrair delas as contradições humanas em grande medida gestadas em suas as relações sociais.
Sua pesquisa parte da iconografia, mas vai além, mapeando também os lugares por onde passaram e viveram, como os diferentes contextos são apresentados no livro?
Passei quase quatro anos estudando e percorrendo cidades, museus, arquivos na França e no Brasil, por onde passaram a francesa Joana d’Arc e a brasileira Maria Quitéria, em busca de documentos originais e em contato direto com os locais, pesquisadores e representações sobre essas mulheres (os registros dessa pesquisa poderão ser acessados via QRCodes dispostos ao longo do livro). Por isso, alerto que, o que realizo não são propriamente biografias, nem há pretensão de uma rememoração histórica. Sigo um outro caminho: entrelaço esses conhecimentos como meios para abrir reflexões sociológicas atuais e pertinentes, usando as imagens como guias, ainda que traiçoeiras. A cada capítulo encontrei uma oportunidade de aprofundar um tema, como: a polarização social, o nacionalismo, a religião, a estereotipização dos outros, a intolerância, as disputas por reconhecimento, as contradições nas relações entre homens e mulheres, a liderança carismática, a expressão de si, o heroísmo (imperfeito), dentre outros.
No caso de Joana D’Arc, como você vê a intersecção entre política e religião, sobretudo como isso transparece em sua biografia e na manutenção de sua importância cultural?
Um bom exemplo para entender não só a intersecção, mas a tensão entre a política e a religião no caso de Joana é uma das mais exuberantes e chamativas esculturas equestres de Joana d’Arc que está no ponto mais nobre de Paris, na Place des Pyramides, do francês Emmanuel Fremiet (1874). A única escultura dourada de Joana distante da ideia de uma camponesa humilde e simplória. A escultura é até hoje palco de manifestações das mais diversas posições políticas e ideológicas. Como o polêmico caso do professor de história Amédée Thalamas, quando em um curso na Universidade de Sorbonne, em 1908, desacredita o caráter sobrenatural da missão de Joana d’Arc. O questionamento provocará uma reação apaixonada e violenta de um grupo de alunos católicos e monarquistas. As aulas do professor são invadidas, ele agredido e a escultura de Joana, na Place des Pyramides, alvo de homenagens e flores. O acontecimento desencadeará a reação dos republicanos em uma série de conflitos e debates públicos que se agravam com o processo de canonização de Joana (1868-1920). A despeito dos questionamentos e ataques a imagem de Joana não perde força. O embate entre os grupos é prova da resistência do seu imaginário, em pleno século 20. É, sobretudo, sintoma de sua difícil e desencaixada apropriação ideológica e política. Isso porque Joana representou (e representa) ao mesmo tempo os monarquistas e o povo, feministas e conservadoras, católicos e protestantes, servindo –sem entrar em contradição– as mais antagônicas bandeiras. Afinal, Joana d’Arc foi (e é) uma mulher de muitas facetas.
Maria Quitéria foi chamada de A Joana D’Arc brasileira, como você interpreta esse legado?
Esse é, de fato, um intrigante “ponto-cruz”, para usar a metáfora do bordado que utilizo no livro. Eis o estranho mistério da teia social, que, a despeito das distâncias (temporais, espaciais, sociais e culturais), repete-se. A origem rural, as relações familiares, a fuga de casa, a incomum vocação militar, as astúcias para realizar esse desejo, a liderança carismática, a prova de suas habilidades nas batalhas e o reconhecimento público. No entanto, se Joana ganha o imaginário social não só francês, mas ocidental, o mesmo não acontece com Quitéria, que possui um reconhecimento oscilante e regional. O entrelaçamento e a comparação entre Joana e Quitéria, nos serve ao propósito de iluminar a nossa personagem nacional e dar a ela o conhecimento e o reconhecimento merecido. Entrelaçar as duas trajetórias também nos serve a outro importante propósito: revelar que a história da mulher não é fragmentária, enciclopédica, nem feita de excepcionalidades. Quanto mais pesquiso, mais me dou conta de que a história das mulheres é mais fruto de desconhecimento do que de ausências históricas. Elas foram presentes, atuantes, porém suas histórias não foram contadas e a memória é sempre traiçoeira quando não registrada. Sabemos pouco e superficialmente sobre o papel das mulheres nas revoluções. Esse pouco conhecimento dá a impressão de que a história das mulheres é esporádica, feita de ondas e escassas heroínas. Apesar disso, arrisco afirmar que elas sempre estiveram na linha de frente – ou articulando diplomaticamente – em todas as grandes revoluções políticas e de costumes.
O que essas duas figuras revolucionárias têm a comunicar para o mundo de hoje, em especial para as mulheres?
Joana D’Arc e Maria Quitéria lutavam por uma comunidade afetiva ampla. Esse é o desafio de ontem, hoje e de amanhã: como usar essa força social associativa, esse desejo por fazer parte, para construir pertencimentos mais amplos e menos segmentados. Do tribalismo para um humanismo. Ou mais precisamente um “individumanismo”. Aquele que entenda que somos indivíduos profundamente diferentes, que não podem ser classificados e separados em grupos fechados, mas que temos a humanidade em comum. Uma síntese entre o que há de mais singular e o mais comum, me parece ser o caminho para quebrar a recorrente tendência de odiarmos os outros, para reconhecê-los como indivíduos que compartilham a humanidade conosco. Não sem razão recupero este passado e não outro, essas mulheres e não outras. Elas dizem de algo que só hoje se consolida: a conquista social da expressão de si. De viver de acordo com seus anseios primordiais, sem restrições morais, religiosas, legais e institucionais. Mas também apontam para algo que nos falta: a luta por um futuro comum, de um propósito que nos una e nos ultrapasse. Esse difícil exercício de encontrarmos uma interseção, de tentarmos consensos, ainda que difíceis.