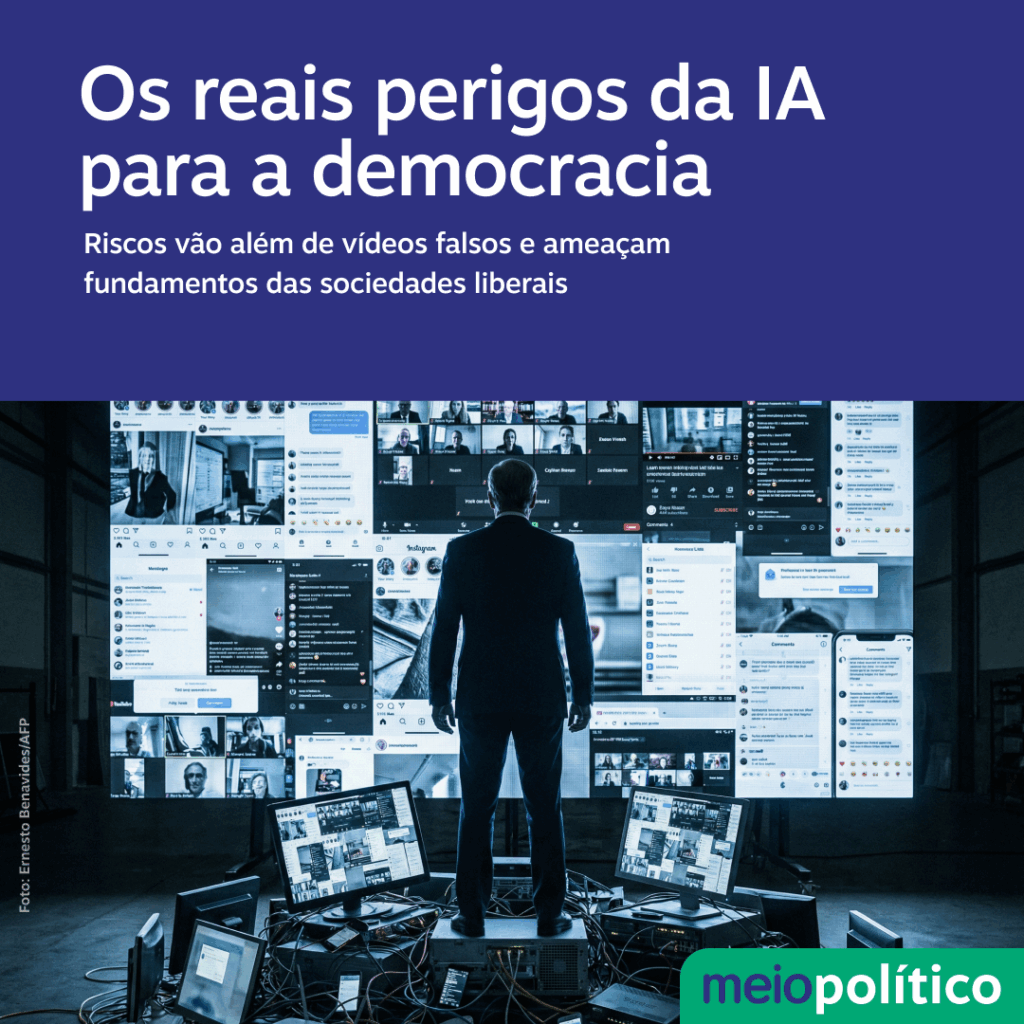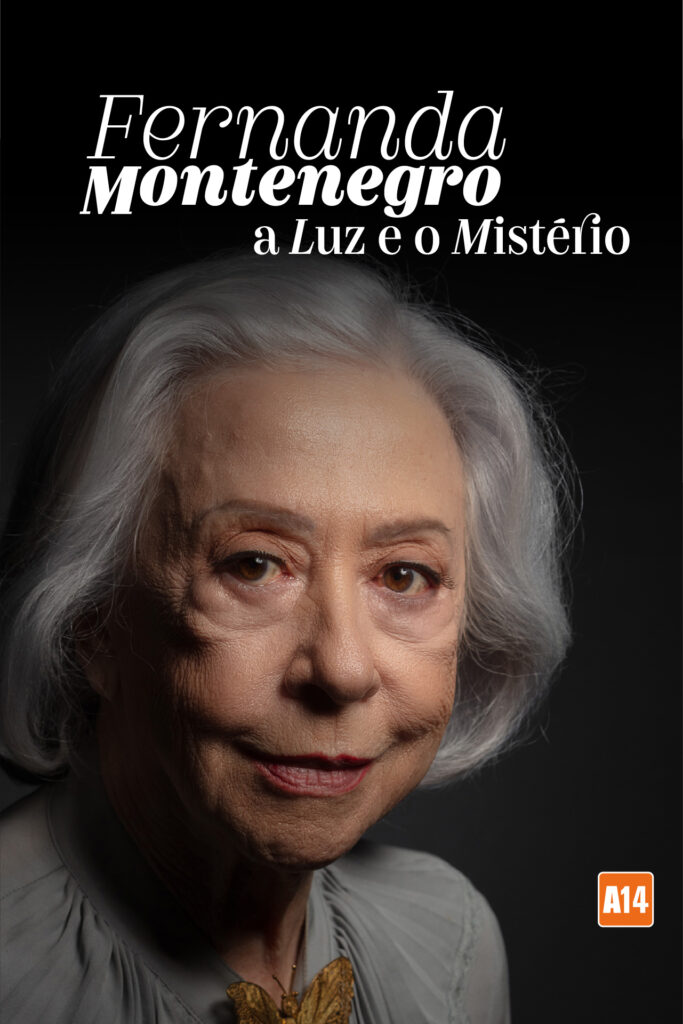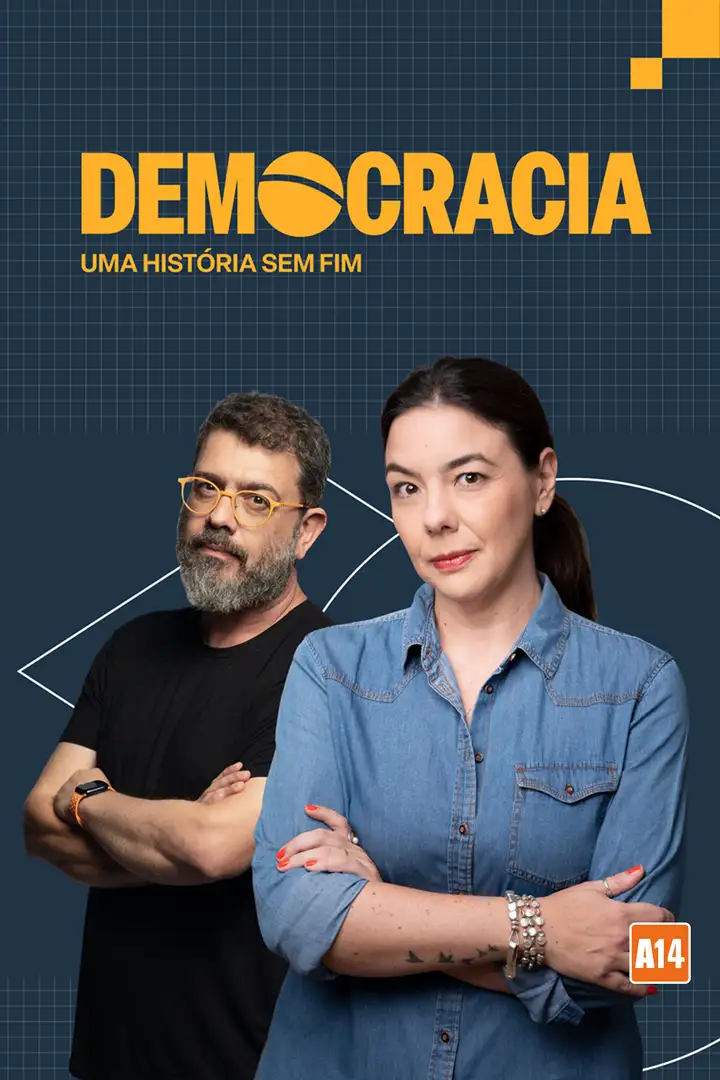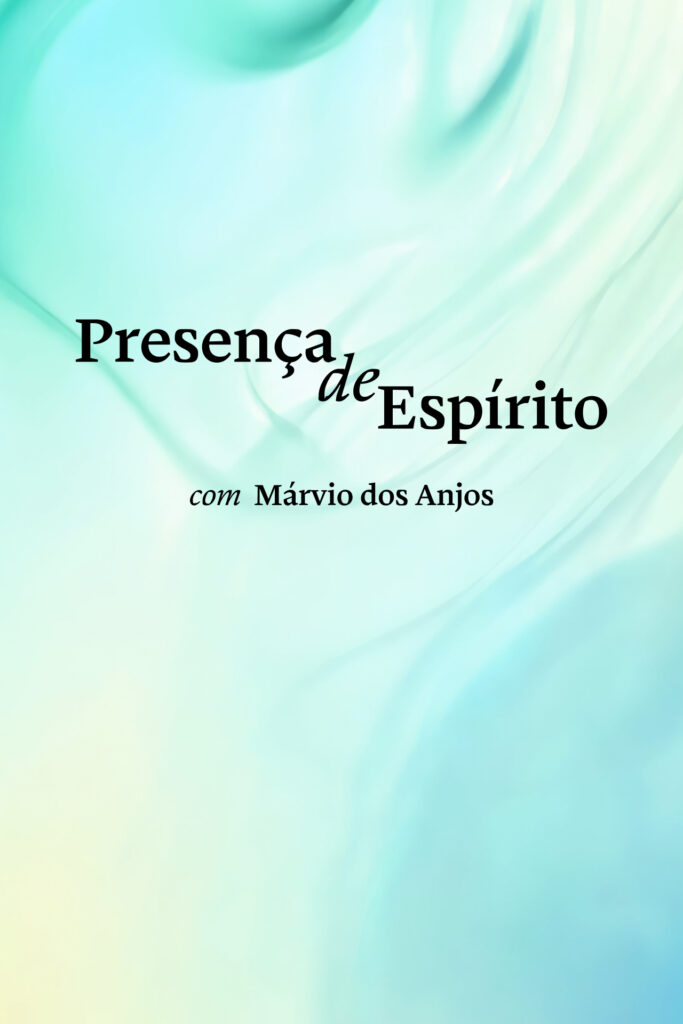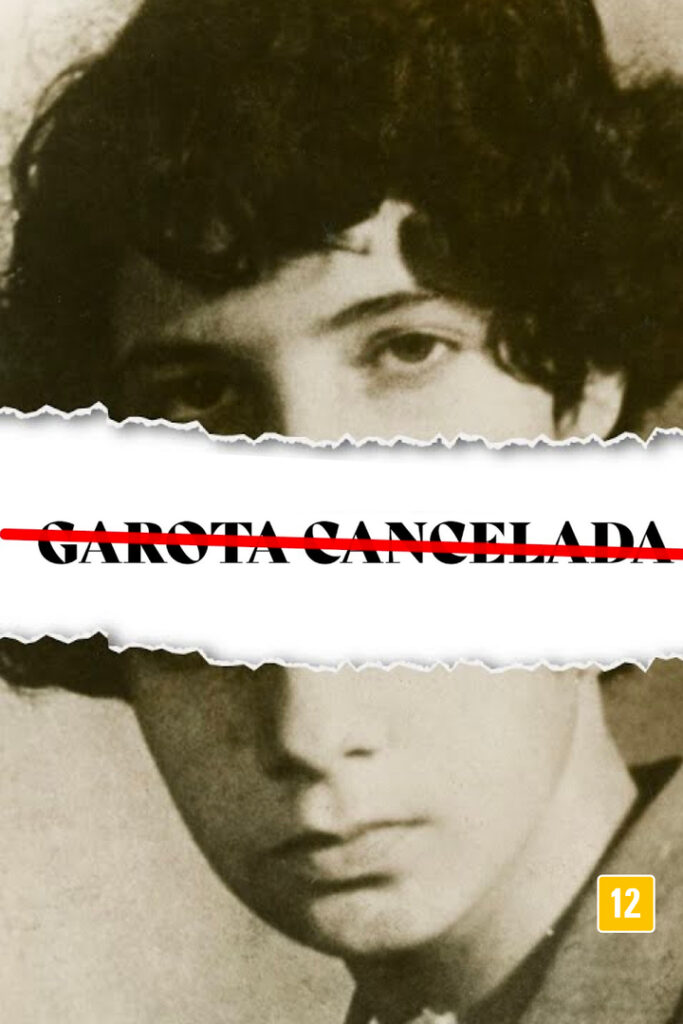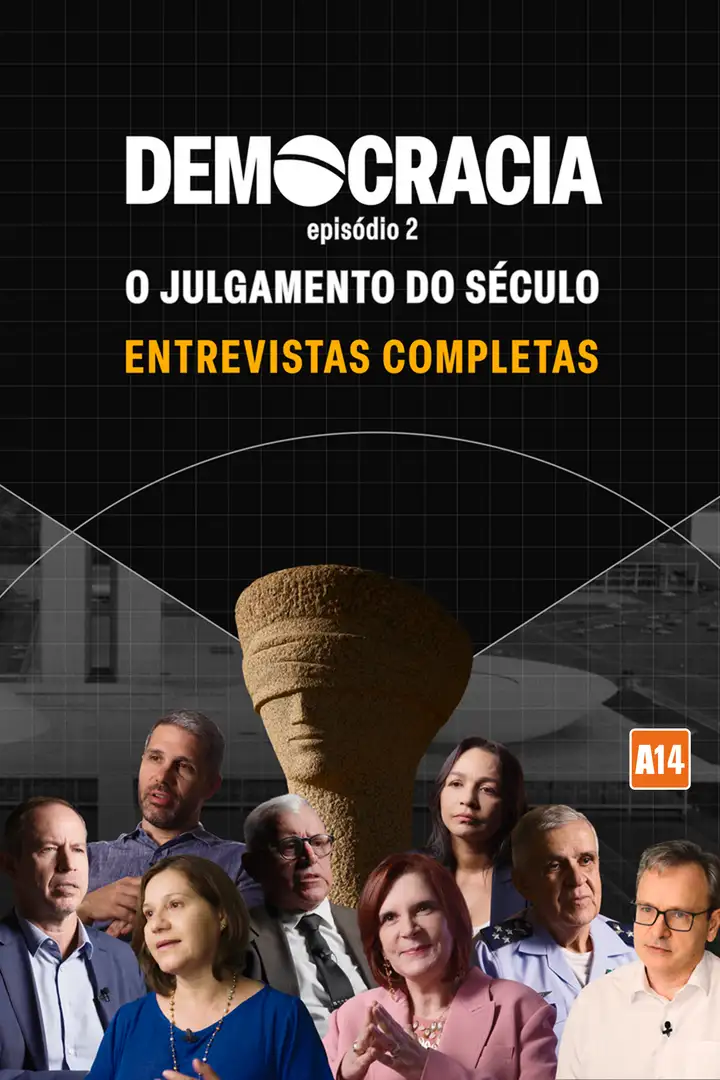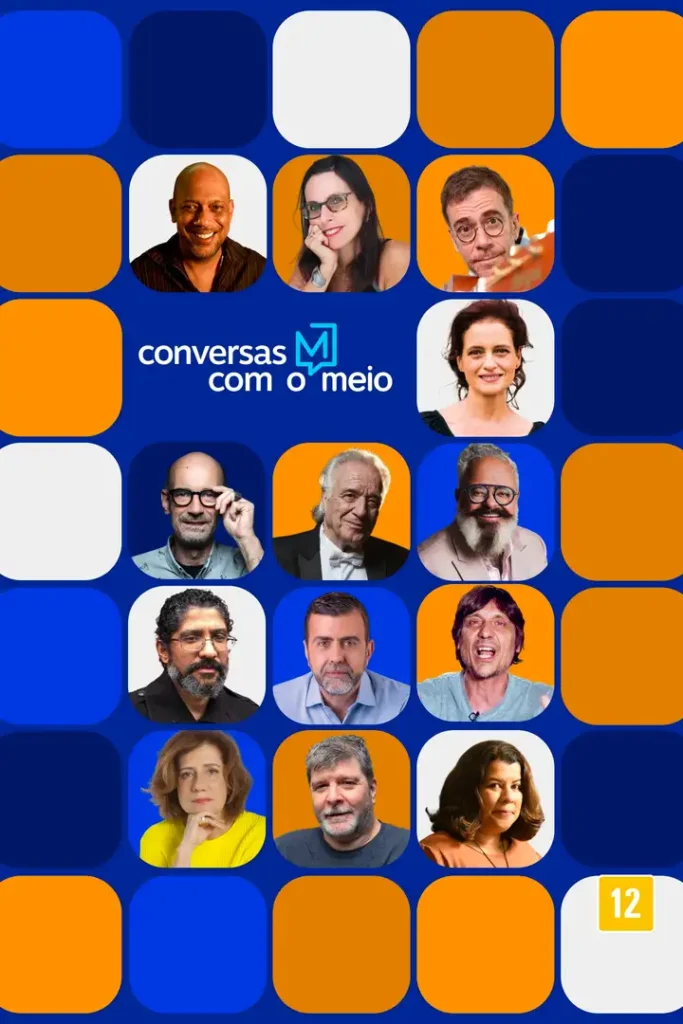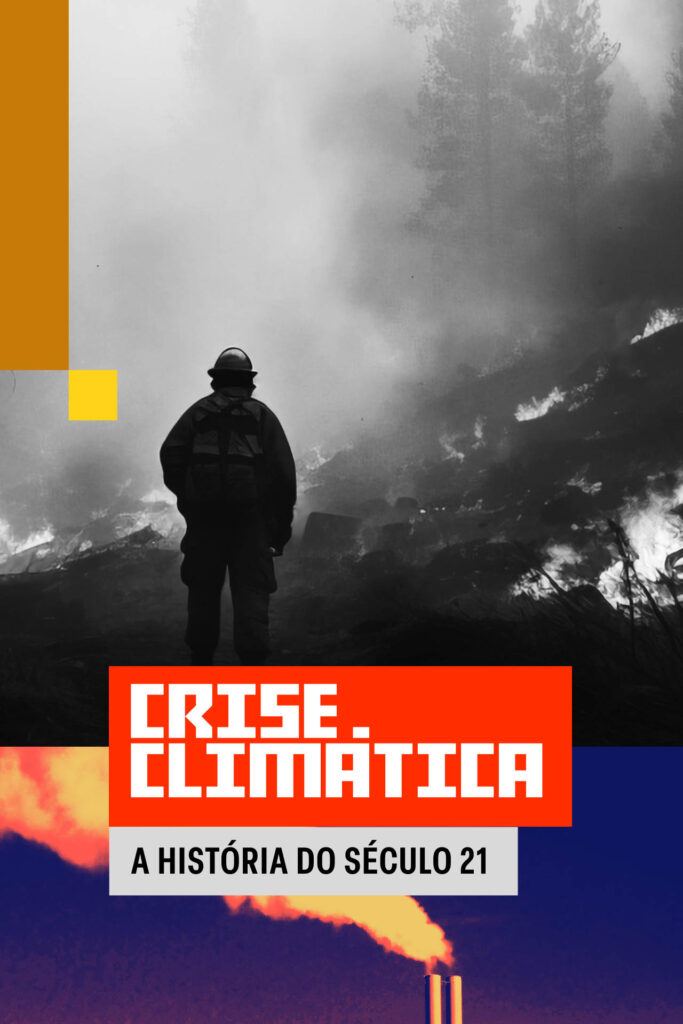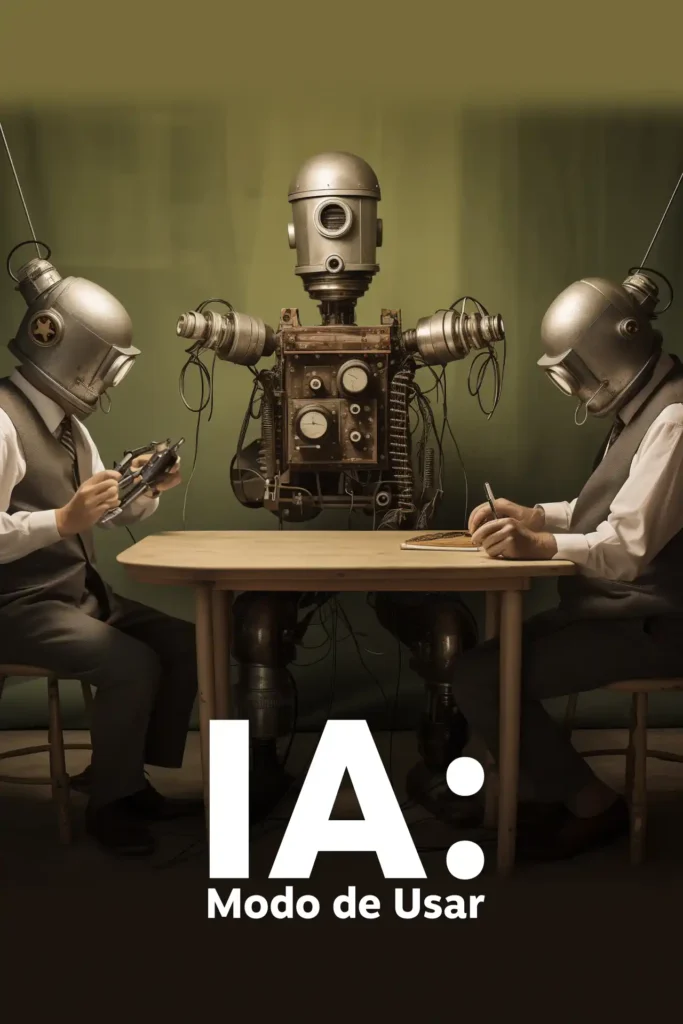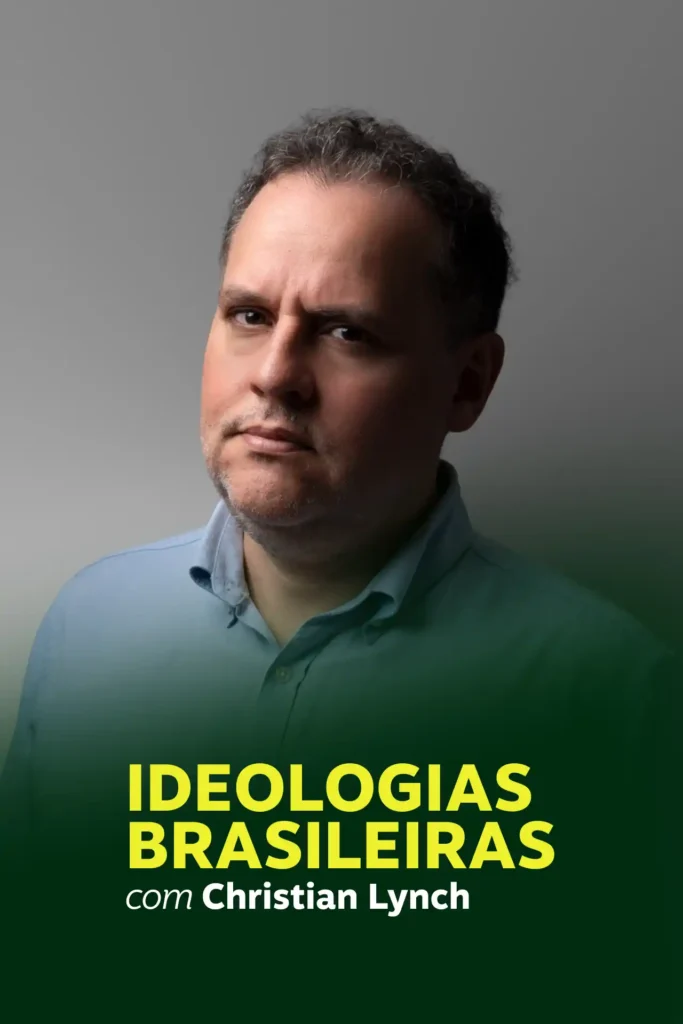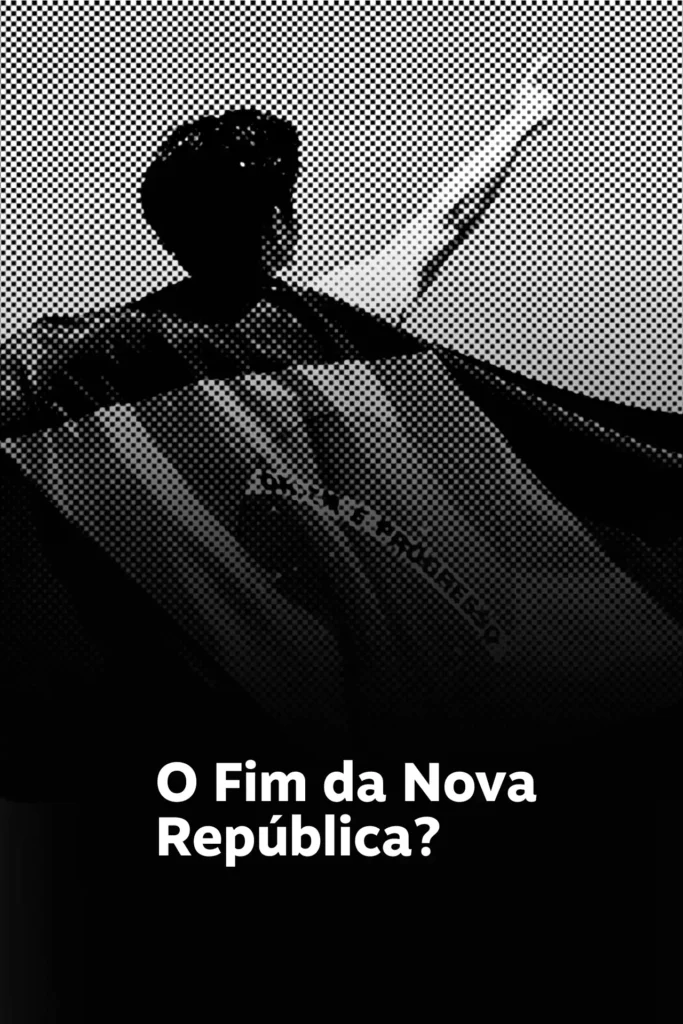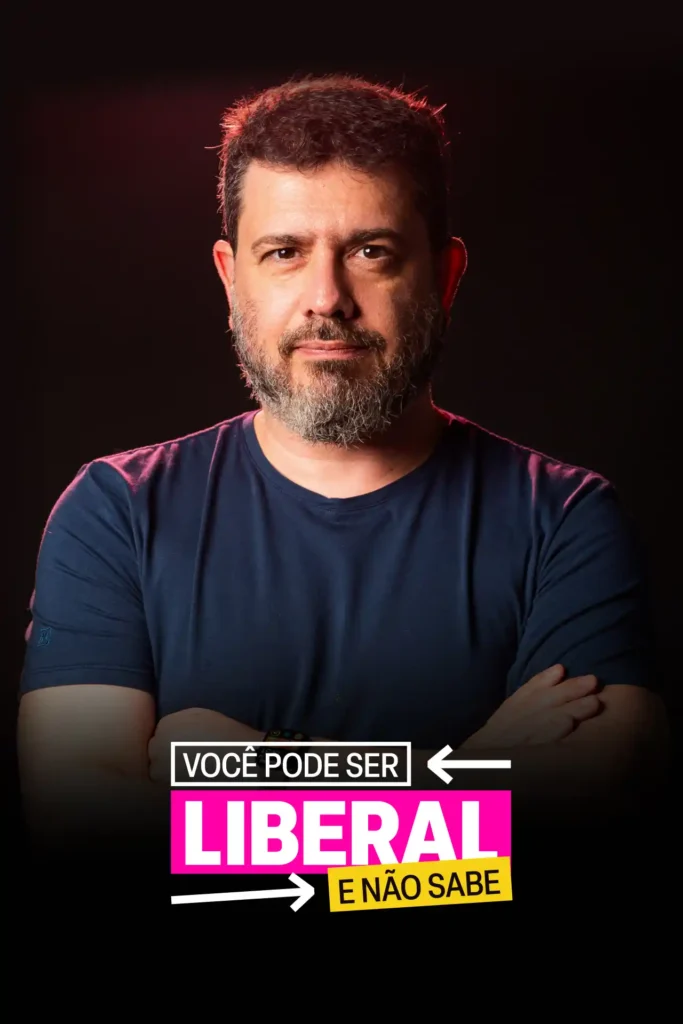O crime organizado e a Amazônia

Receba as notícias mais importantes no seu e-mail
Assine agora. É grátis.
Como o vazio deixado pelo Estado permitiu que a ilegalidade se instalasse no maior bioma do mundo
Tudo parece ter começado com uma ideia equivocada, “Integrar para não Entregar”. Na lógica da ditadura que a promovia, nada estava lá. Além do inimigo imaginário – o que iria tomar nossas riquezas –, havia apenas um vazio de gente e um excesso de florestas e rios. Ocupar a região Amazônica era uma prioridade geopolítica para o regime. A solução viria na forma de construção de rodovias, empreendimentos agropecuários, benefícios fiscais, mineração e grandes barragens.
E não foi apenas a ditadura militar que contribuiu para a erosão da capacidade estatal na região. Mesmo após o seu fim, em 1985, não conseguimos forjar uma visão nova sobre o “problema amazônico” que possa ser traduzida em estratégias multissetoriais envolvendo as Forças Armadas – fundamentais nesse processo de proteção e garantia da soberania nacional na região – e as lideranças que surgiram nos últimos 40 anos de vida democrática: os ambientalistas, novos movimentos sociais, o setor agrotropical mais avançado tecnologicamente e o setor de energia e mineração. Persistem visões fragmentadas, falta de consenso e um desinteresse mal disfarçado diante dos temas de defesa e segurança pública que pressionam a região. A falta de debate parlamentar e na sociedade sobre o Livro Branco da Defesa reflete bem essa dinâmica; descosturado dos avanços, demandas e interesses da sociedade, a doutrina forjada no âmbito do Ministério da Defesa ainda ecoa a visão do “vazio demográfico” e dos riscos de uma perda de soberania ameaçada por um conflito tradicional contra outras nações.
Cinquenta anos depois, o vazio deu lugar a um novo problema: a expansão do crime organizado e dos mercados ilícitos na região amazônica. O processo de integração conduzido pelo Estado contribuiu para isso, ao deixar brechas regulatórias. Falhas no registro de terras desencadeiam a grilagem; as lacunas na legislação ambiental fomentam a exportação ilegal de madeira e espécies animais; as insuficiências da legislação sobre mineração alimentam o garimpo ilegal; e a deficiência crônica do sistema de justiça criminal em áreas de fronteira, como nos estados da região amazônica, oferece oportunidades infinitas para as organizações criminosas.
Dessa forma, a integração improvisada pelo regime militar e continuada em diferentes formatos por seus sucessores ofereceu oportunidades em série para o “homem da fronteira” que ocupou a região. Os militares que conduziram o esforço mais importante de integração da região amazônica imaginaram esse processo segundo modelos geopolíticos do século 19: colonizar o território na velocidade ditada pela obsessão contra um inimigo externo intangível.
Nessa jornada, esqueceram-se de muitos detalhes, desperdiçaram oportunidades que nunca mais teremos como sociedade e, o pior, criaram condições ideais para um invasor que não previam: o crime organizado. Na Amazônia do presente observa-se a expansão de um fenômeno conhecido na literatura especializada: “convergência criminal”. O conceito descreve a articulação entre diferentes atividades ilícitas por meio de redes de cooperação e facilitação mútua. Esse entrelaçamento ocorre quando organizações criminosas tradicionais estabelecem vínculos estratégicos com atores como grupos terroristas, políticos corruptos, empresários e agentes institucionais.
Nas operações policiais e relatórios técnicos que analisamos, encontramos evidências abundantes da existência de redes de cooperação entre narcotráfico, extração ilegal de madeira, garimpo clandestino, grilagem de terras e lavagem de dinheiro. Essas atividades, antes relativamente isoladas, agora compõem um ecossistema criminal integrado, no qual as mesmas rotas logísticas, estruturas de corrupção e redes de proteção são compartilhadas por diferentes grupos, potencializando tanto o alcance quanto o impacto destrutivo dessas práticas sobre o território e suas populações.
Em dezembro de 2024, a Polícia Federal do Brasil (PF) deflagrou a Operação Flygold 2 contra uma organização criminosa que movimentou aproximadamente R$ 4,3 bilhões entre fevereiro de 2023 e março de 2024. O ponto de partida das investigações foi a prisão de um venezuelano que atuava junto a outros imigrantes do mesmo país, associados a criminosos brasileiros que atuavam na extração ilegal de ouro de terras indígenas. Os criminosos coordenavam suas ações para transportar o ouro ilegal do Pará e do Amazonas em aviões particulares até a Venezuela e o Peru, onde então o produto era transportado para Estados Unidos, Europa e Ásia.
A exploração ilegal de ouro na Amazônia cresceu 94% entre 2016 e 2021, segundo dados de sensoriamento remoto, sendo um dos principais vetores de desmatamento na região. Ainda de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), em 2022, o Brasil registrou um recorde de 1.270 quilômetros quadrados de terras degradadas pelo garimpo, com impactos diretos sobre ecossistemas críticos, como a Bacia do Tapajós e o Vale do Javari. Os estudos disponíveis indicam que, entre 2018 e 2023, 78% dos assassinatos de líderes indígenas na Amazônia brasileira tiveram conexão com disputas por terras e exploração ilegal de recursos naturais, sendo os garimpeiros ilegais e as facções criminosas apontados como os principais responsáveis. Além disso, a crescente militarização do tráfico de drogas na Amazônia tem aumentado a violência em territórios indígenas, com diversas etnias sendo forçadas a cooperar com narcotraficantes sob ameaça de represálias violentas.
O mercado ilegal de ouro é um bom exemplo da convergência criminal: diversas atividades criminosas, como imigração ilegal, degradação de áreas de preservação, contrabando e lavagem de dinheiro se interligam e se fortalecem mutuamente, criando “áreas cinzentas” em que as instituições públicas e as leis não são capazes de controlar o comportamento criminoso. Nessa “área cinzenta”, atividades lícitas e ilícitas se amalgamam, multiplicam suas conexões, corrompem o poder público e expandem seu poder de infiltração nas cadeias produtivas, violando leis e direitos de forma sistemática.
O aparecimento e a expansão de atividades ilícitas não apenas desviam a mão de obra de atividades sustentáveis, como submetem constantemente trabalhadores a condições análogas à escravidão
Outro exemplo desse processo de convergência pode ser encontrado na trajetória que levou à erosão da economia tradicional das populações locais. O aparecimento e a expansão de atividades ilícitas não apenas desviam a mão de obra de atividades sustentáveis, como submetem constantemente trabalhadores a condições análogas à escravidão: cerca de 10 mil trabalhadores da cadeia ilegal do ouro na Amazônia peruana operam sob condições precárias e sem qualquer proteção trabalhista. O tráfico de pessoas também tem sido amplamente documentado na região, sendo que o número de casos de exploração sexual e tráfico humano nas rotas amazônicas cresceu 32% entre 2019 e 2022.
No Brasil, a organização criminosa Família do Norte (FDN) surgiu em 2007 em Manaus e consolidou-se como uma das principais facções criminosas da região amazônica. Seu fortalecimento ocorreu principalmente a partir de 2015, quando formou uma aliança estratégica com o Comando Vermelho (CV) para enfrentar o avanço do Primeiro Comando da Capital (PCC) na região Norte. A FDN especializou-se no controle das rotas fluviais para o transporte de drogas e ouro ilegal, além de estabelecer conexões com grupos transnacionais para a exportação de produtos ilícitos.
A expansão do PCC para a Amazônia intensificou-se a partir de 2016, quando o grupo estabeleceu bases em cidades fronteiriças como Tabatinga (Brasil) e Letícia (Colômbia), consolidando sua posição como um dos principais exportadores de cocaína do Brasil. O PCC também diversificou suas atividades ilícitas, investindo no garimpo ilegal como forma de lavagem de dinheiro e financiamento do tráfico de drogas.
A magnitude do crime organizado na Amazônia pode ser observada nos dados sobre apreensões e movimentação financeira. Entre 2019 e 2023, as polícias estaduais e federais brasileiras apreenderam mais de 110 toneladas de cocaína na Amazônia Legal, sendo que somente em 2023 foram interceptadas mais de 33,8 toneladas pela Polícia Federal e pela Polícia Rodoviária Federal. A receita do tráfico de drogas é, em larga medida, reinvestida na extração ilegal de madeira e ouro, destinados ao mercado externo, o que facilita a lavagem de dinheiro nos mercados internacionais desses produtos, que são menos monitorados.
As facções criminosas também são responsáveis por elevados níveis de violência na região. Em 1990 o estado de São Paulo tinha taxas de homicídio por 100 mil habitantes que eram quase duas vezes (1,9) a taxa do estado do Amazonas. Em 2000, ano mais violento da série histórica de homicídios de São Paulo, a razão chegou a 2,13 (São Paulo era 2,13 vezes mais violento que o Amazonas). Quinze anos depois, em 2015, a razão se inverteu dramaticamente: o estado do Amazonas tinha uma taxa de homicídios por 100 mil habitantes que era 3,6 vezes a taxa de São Paulo. A mesma situação acontece no Pará.
Outra variável, apontada por Leila Pereira, Rafael Pucci e Rodrigo R. Soares, foi a implementação da política de interdição aérea no Brasil, em 2004. O que se observou foi uma significativa mudança nas rotas do narcotráfico, migrando das vias aéreas para as hidrovias amazônicas, com impactos significativos nas comunidades ribeirinhas. As rotas aéreas se tornaram fluviais e o controle das cidades ribeirinhas alimentou o aumento da violência.
Tal transformação demonstra a capacidade adaptativa das organizações criminosas e expõe uma falha crítica no planejamento de políticas públicas de segurança: a ausência de uma abordagem integrada que considere os possíveis deslocamentos criminais e seus impactos sociais.
O narcogarimpo representa uma forma híbrida de criminalidade na Amazônia, diferenciando-se tanto do narcotráfico tradicional quanto da mineração ilegal pura ao integrar a extração de ouro ao tráfico de drogas, à lavagem de dinheiro e à ocupação territorial por facções criminosas. Esse fenômeno se fortaleceu, sobretudo, devido à convergência entre as infraestruturas clandestinas compartilhadas, as alianças criminosas e o uso do ouro como meio de pagamento para transações ilícitas. Esse modelo, baseado na interdependência entre os mercados ilícitos, permite que os grupos criminosos diversifiquem suas fontes de receita e reduzam sua vulnerabilidade às ações de repressão.
Outro aspecto fundamental do narcogarimpo é a sua relação com o sistema financeiro. O ouro extraído ilegalmente é frequentemente utilizado como meio de pagamento no tráfico de drogas, pois permite a movimentação de grandes quantias sem a necessidade de dinheiro em espécie. Isso facilita a lavagem de dinheiro e a integração dos mercados ilícitos com a economia formal, uma vez que o ouro pode ser “esquentado” por meio de notas fiscais falsas e empresas de fachada.
A presença de grupos criminosos especializados na gestão de rotas ilegais nas fronteiras amazônicas evidencia a necessidade de maior cooperação internacional no combate ao crime organizado.
A análise da interação entre crime organizado e mercados ilícitos na Amazônia permite compreender não apenas quem são os atores criminosos, mas como eles operam, cooperam e se adaptam às condições institucionais e socioeconômicas da região. As dinâmicas observadas revelam que o crime organizado não atua de maneira atomizada, mas sim na forma de um ecossistema criminal transnacional, com uma estrutura em rede que conecta organizações locais. Essas organizações exercem controle sobre territórios específicos e nichos da cadeia logística dos produtos ilícitos, mostrando-se altamente adaptáveis e resilientes à pressão das agências estatais, sendo capazes de explorar as fragilidades do sistema de justiça criminal da região.
As organizações criminosas não apenas exploram lacunas regulatórias, mas criam seus próprios sistemas de governança, impondo normas paralelas às comunidades locais. Na análise da proibição da extração de mogno, por exemplo, a ausência do Estado como agente regulador facilita o surgimento de mecanismos alternativos de enforcement nos mercados ilícitos; fenômeno que ocorre por meio da governança criminal, na qual quadrilhas controlam o “submundo” do crime e recorrem extensivamente à violência como instrumento de coerção e controle da atividade ilícita.
A cooperação entre grupos criminosos transcende fronteiras nacionais, dificultando a repressão por parte dos Estados de forma isolada. O fenômeno do narcogarimpo exemplifica como facções brasileiras, como PCC e CV, expandiram suas operações para países vizinhos, conectando o tráfico de drogas com a mineração ilegal.
A diversificação de atividades entre diferentes organizações em distintos países amplia a resiliência do crime organizado às ações repressivas do Estado, pois permite que determinados grupos se especializem em nichos específicos da economia ilícita. A análise do Instituto Igarapé (2024) aponta que redes criminosas envolvidas na extração ilegal de madeira, ouro e tráfico de drogas operam em conjunto, mas com funções segmentadas, otimizando a exploração dos recursos naturais da Amazônia.
Enquanto as redes criminosas crescem em sua capacidade de adaptação e colaboração, as respostas estatais permanecem fragmentadas, limitadas por diferenças regulatórias e barreiras políticas entre os países amazônicos.
O principal desafio para a repressão do crime organizado na Amazônia não é apenas a fiscalização isolada, mas a falta de coordenação interestatal e de compartilhamento de informação e dados de inteligência. Enquanto as redes criminosas crescem em sua capacidade de adaptação e colaboração, as respostas estatais permanecem fragmentadas, limitadas por diferenças regulatórias e barreiras políticas entre os países amazônicos.
Deve-se considerar o papel do governo venezuelano no esforço do controle do crime organizado na região. Relatos jornalísticos sugerem que o Estado venezuelano incorporou em sua estrutura membros de organizações criminosas, permitindo que operem com relativa impunidade no país. Esse fenômeno pode ser observado na administração do Arco Mineiro do Orinoco, região rica em ouro e outros minerais, onde oficiais militares venezuelanos desempenham um papel na proteção da mineração ilegal e no controle da distribuição dos recursos extraídos.
Outro fator que reforça essa relação é a presença das dissidências das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) e do Exército de Libertação Nacional (ELN) colombiano dentro do território venezuelano. Relatórios indicam que o governo de Nicolás Maduro tolerou e, em alguns casos, apoiou operações desses grupos, utilizando-os como instrumentos de controle social e para a obtenção de receitas alternativas diante da crise econômica do país.
Além disso, a Venezuela se tornou um dos principais destinos para a “legalização” do ouro ilegal extraído em garimpos clandestinos na Amazônia. Diferentemente do Brasil e da Colômbia, que possuem legislações mais rigorosas para rastreamento da cadeia produtiva do ouro, a Venezuela apresenta uma fiscalização menos estruturada, permitindo que volumes do metal precioso sejam introduzidos no mercado internacional sem comprovação de origem. Essa interseção entre crime organizado e estruturas estatais posiciona a Venezuela como um fator complicador para o combate ao crime na Amazônia, tornando os esforços de repressão mais complexos e menos efetivos.
Mercados como o tráfico de fauna e flora, relativamente menos estudados na literatura sobre crime organizado, representam uma oportunidade de ampliação da conexão entre crime organizado e mercados ilícitos: o tráfico de animais silvestres e madeira ilegal envolve uma cadeia complexa de atores que operam em distintos níveis – desde caçadores locais até intermediários e compradores internacionais – todos orientados por incentivos econômicos e pela baixa percepção do risco de punição.
Sem uma compreensão mais aprofundada dessas dinâmicas e sem um reforço na cooperação internacional, a Amazônia continuará sendo um espaço para a convergência de mercados ilícitos e a consolidação do crime organizado transnacional. O avanço do conhecimento sobre essas dinâmicas, combinado com a formulação de estratégias mais eficazes de cooperação jurídico-policial, o aumento da capacidade de repressão e mesmo a prevenção, são esforços essenciais para mitigar os impactos da criminalidade sobre o bioma amazônico e as populações que nele habitam.
*
A íntegra do artigo está disponível na Conexão América Latina, uma publicação periódica da Plataforma Democrática (Fundação FHC + Centro Edelstein de Pesquisas Sociais) sobre as mudanças políticas, culturais e socioeconômicas que afetam a qualidade da democracia na América Latina, quando não sua própria existência.
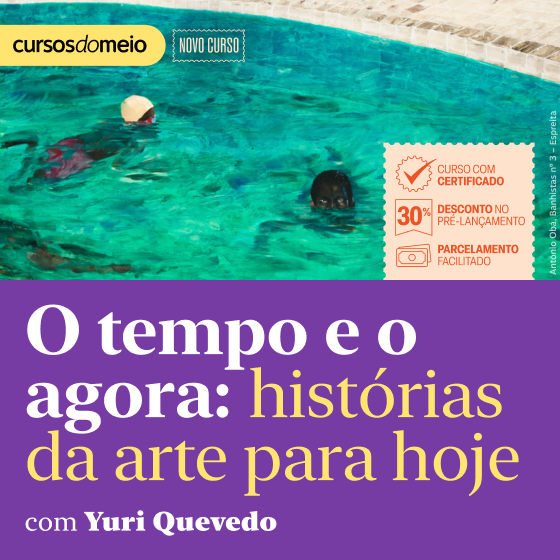
Compreender arte e cultura é essencial para entender o mundo com novas lentes, ganhar repertório e se posicionar com inteligência em qualquer conversa. O Tempo e o Agora: História da Arte para Hoje é o novo curso do Meio com Yuri Quevedo, curador da Pinacoteca de SP. Aulas online, acessíveis a todos os públicos, a partir de 27/05. Use o cupom PREVENDA30 e ganhe 30% de desconto no pré-lançamento. É por tempo limitado.