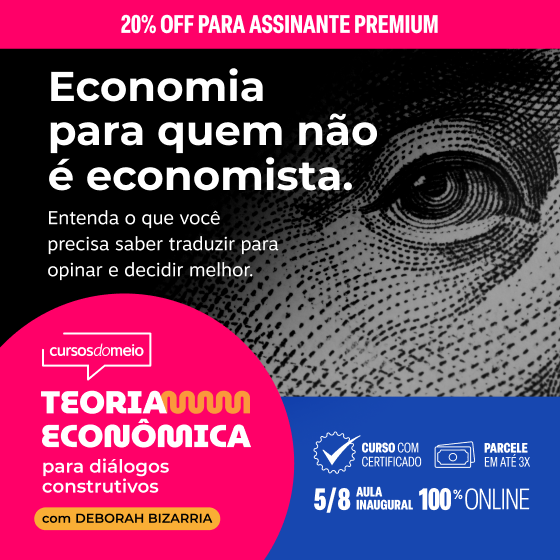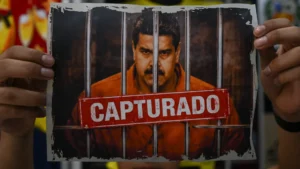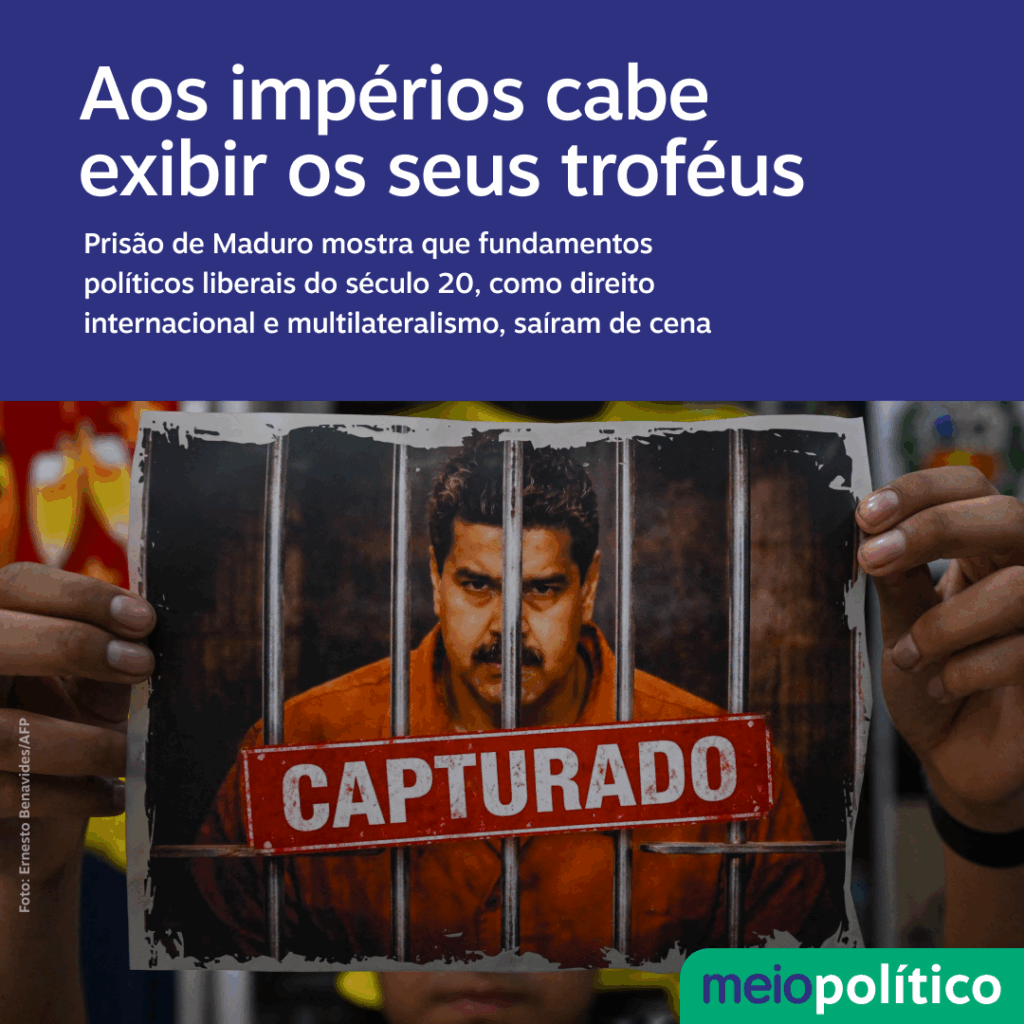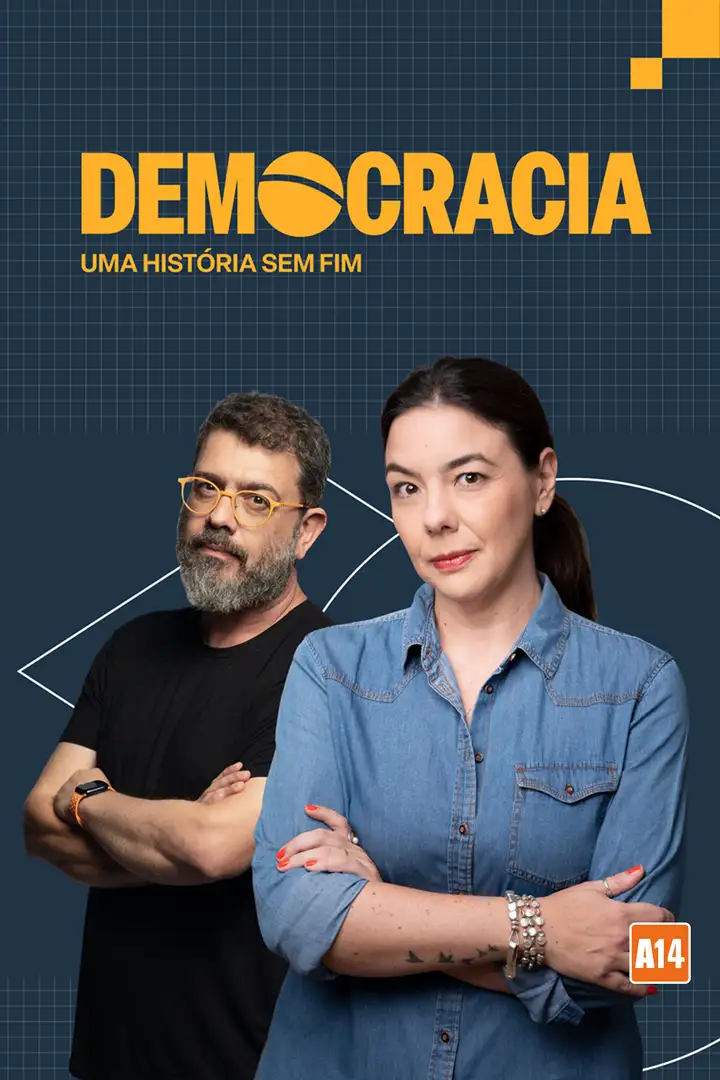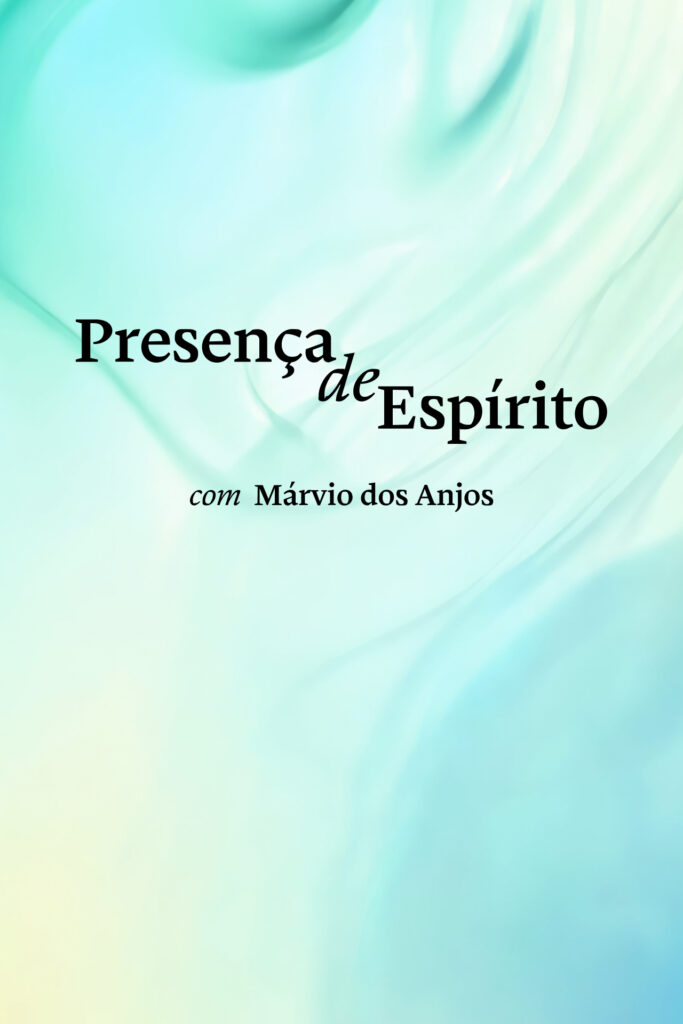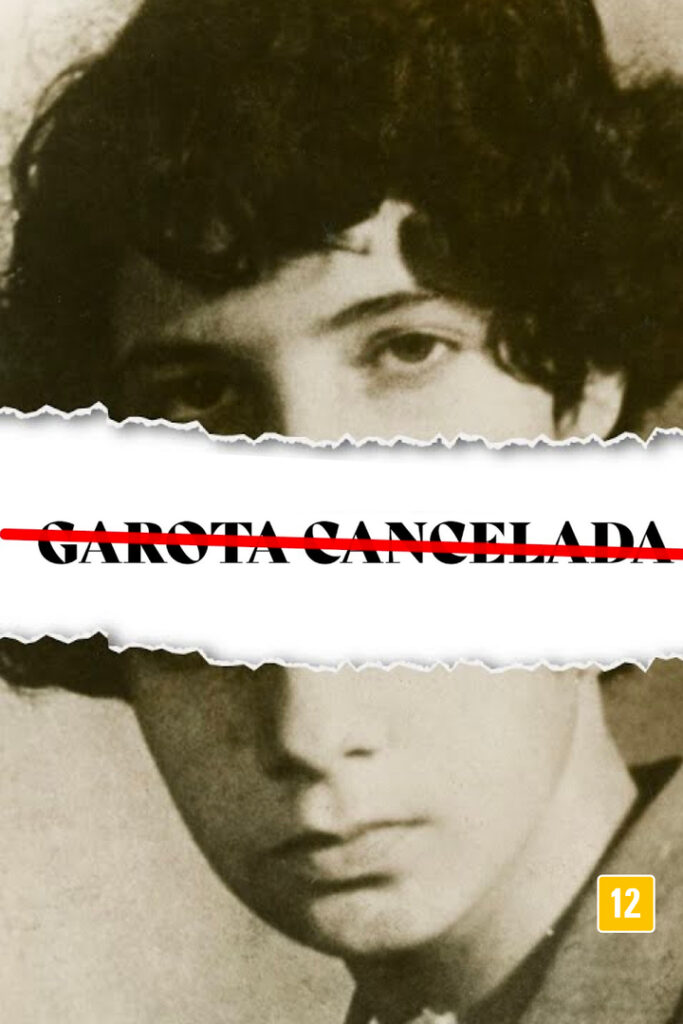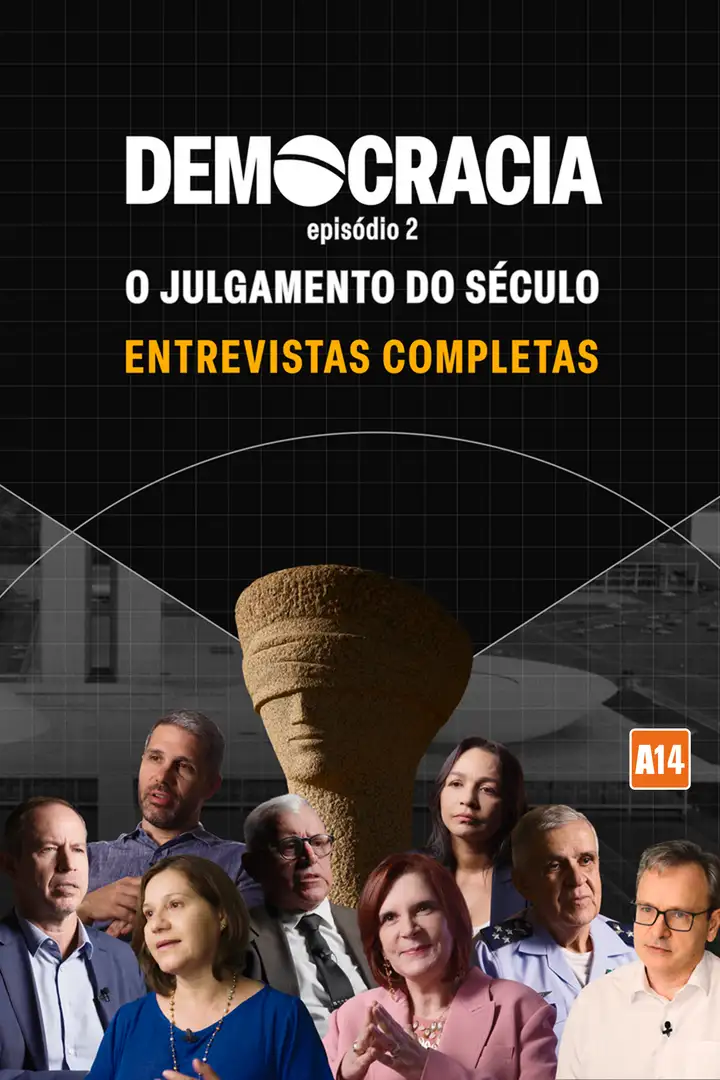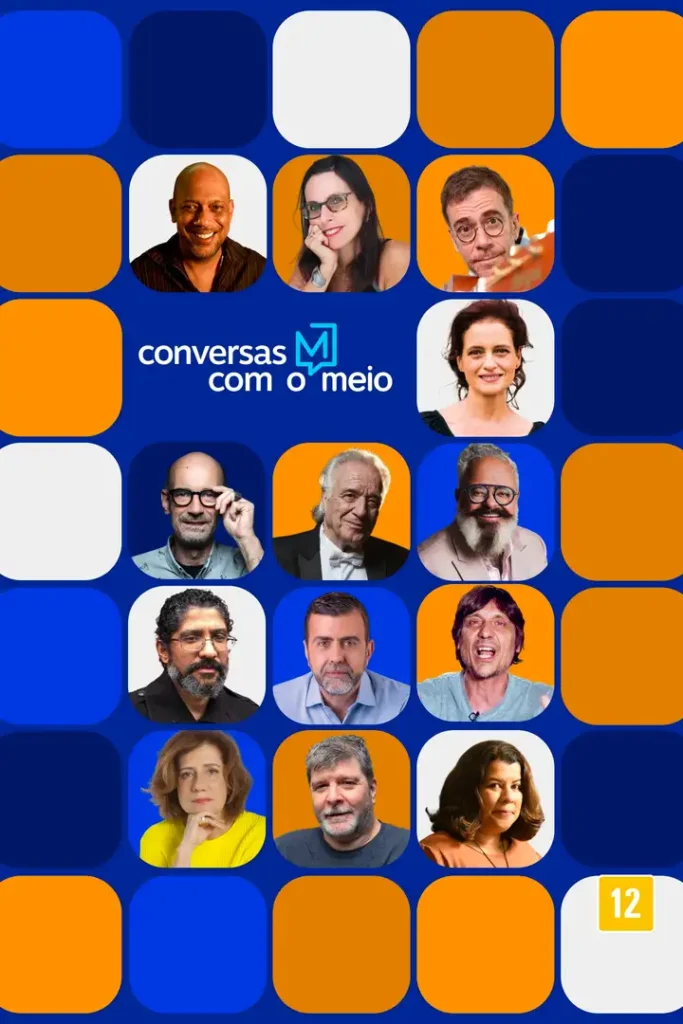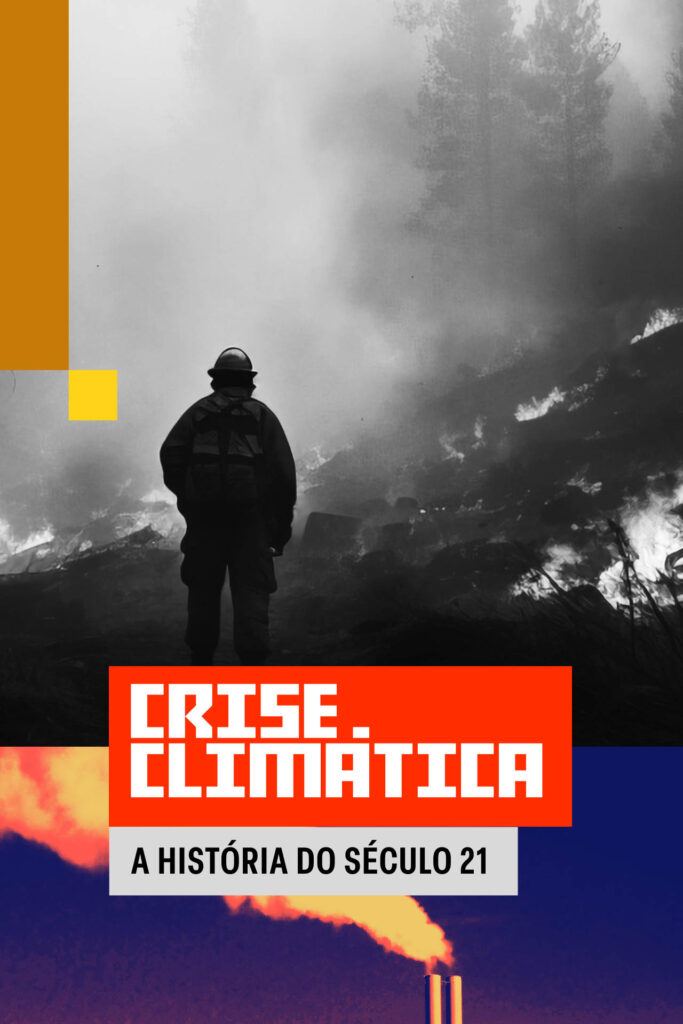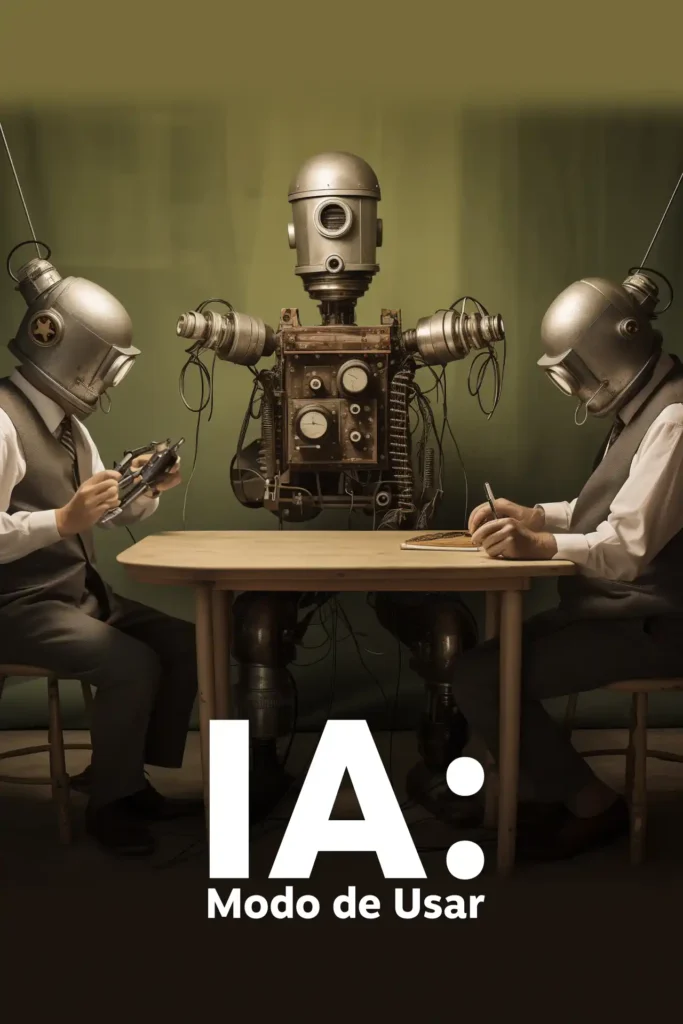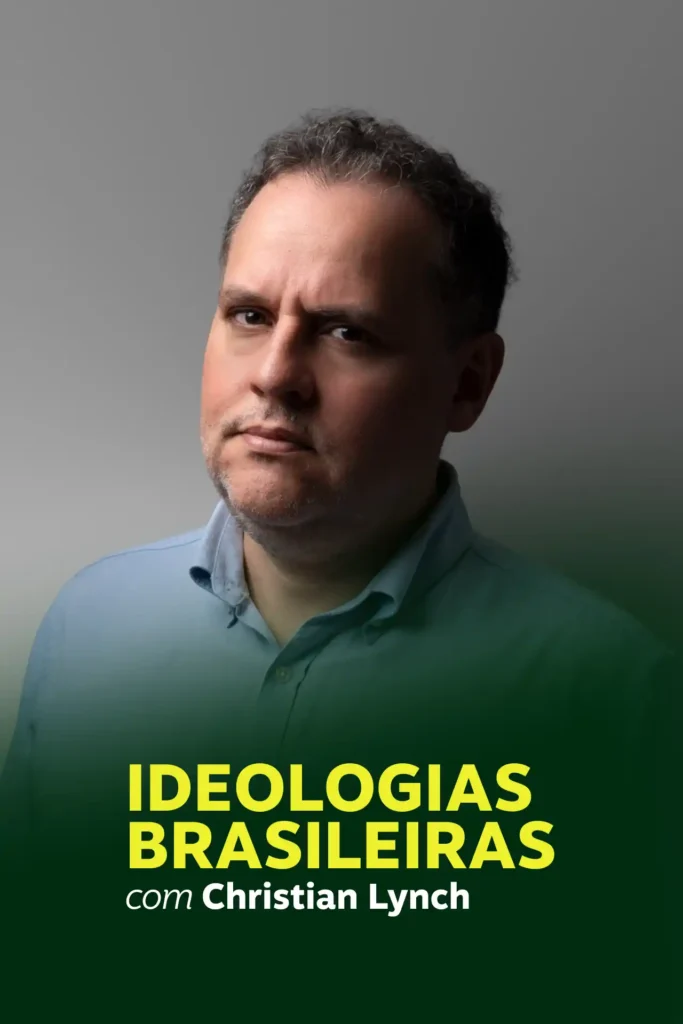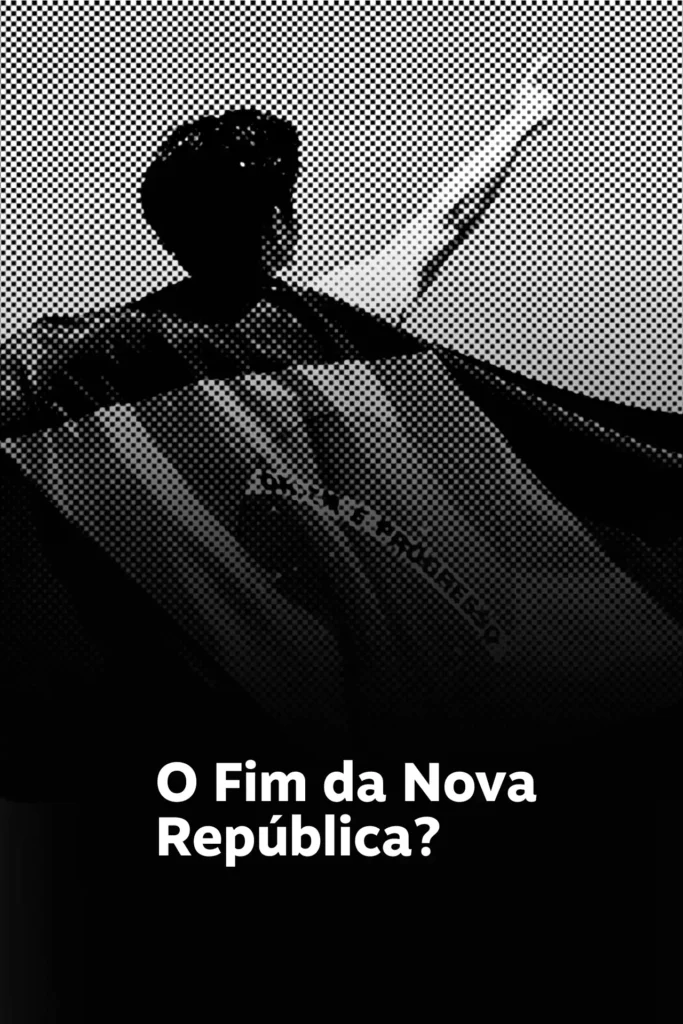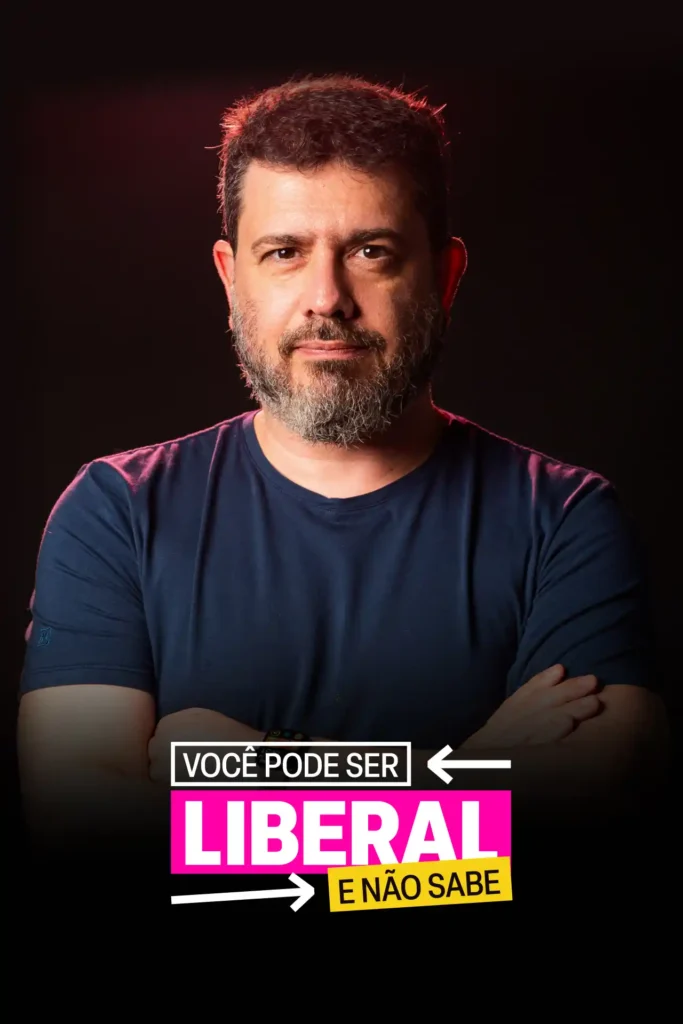Edição de sábado: Negócios à parte

Receba as notícias mais importantes no seu e-mail
Assine agora. É grátis.
A partir da próxima sexta-feira, 1º de agosto, a menos que aconteça uma grande reviravolta, todos os produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos sofrerão uma sobretaxa de 50%, anunciada no último dia 9 pelo presidente Donald Trump. Na carta em que justificava a tarifa, ele atacou o processo no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe, chamando a ação de “caça às bruxas”, e a regulamentação também pela Corte da atuação das redes sociais, pertencentes a big techs americanas. A única justificativa econômica, a de que os EUA eram prejudicados no comércio com o Brasil, é falsa, já que a balança comercial entre os dois países é superavitária para o lado americano.
Embora não conste da carta de Trump, analistas indicam que as tarifas seriam também uma resposta às declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na conferência do BRICS defendendo que os países adotem outras moedas em vez do dólar no comércio internacional. E, para acrescentar mais um item à lista de interesses de Washington, o encarregado de negócios da embaixada americana em Brasília, Gabriel Escobar, disse que seu governo quer o acesso de empresas dos EUA aos minerais estratégicos e terras raras do Brasil. Como explicamos cá neste Meio em uma reportagem de Yan Boechat, esses insumos são fundamentais para novas tecnologias, de carros elétricos à inteligência artificial.
Seja qual for o motivo, o tarifaço de Trump empurra Brasil e Estados Unidos para o momento mais tenso de suas relações. Pelo menos nas relações às claras, não contando apoio de Washington a conspirações como o golpe de 1964. Mas, mesmo no campo legítimo da diplomacia e da economia, os dois países já se estranharam. Vamos relembrar os casos mais importantes, fazendo primeiro uma viagem ao início desse relacionamento.
Primeiro parceiro
Dizer que a relação entre Brasil e Estados Unidos é antiga se trata, no mínimo, de um eufemismo. Em agosto de 1824, menos de dois anos após o célebre grito de Pedro I, o presidente James Monroe reconheceu a independência do Brasil. No ano seguinte, já com John Quincy Adams morando na Casa Branca, os EUA abriram no Rio de Janeiro uma legação, que seria elevada a embaixada em 1905.
O reconhecimento do Brasil não se devia a nossa simpatia ou às belas suíças (aquele bigode-costeleta) do imperador. O movimento de Washington refletia o empenho de Monroe em aplicar a doutrina geopolítica que implementara e que levaria seu nome. Seu princípio fundamental era deixar as potências europeias de fora do Novo Mundo, apoiando a libertação das colônias existentes nas Américas e impedindo o estabelecimento de novas possessões coloniais. Também defendia o isolacionismo em relação a conflitos fora do continente. Embora fossem uma república independente e estável havia quase 50 anos, os Estados Unidos estavam longe do poder que viriam a deter. Tinham 24 estados e menos da metade de seu território atual. Manter longe os impérios europeus era uma questão de segurança.
Os registros mais detalhados das relações comerciais entre os dois países só começam de fato em 1901, mas elas vinham desde antes da independência. O império brasileiro via nos Estados Unidos uma alternativa à conturbada Europa como comprador de matérias primas e produtos agrícolas e fornecedor de manufaturados, especialmente a partir da segunda metade do século 19, com a forte industrialização americana. Em 1891, o Brasil, já republicano, assinou com os EUA um tratado de reciprocidade para reduzir tarifas e expandir o comércio.
A situação continuou mais ou menos a mesma até a crise de 1929 nos EUA e a revolução de 1930 no Brasil. Embora a relação comercial e política com Washington fosse predominante, o governo Vargas buscou diversificar a parceria, incluindo uma potência europeia (re)emergente, a Alemanha. Na década seguinte, o presidente Franklin Roosevelt usou muito soft power e dinheiro, incluindo o financiamento para construir a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), a fim de manter o Brasil longe da esfera nazista e, mais tarde, levá-lo a entrar na Segunda Guerra com os Aliados.
O fim do conflito em 1945 e a Guerra Fria com a União Soviética fizeram o poder econômico e políticos dos EUA sobre a América Latina ser cada vez menos soft. Governos de inclinação esquerdista ou apenas nacionalista enfrentaram forte oposição e conspiração por parte do Washington, culminando com o apoio ao golpe que depôs o presidente João Goulart em 1964. Como revelou 13 anos depois o jornalista Marcos Sá Corrêa em reportagem no Jornal do Brasil, o presidente Lyndon Johnson chegou a enviar uma frota para dar suporte aos golpistas caso Jango resistisse, o que não ocorreu.
Pois foi justamente durante a ditadura militar que o primeiro entrevero grave entre Washington e Brasília se instalou.
O caipira, o alemão e os alemães
Com o Partido Republicano em frangalhos devido ao escândalo de Watergate, os americanos elegeram presidente em 1976 o democrata Jimmy Carter, um plantador de amendoins da Geórgia cuja política em relação à América Latina ia na contramão do que os Estados Unidos fizeram nas décadas anteriores. Carter era desde a campanha um crítico enfático às violações dos direitos humanos por parte das ditaduras militares de pululavam pelo continente, em particular no Chile, na Argentina e no Brasil. Ao mesmo tempo, prometia aprofundar a política de desarmamento nuclear iniciada por Richard Nixon. As duas posturas o puseram em rota de colisão com o Brasil.
O Palácio do Planalto era ocupado então por Ernesto Geisel, quarto general-presidente da ditadura de 1964. Filho de um imigrante alemão luterano, tinha uma vontade férrea e uma postura imperial que o levaram a enquadrar a linha-dura militar contrária a seu projeto de abertura “lenta, gradual e segura”. Havia exonerado o general Ednardo D’Ávila do comando do 2º Exército após os assassinatos sob tortura do jornalista Vladimir Herzog e do metalúrgico Manoel Fiel Filho e abortado um “golpe dentro do golpe” por parte do próprio ministro do Exército, o general Sylvio Frota.
Oficialmente, o Brasil negava as violações de direitos humanos, e Geisel tomou a postura de Carter como uma afronta dupla: uma interferência nos assuntos internos do país e um desrespeito a seu processo de abertura. O presidente americano, após criticar abertamente o Brasil no Congresso dos EUA, enviou a primeira-dama Rosalynn em visita oficial para apaziguar os ânimos. A emenda, porém, foi pior que o soneto. Não só Geisel antipatizou de primeira com a visitante, como o encontro dela com políticos de oposição, ativistas dos direitos humanos e vítimas de torturas azedou de vez o clima.
Mas os porões da ditadura não eram o único ponto de atrito. Em 1975, Geisel assinara um acordo com a Alemanha Ocidental (sim, havia duas Alemanhas) para a construção de oito usinas nucleares e a transferência de tecnologia para o ciclo completo de beneficiamento de urânio. Os militares brasileiros não escondiam o interesse em construir, não bombas atômicas, mas submarinos nucleares. O Estados Unidos, então presididos por Gerald Ford, eram contra e ficaram mais contra ainda sob Carter. Tão logo tomou posse, ele enviou seu vice, Walter Mondale, a Bonn com a missão de convencer os alemães a desistirem do acordo. Não conseguiu, embora até hoje apenas duas das oito usinas nucleares tenham saído do papel, ambas em Angra dos Reis (RJ).
A irritação de Geisel com a interferência foi tamanha que ele encerrou um acordo de cooperação militar entre Brasil e EUA firmado em 1952 para fornecimento de equipamento às Forças Armadas brasileiras. Carter ainda nos fez uma visita oficial em 1978, mas as relações entre os dois países só foram se normalizar na década de 1980, com Ronald Reagan na Casa Branca. Ou quase...
O chip é nosso
A ditadura militar brasileira era indiscutivelmente de direita e, fora o entrevero com Carter, alinhada aos Estados Unidos. Por outro lado, era nacional-desenvolvimentista e estatista como boa parte da esquerda, com a preocupação de não depender de tecnologia e empresas americanas. Por exemplo, ao buscar um padrão para a TV em cores no Brasil, os militares preferiram criar uma gambiarra do PAL alemão, o PAL-M, em vez de adotar o NTSC dos EUA. Uma das áreas que o regime considerava estratégica era a de computadores, acreditando que o país precisava de tecnologia própria e fabricação local. Em 1979, no governo de João Figueiredo, foi criada a Secretaria Especial de Informática (SEI) para ajudar a formular a política do setor.
Em outubro de 1984, no apagar das luzes da ditadura, o Congresso aprovou a Política Nacional de Informática, com validade de oito anos e dentro de um espírito protecionista que regia praticamente toda a produção industrial brasileira. A norma previa, entre outras medidas, o veto à importação de computadores e componentes e o incentivo a empresas 100% nacionais. Acreditava-se que, sem a asfixia da concorrência com gigantes como a IBM, o Brasil poderia desenvolver uma indústria de informática (TI para quem tem menos de 40 anos) própria e sólida. Desnecessário dizer que não deu certo. Sem concorrência, a indústria nacional de fato cresceu, mas com produtos que não acompanhavam a velocidade de evolução do setor no mundo, afetando todo o resto da economia.
E, claro, como a maioria dos gigantes internacionais tinha sede nos EUA, Reagan partiu para a ofensiva. Não se tratava apenas de protecionismo; havia acusações de violação de patentes de hardware e softwares. Em 1985, o governo americano abriu uma investigação por práticas comerciais desleais e, em dois anos depois, Reagan impôs tarifas sobre uma série de produtos brasileiros, como couro, tubos de alumínio e autopeças e proibiu a venda para os EUA de equipamentos de informática brasileiros.
Em 1991, na esteira da abertura da economia brasileira promovida por Fernando Collor, a Lei de Informática foi alterada, permitindo que empresas estrangeiras se associassem a brasileiras para produzir aqui, mas a reserva de mercado de fato só caiu em outubro do ano seguinte, quando a legislação expirou.
Arapongagem made in USA
As encrencas entre Brasil e Estados Unidos não obedecem a limites ideológicos, tanto que a última delas, antes da atual, envolveu dois presidentes identificados com a esquerda, Barack Obama (ok, esquerda para os padrões dos EUA) e Dilma Rousseff. Em 2013, a ONG Wikileaks revelou um amplo esquema de espionagem por parte da Agência de Segurança Nacional (NSA, na sigla em inglês) americana contra o Brasil, incluindo a presidente, mas sem entrar em detalhes. Espionar aliados é uma prática comum em qualquer país que tenha um serviço de inteligência minimamente desenvolvido, mas ser pego em flagrante é feio.
A arapongagem contra o Brasil, dizia a Wikileaks, havia acontecido em 2011, logo no início do governo Dilma. A Casa Branca procurou sair pela tangente. Não negou, mas pediu desculpas e disse que a operação envolvia combate ao terrorismo, sem qualquer interesse econômico ou tentativa de prejudicar o governo brasileiro. Com protestos explodindo nas principais cidades do país e a perspectiva de uma campanha eleitoral dura no ano seguinte, Dilma aceitou as desculpas e as explicações e, uma vez reeleita, fez em 2015 uma visita oficial cheia de sorrisos a Obama.
Nem bem a presidente havia voltado ao Brasil quando um pool de veículos de comunicação publicou os detalhes dos dados vazados — não o teor das conversas, mas a lista dos telefones espionados. Entre os números brasileiros grampeados estavam as linhas fixas do gabinete no Palácio do Planalto e do comitê de campanha de Dilma e os celulares de autoridades ligadas à presidente, como o ex-ministro da Casa Civil Antônio Palocci. Até mesmo a linha por satélite do avião presidencial, supostamente segura, estava grampeada.
Pior, a afirmação de que a operação não tinha viés econômico caiu por terra. A Petrobras e o Ministério de Minas e Energia foram espionados, e mais uma vez o governo americano disse que estava atrás somente de dados sobre eventuais financiamentos a atividades terroristas. Ficou no ar, porém, a suspeita de que se buscavam informações estratégicas sobre exploração de petróleo no pré-sal, o que azedou as relações do Planalto com a Casa Branca. A deposição de Dilma em agosto do ano seguinte e, meses depois, a primeira eleição de Trump nos EUA acabaram jogando no esquecimento o incidente.
Agora é aguardar a sexta-feira e ver se o presidente americano vai de fato avocar o título de causador da maior crise de seu país com o Brasil.
A nova corrida pelo cobre
A cena, por tão comum, se tornou corriqueira nas redes sociais e, volta e meia, salta das telas dos celulares para os telejornais da TV aberta. Alguém, na calada da noite, é flagrado pendurado em um poste tentando roubar fios de eletricidade, cabos de telefone ou qualquer coisa que carregue cobre em seu interior. Para muita gente, trata-se de apenas mais um passo rumo à barbárie intrínseca a desigualdade social que o Brasil parece ser incapaz de reduzir. Afinal, é preciso estar em estado desesperador de miséria para alguém achar uma boa ideia pendurar-se em fios por onde transitam mais de 13 mil volts de eletricidade.
As cenas que ganham as redes brasileiras quase sempre vêm do Rio ou de São Paulo, mas se repetem por todo o país e em muitos outros lugares mundo afora. Engana-se quem pensa que se trata de algo exclusivo de partes menos desenvolvidas do planeta, como a África, a América do Sul ou a imensidão de pobreza que faz da Índia o país mais populoso do mundo. Os roubos de cabos elétricos têm se tornado cada vez mais frequentes também onde impera a riqueza, como nos Estados Unidos, em países da União Europeia — Espanha, França e Alemanha também sofrem com os roubos — e até mesmo na rica Inglaterra.
Essa corrida — e muitas vezes mortal — pelos cabos de eletricidade tem pouco a ver com o PIB de cada país. É, na verdade, um dos principais reflexos de um mundo que luta desesperadamente para reduzir o consumo de combustíveis fósseis e eletrificar tudo na vida: dos carros a uma simplória escova de dentes. Para alimentar as baterias que armazenam energia para que tantos motores elétricos funcionem ao mesmo tempo, o mundo precisa espalhar milhares de quilômetros de cabos de cobre para levar a eletricidade produzida nas usinas até as cidades. O crescimento acelerado do processo de transição energética, no entanto, está encontrando gargalos importantes. E um dos principais deles está justamente na capacidade de extrair, minerar e refinar o cobre.
Não é de se estranhar que o desequilíbrio entre a oferta e a demanda do mineral que alimenta as artérias da eletrificação esteja gerando uma inflação sem precedentes no preço do cobre. Há 20 anos, uma tonelada desse minério custava pouco mais de um terço dos quase US$ 10 mil cobrados hoje. O avanço nos preços se acelerou especialmente nos últimos cinco anos, com a explosão das vendas de carros elétricos e o crescimento exponencial na produção de energia por meio de placas solares e turbinas eólicas — que precisam de vastas quantidades de cobre para funcionar. E a tendência é de que o preço do metal avance outros 50% na próxima década. Um relatório do banco americano Goldman Sachs estima que, em 2035, a tonelada do mineral chegue a US$ 15 mil.
Com uma valorização tão acentuada, passou a ser lucrativo para muita gente se aventurar por galerias subterrâneas, pendurar-se em postes ou invadir linhas de trens e metrôs para roubar fios recheados de cobre. Em São Paulo, os casos se tornaram um problema tão grande que a concessionária que atende a região metropolitana decidiu trocar todas as tampas que dão acesso às galerias subterrâneas nas regiões centrais da cidade. Das tradicionais tampas de ferro, São Paulo passou a usar tampas de concreto, mais pesadas, que só podem ser levantadas com pequenos guindastes. Ainda assim, os furtos continuam. Só no ano passado, a Polícia Civil apreendeu 88 toneladas de fios de cobre sem procedência em desmanches e ferros-velhos da Grande São Paulo.
A operadora de telefonia Vivo, por exemplo, teve, só em São Paulo, 840 quilômetros de fios roubados em 2023. Um levantamento feito pela Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel), entidade ligada aos fabricantes do setor, aponta que, em dez anos, os furtos e roubos de cabos cresceram 280% no país e causaram um prejuízo de mais de R$ 1 bilhão. Pior: nessa última década, também dispararam os números de acidentes elétricos por sobrecarga e das mortes relacionadas a eles. De acordo com a associação, o número de acidentes cresceu 348% em 10 anos, enquanto as mortes subiram 318%, passando de 16 óbitos em 2013 para 67 em 2023. A explicação, segundo a Abracopel, é que muitas empresas estão produzindo fios com menor quantidade de cobre por conta do aumento dos preços.
O problema é global. Na Espanha, em maio deste ano, cerca de 16 mil passageiros da linha que liga Madri a Sevilha ficaram sem transporte ferroviário de alta velocidade por um dia porque ladrões roubaram parte da fiação que alimenta o sistema de segurança da rede. Na Inglaterra, as igrejas históricas do país — muitas vezes cobertas por telhados de cobre — estão montando sistemas especiais de segurança para evitar que ladrões levem embora as coberturas. No Chile, o maior produtor de cobre do mundo, a polícia montou forças-tarefa para impedir que bandidos invadam os trens de carga e roubem as lâminas de cobre que seguem rumo aos portos do país.
Promessa bíblica
Tudo isso está acontecendo porque a demanda cresce de forma acelerada, e a oferta tem tido muita dificuldade para atendê-la. O cobre é um minério extremamente útil à humanidade desde o início das civilizações. Escavações no Iraque mostram que ele já era usado há 10 mil anos. Cerca de 3.300 anos antes da Era Cristã, humanos em diferentes partes do mundo começaram a misturar cobre com um novo metal: o estanho. Nascia a Era do Bronze, fundamental para a expansão das cidades em todo o planeta. O cobre é até citado na Bíblia como sinônimo de fartura e bonança. Em Deuteronômio 8:9, lê-se sobre a promessa divina de Canaã: “Terra onde comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre.”
Com a descoberta da eletricidade, o cobre cumpriu as profecias e se transformou em elemento fundamental para o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida no mundo. Por meio dele, chegou a luz, a geladeira, o ar-condicionado e tudo mais que depende da energia elétrica. Mas, ano a ano, tem se tornado mais difícil extraí-lo da natureza. Enquanto há 100 anos as minas encontravam minério com concentração de até 5% de cobre, hoje raramente se encontram regiões com mais de 1% de concentração. Ou seja, na melhor das hipóteses, para se extrair um quilo de cobre puro, é preciso minerar mil quilos de terra. Não à toa, o estrago ambiental é gigantesco. As minas de cobre devastam tudo por onde passam e estão se tornando cada vez maiores.
E isso não é tudo. O processo de refino para se chegar a um cobre com 95% de pureza envolve o uso de produtos químicos extremamente poluentes, como arsênico, chumbo e mercúrio. Não raro, os grandes depósitos de rejeito produzem chuva ácida e contaminam tudo por onde passam. Para cada tonelada de cobre extraída, são emitidas cerca de cinco toneladas de gás carbônico e consumidos aproximadamente 100 mil litros de água.
Um estudo da Standard & Poor’s estima que o consumo de cobre no mundo vai dobrar nos próximos 10 anos. De acordo com as previsões da S&P, o planeta precisará passar das 25 milhões de toneladas produzidas em 2025 para pouco menos de 50 milhões de toneladas em 2035. A estimativa da agência de rating é que dificilmente essa demanda será atendida — e há grandes riscos de que a disputa pelo cobre cause desestabilizações geopolíticas no mundo.
O crescimento da demanda por cobre não está ligado apenas à transmissão de energia, seu papel principal hoje. Boa parte dos novos equipamentos que permitirão uma transição dos combustíveis fósseis para a produção de energia renovável consome imensas quantidades do metal em seus motores. Pegue um carro elétrico, por exemplo: um veículo de porte médio carrega, entre seus componentes, quase 150 kg de cobre. Um ônibus ou um caminhão pode consumir até 400kg. A produção de energia solar ou eólica é outro exemplo. A cada megawatt produzido por uma fazenda solar, são necessárias cerca de 4,6 toneladas de cobre para a fabricação das placas responsáveis por transformar os raios do sol em energia elétrica. Nas usinas eólicas, o consumo é ainda maior: para cada megawatt, o sistema consome 4,7 toneladas de cobre. E tudo isso antes de a energia entrar nos sistemas de distribuição.
Há um mundo novo vindo aí — provavelmente menos poluente, menos agressivo e, espera-se, mais justo. Tem sido assim ao longo da história. As inovações tecnológicas têm melhorado a vida de todos, dos mais ricos aos mais pobres. Mas, como tudo, a um preço muitas vezes salgado.
Cinco décadas de trânsito entre o erudito e o popular
Neste ano, a Orquestra Petrobras Sinfônica comemora 50 anos de existência. Um marco para qualquer corpo musical. As celebrações se materializam em uma série de concertos. Na próxima quarta-feira, dia 30, no Rio de Janeiro, a orquestra apresenta um programa especial, com regência de seu diretor artístico, Isaac Karabtchevsky, e o pianista Cristian Budu. Serão apresentadas duas peças de Tchaikovsky: o Concerto para Piano e Orquestra nº 1, com solos de Budu, e a Sinfonia nº 5 em Mi Menor.
Depois a sinfônica segue para São Paulo, onde realiza dois concertos. No sábado, 2 de agosto, Karabtchevsky rege La Gazza Ladra, de Rossini, e a Sinfonia nº 5 de Tchaikovsky no Cultura Artística. No domingo, o regente titular da orquestra, Felipe Prazeres, leva a Petrobras Sinfônica a outras paragens com o concerto Multiplayer, em que trilhas sonoras de videogames famosos ganham roupagem sinfônica. O concerto acontecerá no Teatro Sabesp Frei Caneca. Em seguida, a orquestra dá sequência à turnê de 50 anos, indo a Porto Alegre, Novo Hamburgo, Blumenau e Florianópolis.
Para falar sobre a história dessa orquestra, uma das mais importantes em ampliar o repertório sinfônico para além da música clássica, conversei com os dois maestros. Leia abaixo os principais trechos das entrevistas.
A Orquestra Petrobras Sinfônica comemora 50 anos com uma característica ímpar no Brasil: a gestão pelos próprios músicos. Como vocês avaliam que esse modelo de autogestão impactou a trajetória e as decisões artísticas da orquestra?
Isaac Karabtchevsky: A autogestão representou um gesto de coragem e maturidade que foi determinante para a consolidação de uma identidade singular no contexto musical brasileiro. Quando os músicos assumem a condução dos rumos artísticos, sua responsabilidade vai muito além da execução técnica. Eles passam a ocupar o papel de coautores do projeto estético. Essa experiência remete aos anos em que atuei na Europa, onde observei com clareza que a disposição do ser humano em relação à música e à arte é inquebrantável. Quando estava na Europa, pude observar diferentes modelos de funcionamento orquestral. Entre eles, a autogestão se destacava por favorecer a formação de uma entidade coletiva. Uma orquestra que deixa de ser mero instrumento do maestro para se tornar um organismo artístico autônomo. Essa relação intensa e contínua em que se consegue plasmar uma sonoridade genuína. A Petrobras Sinfônica é prova concreta de que quando os próprios artistas assumem a responsabilidade criativa, o resultado é uma trajetória de cinco décadas marcadas pela autenticidade, pela excelência e profundo comprometimento com a música.
Felipe Prazeres: Esse modelo, na verdade, vem desde 2008. É desafiador porque funciona com um conselho diretor, formado por três músicos, um conselho artístico também formado por três músicos e um conselho de representantes e o conselho fiscal, também de três músicos. Os poderes decisórios, obviamente, estão dentro do conselho diretor e da direção artística. Além de profissionais especializados, como o financeiro, por exemplo. Já fiz parte dos dois conselhos. É desafiador porque você tem que conviver diretamente, tomar decisões às vezes polêmicas, mas a gente tem uma coisa que faz muita diferença na vida do artista que é a música. No momento que a gente para pra tocar, pra ensaiar, não tem conversa, fofoca, ninguém pode falar mal de ninguém. No fundo, a coisa funciona muito bem, com muito mais prós do que contras.
Em São Paulo a orquestra apresenta dois programas distintos: um clássico, sob a batuta do maestro Karabtchevsky, e outro com trilhas de videogame, regido pelo maestro Felipe Prazeres. Essa dualidade parece ser a síntese da proposta da orquestra de “popularizar sem perder a essência”. Como foi a concepção dessa programação e o que cada um desses concertos representa dentro da comemoração do cinquentenário da orquestra?
FP: Um dos objetivos é mostrar a orquestra como um como um organismo musical. O DNA da orquestra é música clássica, e a gente jamais vai deixar de tocar o repertório sinfônico. Mas por que não desmistificar a orquestra? E esse conceito de games é importante, porque não tem nenhuma tela. É uma experiência auditiva, e visual porque as pessoas podem identificar os instrumentos diferentes. Os jogos, como Super Mario, Zelda e Fortnite, já estão na cabeça do público, né? O Multiplayer traz para a sala de concerto um público novo, que talvez não frequentasse uma apresentação sinfônica.
IK: Essa dualidade reflete diretamente a lição fundamental de Leonard Bernstein. Tudo começou com ele. Ninguém inventou nada. Bernstein foi o início de tudo, quando se trata de ampliar o público da música de concerto. Os Young People's Concerts de Bernstein com a Filarmónica de Nova York foram a inspiração direta para nossos Concertos para a Juventude. Foi o princípio norteador do projeto Aquarius, a comunhão da música com o povo. Não havia barreiras. A diversidade era o nosso lema. No mesmo projeto alinhavam-se Cazuza, Barão Vermelho, Rick Wakeman, Tom Jobim, e tantos outros, juntos com Beethoven, Mozart, ou Villa-Lobos. Bernstein nos mostrou que não existe contradição entre o West Side Story e a nona sinfonia de Beethoven. Ele regeu ambas com a mesma paixão e seriedade. O programa clássico que eu vou reger é em homenagem a essa tradição de apresentar obras sem pedantismo. Berlioz também dizia que o papel do maestro é ser um tradutor. E é isso que fazemos. Traduzimos a linguagem universal da música para cada geração, seja através de Tchaikovsky ou de trilhas contemporâneas.
Karabtchevsky, o concerto em São Paulo contará com a presença de 70 estudantes da Orquestra Sinfônica Heliópolis, da qual o senhor também é maestro. O que essa união de gerações e de projetos no palco simboliza para o futuro da música de concerto no Brasil e para a missão da própria Petrobras Sinfônica para os próximos 50 anos?
IK: Quando 70 estudantes de Heliópolis sobem ao palco conosco, não é apenas música que está acontecendo, é a transmissão de uma chama. A música tem esse poder mágico. Esses jovens representam o futuro, não porque são jovens, mas com o que trazem: a fome artística, a descoberta a capacidade de se emocionar que às vezes nós veteranos precisamos descobrir. A missão da Orquestra Petrobras Sinfônica nos próximos 50 anos é a de promover uma revolução musical brasileira. O futuro da música de concerto no Brasil passa necessariamente pela descentralização. Não podemos mais aceitar que a música sinfônica seja privilégio do eixo Rio-São Paulo. A Petrobras Sinfônica pode ser um laboratório de novas formas de como fazer música no século 21. Isso significa um repertório que dialogue com compositores brasileiros contemporâneos, programas que incluam a música eletrônica experimental, parcerias com universidades para pesquisa em acústica e performance. Mas, acima de tudo, a nossa missão é pedagógica. Quando a orquestra completar 100 anos, eu quero que o Brasil tenha uma geração inteira que cresceu ouvindo música sinfônica, que conhece Beethoven tanto quanto conhece funk, que não veja a contradição entre o erudito e o popular.
Felipe, você cresceu em meio à orquestra, sendo filho do maestro Armando Prazeres, seu fundador. Como a herança de seu pai influenciou sua própria jornada musical e sua visão sobre o que uma orquestra pode e deve ser?
FP: Olha, eu tenho um outro irmão que é maestro também, Carlos, da Sinfônica de Campinas e da Sinfônica da Bahia. E começou a reger antes de mim, ele é um pouquinho mais velho. E falo por ele também. Eu devo a minha formação toda à Petrobras Sinfônica. Sendo filho da pessoa que fundou a orquestra, é uma cobrança. Comecei nessa orquestra aos 17 anos, com muita vontade, cheio de sonhos, errando, acertando, com muito muito amor à música. Um amor que vem de muito cedo, de antes de eu me tornar profissional. Comecei tocando o segundo violino durante muitos anos. Em algum momento, aí o meu pai já tinha falecido, Roberto Tibiriça assumiu a orquestra e me deram essa possibilidade de estar à frente como spalla. Eu tinha 20, 21 anos. Errei muito, acertei, enfim, e a orquestra foi muito paciente comigo. E estudei muito. Com 27, 28 anos fui para Roma, para a Academia de Santa Cecilia, e tive um professor que me ensinou muito além do violino. E a chave para a regência começou a mudar ali. Agora, neste momento em que estou, ainda há muita coisa a aprender. A regência é algo muito desafiador. Tem a ver também com a comunicação com as pessoas. Qualquer regente hoje, maestro ou maestrina, tem de ser grato aos músicos, porque são eles que permitem que a mágica aconteça. A orquestra é hierárquica, então tem uma pessoa que precisa organizar tudo, mas também é preciso trazer um espírito de equipe. O maestro tem de saber escutar, e a troca é maravilhosa.
A pré-venda terminou, mas quem é assinante do Meio Premium ainda garante 20% de desconto no curso Teoria Econômica para Diálogos Construtivos, com Deborah Bizarria. Oportunidade única para entender os fundamentos que moldam decisões de governo, políticas públicas e o debate econômico — mesmo sem formação na área. Utilize o cupom PREMIUM20 para garantir o seu desconto. Compre já.
A política dominou o interesse dos assinantes do Meio nesta semana, e isso, por algum motivo, despertou os chocólatras dentre eles. Confira as notas mais clicadas:
1. Meio: Ponto de Partida - Pedro Doria analisa a diferença de postura entre o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que fala em “terra arrasada” e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), que critica esse discurso.
2. Meio: Ponto de Partida - Com base na última pesquisa Genial/Quaest, Pedro avalia quais as reais chances de um candidato da terceira via nas eleições de 2026.
3. Globo e Folha: Em artigo, Elio Gaspari condena a atitude dos empresários brasileiros, afirmando que, ao defenderem que Lula não retalie o tarifaço de Trump, eles enfraquecem a posição dos negociadores brasileiros.
4. Panelinha: Diante de tanta tensão, a solução é mandar para dentro um bolo de chocolate com gengibre.
5. Panelinha: E já que está frio mesmo, nada como um chocolate quente com canela.