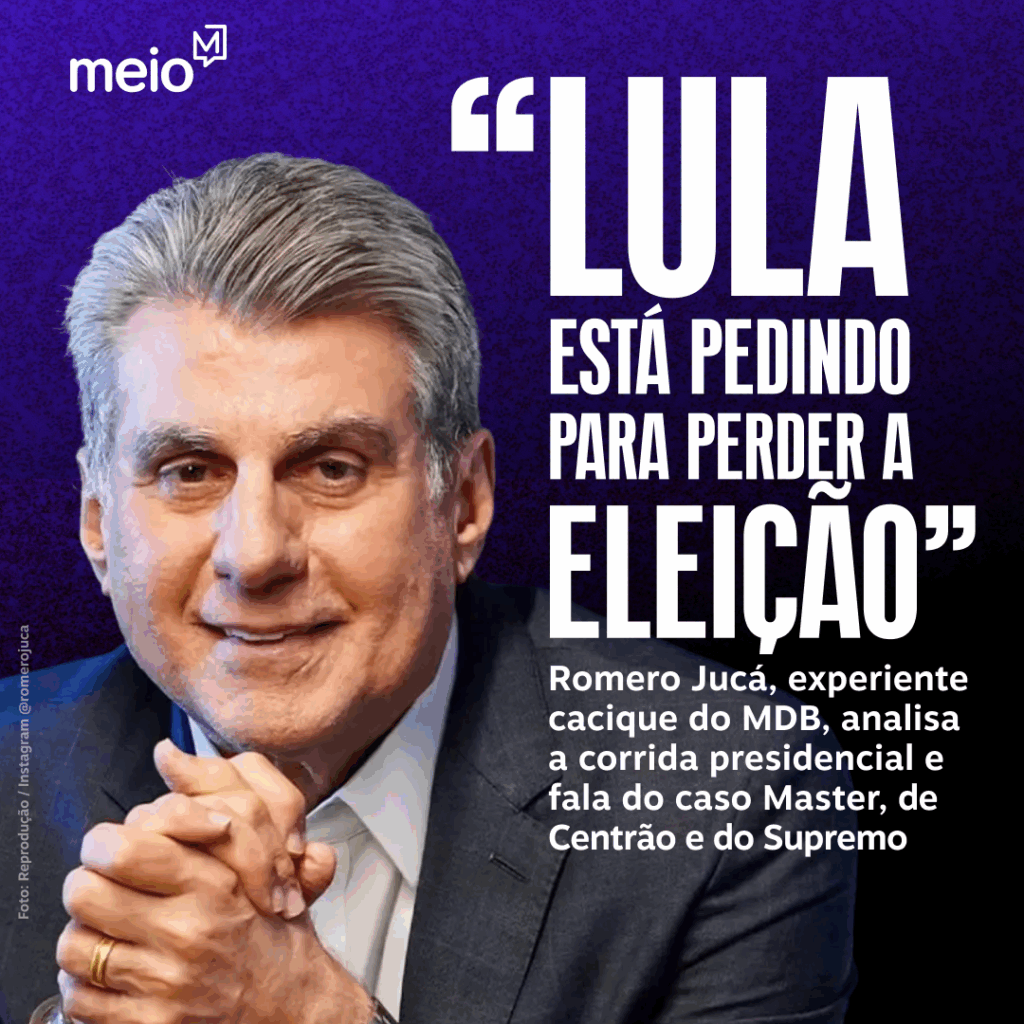Edição de Sábado: As fronteiras do chavismo

Receba as notícias mais importantes no seu e-mail
Assine agora. É grátis.
Não fossem os quatro blindados e a dúzia e meia de soldados das Forças Armadas colombianas equipados com velhos fuzis de assalto, poucos diriam que algo mudou nesta última semana na Ponte Simón Bolívar, a principal ligação por terra entre a Colômbia e a Venezuela. Carros, motos e ônibus circulam de um lado ao outro sem interrupções. Milhares de pessoas cruzam a pé a ponte que liga Cúcuta, na Colômbia, a San Antonio del Táchira, na Venezuela, como se nada de especial tivesse acontecido no sábado passado, quando as forças especiais americanas atacaram Caracas e sequestraram o presidente venezuelano Nicolás Maduro. A calma e a normalidade, no entanto, são só aparentes.
Bastam cinco minutos de conversa com os venezuelanos que entram e saem do país para ficar claro que os sorrisos e as piadas tão ao estilo brasileiro escondem a tensão e a incerteza sobre o futuro. Muitos com quem conversei relatam um aumento sensível das forças de segurança nas ruas das cidades fronteiriças, tanto as oficiais como as extraoficiais, como os chamados “colectivos”, grupos armados que atuam em apoio ao governo. “No sábado passado, só porque eu estava na rua para comprar pão pros meus filhos, eles me pararam, levaram meu celular, minha carteira, sem ao menos dizer nada”, me contava Kevin Cristantes, um venezuelano de 45 anos que saiu do país um pouco antes da pandemia de Covid-19.
Kevin, como quase nove milhões de seus compatriotas, fugiu da fome, da pobreza e da opressão. Vivia na cidade de Barquisimeto, no estado de Lara, e encontrou refúgio em Cúcuta com os filhos de 11, 9 e 6 anos. Sua mulher seguiu para os Estados Unidos e o deixou com as crianças após ele decidir que não faria a perigosa viagem pela América Central. “Fomos passar as festas na casa da minha mãe e então aconteceu isso. Esperamos um pouco para voltar com mais segurança, porque tudo estava muito incerto”, me dizia ele após cruzar a ponte. “Não sabemos o que pode acontecer nas próximas semanas.”
As dúvidas aqui na fronteira permeiam o pensamento de todos os venezuelanos, dentro e fora do país, após essa primeira semana intensa, confusa e de poucas informações concretas sobre o que se passa no coração do chavismo. Desde que Nicolás Maduro se foi, ninguém sabe ao certo que caminhos tomarão os principais personagens do núcleo duro do regime que agora, ao menos em teoria, governam o país. Apesar da saída do presidente, as estruturas de poder se mantiveram inalteradas. Delcy Rodríguez, a vice de Maduro, foi alçada ao posto de presidente interina. Seu irmão, Jorge Rodríguez, se mantém como presidente da Assembleia Nacional, enquanto, na área de segurança, Diosdado Cabello segue controlando as forças de repressão internas, e Padrino López continua como chefe das Forças Armadas.
Ao menos pelos sinais externos, os quatro se mantêm coesos, mesmo diante das suspeitas de que o ataque contra a Venezuela fez parte de um acordo amplo entre os Estados Unidos e integrantes do alto escalão chavista. Nos discursos, nas cerimônias e nas atuações das forças de segurança, tudo parece estar ocorrendo com surpreendente eficácia e unidade, mesmo em um momento de tanta instabilidade como este, em que forças militares americanas simplesmente capturaram o presidente venezuelano de dentro de um quartel do Exército no coração de Caracas.
Apesar de uma relação histórica com Hugo Chávez e o movimento que ele criou e controla a Venezuela há 27 anos, os irmãos Rodríguez nunca fizeram parte do núcleo militar que tentou um golpe em 1992 e, depois, ajudou Chávez a se eleger presidente em 1999. Padrino e Cabello estiveram com ele em todos esses momentos, como companheiros ideológicos e de armas. Para quem conhece os dilemas do chavismo por dentro, a impressão sempre foi que Delcy e Jorge Rodríguez tinham uma visão mais pragmática sobre o futuro do regime do que Cabello e Padrino.
Os dois militares, que na prática comandam as forças regulares e não regulares que sustentam o regime, sempre foram vistos como antagonistas dos Rodríguez nos momentos de maior tensão nas disputas internas, em especial depois da morte de Chávez em 2013. Ao longo dos anos de crise, Delcy conseguiu se destacar por sua condução da economia e, em especial, pela revitalização — ainda que tímida — da indústria petroleira da Venezuela.
Sob seu comando, a estatal de petróleo saiu dos 300 mil barris diários que produzia em 2020 para os atuais 1,2 milhão de barris. De acordo com fontes ouvidas pelo New York Times, foi seu desempenho na economia que animou o presidente americano Donald Trump a escolhê-la como principal interlocutora dentro do regime.
Nesta primeira semana, Delcy tem se mostrado aberta às investidas americanas contra a Venezuela. Modulou o discurso, dizendo que o país quer paz e diálogo, e anunciou que retomará as relações diplomáticas com os Estados Unidos, rompidas há mais de 15 anos. Ela também permitiu que a PDVSA declarasse publicamente que está disposta a vender petróleo para os EUA e, numa ação surpreendente, iniciou a libertação dos cerca de mil presos políticos encarcerados no país. Esses movimentos levaram Donald Trump a afirmar que uma segunda onda de ataques à Venezuela foi cancelada. Mas ainda é muito cedo para acreditar que a Venezuela — e os venezuelanos, de tantas matizes e interesses distintos — irá simplesmente aceitar que o país se torne uma colônia americana pronta a suprir a metrópole com seus recursos naturais.
Os sinais que chegam de Caracas e de outras regiões da Venezuela até aqui são contraditórios e podem demonstrar que a coesão não é tão sólida quanto estes primeiros dias insistem em fazer crer. Ao mesmo tempo em que anuncia a libertação de presos políticos, o regime tem endurecido a repressão no país. Prisões, detenções e interrogatórios arbitrários têm sido registrados não só em Caracas, mas em diferentes regiões. Grupos paramilitares, como os temidos “colectivos”, têm atuado com imensa liberdade mesmo na capital, agora carregando rifles — não apenas pistolas, como até o ano passado.
Enquanto Delcy promete distensão e diálogo, o cerco à imprensa está mais forte do que nunca. Nesta primeira semana, quase duas dezenas de jornalistas foram presos enquanto trabalhavam em Caracas, e um número ainda maior foi proibido de entrar no país, mesmo aqueles que já tinham visto de imprensa expedido pela chancelaria com o aval do Ministério das Comunicações. Na prática, a Venezuela impôs um bloqueio quase total à imprensa internacional. Aqui em Cúcuta, centenas de jornalistas passaram a semana esperando a autorização de Caracas para entrar como repórteres. Aqueles que não precisam de vistos para entrar na Venezuela, como os brasileiros, foram barrados na fronteira ao terem seus nomes pesquisados por agentes do serviço de contrainteligência militar, o DGCIM, que é quem de fato controla a entrada e saída do país.
“Veja, por mim vocês entravam, mas o problema é que Caracas determinou que nenhum jornalista entre no país sem uma nova autorização expedida pelo Ministério das Comunicações”, me explicava a agente de imigração venezuelana em “La Boca Fría”, uma cidadezinha fronteiriça no estado de Táchira. Sua explicação doce, quase compadecida, foi o final de uma tarde tensa que enfrentei com outros dois jornalistas brasileiros ao tentarmos entrar na Venezuela no início desta semana. O começo da conversa com ela e com um agente da contrainteligência militar não teve a mesma amabilidade.
Por longas quatro horas fomos interrogados no pequeno posto de fronteira que divide “Boca Fría” de Puerto Santander, no lado colombiano. Havíamos chegado ali no início da tarde para nos encontrar com um integrante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) que vive há anos no país e com um funcionário do governo venezuelano. Eles nos haviam prometido ajuda para cruzar a fronteira e chegar até Caracas. Caminhamos confiantes pela ponte estreita que separa os dois países, conversamos animadamente com os guardas que cuidavam da segurança e, certos do sucesso, fomos carimbar nossos passaportes.
Foi aí que surgiu o agente de contrainteligência. Logo tomou todos os celulares, passaportes e carteiras de identificação. Um a um, iniciou pesquisas na internet, mandou que desbloqueássemos os telefones e, com uma lenta curiosidade, passou a ler as mensagens guardadas no aparelho. “Jornalistas, né?”. Confirmamos. E repetidas perguntas se seguiram. Fomos fotografados e alertados a nunca tentar cruzar para a Venezuela. Em nenhum momento os agentes nos desrespeitaram, foram agressivos ou tiveram atos de violência. Mas as ordens estavam claras: jornalistas não podem entrar, mesmo como turistas.
Por pouco, a aventura não termina mal para o integrante do MST que saíra de Caracas para nos apoiar. Desconfiado, o agente de contrainteligência afirmou que ele, como nós, seria expulso do país. O integrante do movimento campesino brasileiro ficou apavorado com a possibilidade de não conseguir voltar para casa. Falando em português com algum sotaque espanhol, tentava explicar que vivia na Venezuela há anos, em uma “comuna”, que trabalha para o governo venezuelano e que, diferente de nós, nada tinha a ver com a imprensa. Diante das negativas do agente, decidiu largar sua última cartada: “Tenho mulher venezuelana, ela vai me matar se eu não voltar para casa, você sabe como elas são”. Pela primeira vez, o agente pareceu compadecido com a história do chavista brasileiro. Fez algumas ligações, reviu os passaportes, fez novas perguntas e, finalmente, permitiu que ele voltasse.
Tivemos destino oposto. Fomos escoltados por um soldado até a ponte que separa a Venezuela da Colômbia e obrigados a posar para mais uma foto — dessa vez para provar aos superiores que estávamos, de fato, indo embora. Tomamos um táxi e retornamos ao encontro de tantos jornalistas que haviam tentado o mesmo, sem sucesso. Um dos meus colegas brasileiros vive em Caracas, tem visto permanente de residência e autorização oficial do governo venezuelano para atuar como jornalista. Como nós, foi impedido de entrar. “Nem sei o que farei, minha casa, minhas roupas, minhas coisas estão em Caracas”, contava ele, enquanto voltávamos frustrados para a Colômbia.
Mas se a imprensa não vai à notícia, a notícia — ainda que manca — vai à imprensa. Na ponte Simón Bolívar, um grupo de meia dúzia de venezuelanos cruzou a fronteira no dia seguinte para mostrar apoio a Maduro. Os jornalistas, sem novas histórias, foram ouvir os barulhentos e coloridos chavistas sobre a ponte. Diziam que a Venezuela sofreu um ataque, que Chávez seguia vivo em seus corações e que lutariam para trazer Maduro de volta. Um dos manifestantes, vestido como o herói da independência venezuelana, Simón Bolívar, tentava dissipar as dúvidas que agora pairam sobre quem ficou no poder. “Qualquer acordo com os gringos é traição à pátria”, dizia ele, com as suíças falsas derretendo sob o calor intenso. De pronto, desembainhou sua espada e gritou: “La patria o la muerte”.
Mercedes e os Pretos Novos
Era o primeiro dia de reforma na casa de Merced Guimarães e sua família, quando ela recebeu uma ligação que mudaria sua vida, a de seus filhos e de uma parte importante da história do Rio de Janeiro. Era 8 de janeiro de 1996. O mestre de obras ligou para sua pequena empresa, falando sobre os achados da construção. Merced e seu marido haviam decidido sair do aluguel depois de terem a terceira filha e alguns bichos para criar em um apartamento alugado no bairro da Saúde, região próxima à Gamboa, onde cresceram, se conheceram e se casaram.
A casa foi comprada em 1990, dias antes do Plano Collor também marcar o país pelos históricos confiscos de contas corrente e poupança de milhões de pessoas. Por pouco, a família de Merced não fica sem fundos para adquirir o imóvel. Mas esse não foi o único sufoco que eles passaram desde então por conta da realização do sonho da casa própria.
A família mudou-se para o imóvel no mesmo ano. Logo perceberam que a moradia precisava de muita reforma: telhado quebrado, madeira podre, falta de estrutura basilar e necessidade de ajustes na parte hidráulica. O casal passou seis anos juntando dinheiro para realizar os consertos. Após fazer um projeto, começaram a reforma estrutural, mas, logo nas primeiras horas de serviço, ao cavarem buracos para levantar novas colunas, os pedreiros encontraram ossadas.
Tem bicho enterrado aqui
Ao entrar em contato com Merced, o pedreiro disse que os antigos moradores tinham o costume de enterrar animais de estimação no quintal quando morriam, pois estava cheio de ossos de bichos misturados à terra. A proprietária resolveu sair de seu escritório para observar os achados. Ao chegar na residência, percebeu que não se tratava de animais enterrados. Notou que parte dos ossos pareciam humanos. “Quando eu vi a arcada dentária, falei: isso aqui não é bicho, não. Isso aqui é gente”, relembra. No primeiro momento, ela pensou se tratar do resultado de uma chacina, pela quantidade de ossos encontrados no terreno.
Nem era o fim da tarde quando os trabalhadores foram embora e deixaram Merced com os montes de ossos misturados ao entulho no quintal. Ela acabou organizando as ossadas em caixas que conseguiu em uma quitanda próxima. “Eu enchi 11 caixas grandes de papelão”, conta. Tentando entender o que aconteceu, procurou um antigo vizinho, Antônio Carlos Machado, que conhecia bem a história daquele bairro. Antes, Machado e um grupo de moradores se reuniram para preservar o bairro contra a compra da área para a construção de uma área comercial e industrial. A luta gerou o Projeto SAGAS, que criou uma Área de Proteção Ambiental nos bairros da Saúde, Gamboa e Santo Cristo, visando preservar seu patrimônio cultural e histórico contra a especulação imobiliária. Ao longo desse tempo, pesquisando sobre a região, Machado descobriu que havia naquele lugar o caminho que ia para um cemitério.
Cemitério dos Pretos Novos
Usado para despejar corpos de africanos cativos, o Cemitério dos Pretos Novos funcionou entre 1769 e 1830 na Zona Portuária do Rio. Eram dois cemitérios que atenderam a essa função: um no Largo de Santa Rita, na Praça XV de Novembro, enquanto seu substituto era no Caminho da Gamboa, quando o mercado de escravos foi transferido para o Valongo. No terreno de 700 metros quadrados, foram depositados os restos mortais de cerca de 30 mil pessoas – alguns estudiosos chegam a falar em 60 mil africanos, a maioria jovens e crianças. Pela pequena dimensão do terreno, comparado ao número de mortos, os corpos eram desmembrados, queimados e espalhados pelo espaço, sendo cobertos por apenas algumas pás de terra. Após o fim das atividades do cemitério, moradores locais passaram a usar o ambiente como ponto de descarte do lixo doméstico, como restos de comidas e cacos de louça e vidro.
Não por acaso havia tantos corpos no mesmo local. Com a expansão do negócio negreiro nos anos de 1640 para cultivo de cana-de-açúcar e criação de novos engenhos, o mercado de compra e venda de escravizados se estabeleceu na Rua Direita (atual Rua Primeiro de Março) até 1774, quando o vice-rei Marquês do Lavradio mandou transferir as operações, incluindo o enterro de cativos, para a região do Valongo. Estima-se que mais de um milhão de africanos capturados para a escravidão tenham passado por lá.
O mercado escravagista atingiu seu auge no Brasil em 1808, após a chegada da família real portuguesa ao país, fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte. Foi nesse período que o Complexo do Valongo se tornou a área mais rentável da cidade do Rio. Alto fluxo de pessoas (na época, tratadas como mercadorias), maior também o número de baixas. Por conta das péssimas condições de viagem, cerca de 40% dos africanos chegavam debilitados, feridos, desnutridos ou doentes. Aqueles que não sobreviviam eram descartados no Cemitério dos Pretos Novos. Aliás, o termo “preto novo” era usado para designar o africano recém-chegado, que, apesar de cativo, ainda não havia sido vendido para ninguém. Um produto por conta da cor da pele, um preto novo.
O descaso
Após seis meses desde que o departamento de Patrimônio Cultural do Rio visitou o local com equipes de físicos, arquitetos, geólogos, paleontólogos, nada saiu do lugar. Dois anos depois, uma pessoa recomendou que Merced procurasse o Museu Nacional para buscar recursos de pesquisa e tratamento do local, porque a prefeitura carioca não teria condições. Sem solução ou desdobramentos do caso, a família foi fazendo a obra de reforma da casa, que só foi concluída em 2001, apesar dos desentendimentos com a prefeitura.
Buscando manter a história viva, mas sem saber como, fizeram um site, em 2003. “Não tinha noção do que fazer porque ninguém queria saber de cemitério”, pensou Merced. Também começaram a expor quadros de pintura afro-brasileira na sala da frente. Foi quando começaram a surgir jornalistas e pesquisadores querendo saber da história. Sem ter nenhum apoio ou interesse do Estado para resolver, um grupo de pessoas convenceu Merced a abrir um CNPJ, em 2005, e fazer um memorial onde era a garagem de sua residência.
Naquele ano, a família Guimarães comprou o imóvel do lado para fazer uma garagem e receber as pessoas interessadas, que chegavam para visitar o espaço diariamente. Surge, então, o Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos (IPN), em 13 de maio de 2005. Desde então, mais de 300 mil pessoas já visitaram o IPN.
Realizações e desafios
“O cemitério transformou a região”, afirma Merced. “Se não achassem o cemitério, o Cais do Valongo ia ser ser encontrado, mas não teria um arqueólogo acompanhando as obras.” Para ela, uma das maiores conquistas no período é oferecer aos mais diversos públicos uma história importante do passado sombrio do nosso país. Por exemplo, às mais de 60 mil crianças de escolas públicas levadas ao local porque o IPN freta ônibus de ida e volta com a ajuda de emendas parlamentares. Ou aos membros de um clubinho de leituras afrocentradas, que promove o letramento racial para jovens do ensino fundamental.
Um dos maiores desafios do IPN é a falta de recursos para tirar projetos do papel e expandir os já existentes. Mesmo podendo ter acesso à Lei Rouanet, Merced relata ter dificuldades em fazer captação, devido à falta de patrocinadores. “Infelizmente, essas empresas grandes só querem investir em grandes festivais e eventos, e não querem investir na história brasileira”, conta.
Mais do que história, o Cemitério dos Pretos Novos é um registro vivo da crueldade humana e da dimensão da violência a que os negros foram submetidos desde o período colonial. Uma chaga que não pode ser simplesmente curada, mas precisa ser conhecida para que a consciência coletiva possa encarar seu passado e pensar melhor seu futuro.
Trilha sonora da vida
Gaía Passarelli foi da última geração de VJs de música da MTV Brasil, numa tentativa de fazer com que a letra M da marca voltasse a ter algum significado para uma geração que já explorava o mundo com smartphones na mão. E não era qualquer VJ. Seu programa Goo, com nome inspirado no ruidoso disco do Sonic Youth, trazia para a TV artistas que não estavam no radar pop, embora, eventualmente, algumas das bandas lançadas no Goo furassem a bolha e entrassem na programação regular, gente como Lana Del Rey ou Grimes.
O programa não chegou a completar um ano. Na verdade, toda essa fase da MTV Brasil durou pouco mais de dois anos, até que em 2013 a emissora que revolucionou o jeito como a música era consumida no país desde os anos 1990 deixou a Abril, o prédio icônico do Sumaré – que havia sido da pioneira TV Tupi – e se tornou mais um canal a cabo, com o mínimo de produção nacional, aproveitando o conteúdo de sua produtora nos Estados Unidos, a Viacom.
A história do Goo e deste fim da MTV está no recém-lançado Deslumbre — Histórias de Obsessão Musical, terceiro livro de Gaía, mas o primeiro dedicado a uma de suas maiores paixões: a música. Resolvi falar dele nesta primeira edição do ano por alguns motivos. Primeiro porque é uma daquelas leituras leves, deliciosas para as férias. Só que tem um segundo motivo, menos óbvio. Em um outro 10 de janeiro, há exatos 10 anos, morria David Bowie, artista preferido de Gaía e figura que aparece algumas vezes nessas suas crônicas embebidas em memórias. E, se me permitirem um terceiro, ao encerrar cada parte, Deslumbre traz algumas das melhores coleções de listas de filmes e álbuns que vi nos últimos tempos, e essa época de férias é perfeita para explorar esse universo tão particular.
O fim da MTV tem uma relação direta com a criação do livro. “Eu tomei a decisão muito consciente de parar de escrever de música um pouco depois do final da MTV. Tive um canal no YouTube, fiz uma reportagem para uma edição especial da Bis, mas ficou muito claro para mim que não ia dar para seguir carreira com isso, que já estava rolando um momento muito ruim do jornalismo cultural como um todo. E também porque, pessoalmente, eu estava um pouco de saco cheio de ter que ficar emitindo opinião sobre coisas que às vezes eu nem tinha opinião, e queria parar de ser a menina que escreve de banda indie”, conta numa conversa pouco antes do lançamento do livro no fim de dezembro.
Deslumbre começa a se formar com um convite da editora Terreno Estranho para que Gaía relembrasse as histórias doidas que tinha acumulado ao longo da sua vida como jornalista de música. “Fiquei com esse problema. Não tenho tantas,histórias saborosas mesmo, onde as coisas dão errado e tem, sei lá, drogas, decadência e depravação”, diz. O projeto então ficou num limbo até Gaía se mudar para Santa Cecília e começar a pensar no período em que frequentava o Retrô na adolescência. “Aí comecei meio a elaborar na minha cabeça um livro que falasse sobre como a música teve uma importância muito grande em vários momentos da minha vida e como acabou formando minha personalidade. E eu acho que isso é uma coisa com a qual muitas pessoas se identificam".
Daí o título e a estrutura cronológica de Deslumbre, que se fixa em três fases principais. Começa em 1991, com uma Gaía de 13 anos descobrindo o mundo gótico justamente no Retrô, em Santa Cecília. Nessa primeira parte, é o deslumbre com o mundo do rock soturno, a experiência de chegar à pista de dança escura e ouvir Bela Lugosi Is Dead, do Bauhaus, em meio à fumaça e à luz estroboscópica. A música começando a ter centralidade na vida, mas também a levando a decisões questionáveis como largar a escola e fugir de casa, dormindo na rua em casas abandonadas. Driblando a vigilância paterna numa época em que o melhor que se tinha para checar o paradeiro dos filhos era o telefone fixo. “A gente ocupava uns lugares que estavam vazios mesmo. Inclusive tem um que está lá até hoje do lado de onde era o Retrô, eu passo na frente sempre”, lembra.
A segunda parte do livro começa em 1994, com Gaía indo para Londres , numa tentativa dos pais de afastá-la dessa fase mais pesada. Só que lá ela descobre a música eletrônica, que está começando a explodir no mainstream. E de Londres, segue para São Paulo, para lugares icônicos como o Hell’s Club e esse início da cultura clubber, que também coincide com a sua entrada no jornalismo. Junto com Camilo Rocha e Gil Barbara, Gaía funda em 1997 o rraurl.com, primeiro site de música eletrônica do país, que durou até 2011. “Ele mudou muito ao longo dos anos. Era uma coisa muito caseira falando do nosso universo mais imediato, das raves em São Paulo, daquelas em Mairiporã. Mas aí a gente conhece um monte de entusiastas de música eletrônica em várias partes do Brasil e ele fica mais nacional. E pós 2ManyDJS a gente não quer mais ficar no binômio house e techno e começa a falar de outros tipos de música.” Mesmo tendo crescido bastante, o Rraurl perde espaço com a a chegada das redes sociais. E aí começa um novo capítulo musical para Gaía.
A terceira parte do livro, com início em 2011, narra a aventura da MTV, começando com o Goo. “Ele ficou registrado como um programa meio secreto, pequeno, porém ambicioso, colocando na tela músicas e bandas que ninguém mais estava tocando, movimentos que ainda não tinham nome e que destoavam totalmente daquilo que fazia parte da cultura MTVística na época”, recorda.
Gaía não só entra nessas recordações de um momento especialmente bom da música indie global, mas também mergulha no colapso da MTV Brasil. “Muita gente falou desse fim, e é um assunto para o qual não tenho muita paciência, mas achei que essa era uma oportunidade de falar musicalmente do final da MTV.” Um detalhe curioso. Enquanto estava na TV, ela fez para o site uma coluna que chamava Bowie do Dia, com curiosidades sobre o camaleão inglês, que circulou diariamente entre 2012 e 2013. Como todo registro dessa época, tudo foi apagado ou perdido. Pois essa ideia acaba de ressurgir e, a partir da próxima semana, ela vai incluir o Bowie da Semana, no mesmo espírito e com mais maturidade, em sua newsletter no Substack, a incrível Tá Todo Mundo Tentando.
A entrada seguinte, datada de 2013, quase daria um outro livro. Fala da visita que fez à casa de John Peel, o “lendário radialista da BBC que apresentou ao mundo milhares de bandas e influenciou gerações de fãs de música”, como descreve no livro. Ela visita sua casa-estúdio, a Peel Acres, para o site da MTV. “Na época, passou totalmente batido. Ninguém viu, eu fiquei meio chateada.” Por isso retomar a história com mais detalhes e também se aprofundando na questão musical, afinal Peel é central para todas essas histórias que compõem Deslumbre. Não só pelos artistas que compõem sua coleção de cerca de 120 mil singles e LPS, mas sobretudo por mostrar o estúdio como o coração da casa, “onde ele gravava bandas como Fall, Specials, Pulp e Nirvana, sempre antes da fama”.
O livro termina, como deveria ser, em 2025, com Gaía refletindo sobre essa interseção entre música e vida, um fechamento para essa história e também um jeito mais maduro de conviver com o impacto que a música têm na vida de pessoas como nós, eternos deslumbrados pela mística musical.
Quem quiser conhecer essas histórias de perto, no próximo dia 15 terá lançamento do Deslumbre na livraria Ponta de Lança em São Paulo, com uma conversa entre Gaía, Camilo Rocha e Rodrigo Carneiro, mediada pela jornalista Camila Yahn.
Está sabendo o que vem por aí? Em 2026, a gente vai entregar ainda mais lançamentos pensados especialmente para você que é nosso assinante Premium. E o primeiro já chega na próxima semana: lançaremos a Pesquisa Meio Ideia, um acompanhamento mensal para você atravessar o ano eleitoral orientado por dados. A gente vai te munir de informações para você compartilhar com os amigos, família e para pensar seu voto. Fica também o convite para assistir ao nosso novo vídeo-manifesto: um lembrete do porquê informação de qualidade muda o jeito como a gente entende o dia e conversa sobre o país. Você pode assistir aqui e deixar sua opinião!
Venezuela dominou a atenção dos nossos leitores — mas coube uma pitada de cor também. Confira os links mais clicados da primeira semana do ano:
1. Migalhas: Quem é o juiz do caso de Nicolás Maduro nos EUA.
2. CNN: As imagens da operação dos EUA em Caracas.
3. Guardian: Vídeo mostra Maduro na prisão no Brooklyn, em Nova York.
4. Folha: EUA usaram drones kamikaze na operação.
5. Catraca Livre: As cores da moda em 2026, segundo a Pantone.