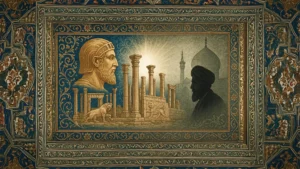Prezadas leitoras, caros leitores —
A crise no Oriente Médio despertou os piores sentimentos em muita gente em todo o mundo. Se antes a polarização era entre direita e esquerda, terraplanistas e terroglobistas, agora ela vem sendo acirrada pela xenofobia, dividindo a humanidade em islamofóbicos e antissemitas. Aqui no Meio, levamos o assunto a sério, como prova o artigo principal desta edição e o curso “Israel e Palestina: uma Tragédia Evitável?”, ambos aos cuidados de nosso editor, Pedro Doria.
Acreditamos que polarização se combate com debate, troca de ideias, informação livre. Por isso decidimos abrir a aula inaugural deste curso a qualquer um que queira assisti-lo. Você, assinante Premium, já está dentro. Basta se cadastrar e aguardar a chegada do link para assistir a aula ao vivo, na próxima quinta (9), às 19h. Se interessar, pode adquirir o curso com 20% de desconto, mais uma vantagem do Meio Premium.
A novidade é que você pode repassar o link do cadastro para quem você quiser: amigos, inimigos, simpatizantes, antipatizantes. Estão todos convidados a assistir a aula inaugural onde Pedro vai passar pelos milênios de conflitos que geraram a situação atual na Palestina e tentar visualizar seu futuro. Passe o link adiante e vamos conversar.
Nos vemos na quinta!
— Os Editores
Edição de Sábado: Israel não tem como ganhar

Há algumas semanas um acontecimento vem se repetido incontáveis vezes no Rio ou em São Paulo, em Nova York, na Califórnia, em diversas cidades da Europa. É um desentendimento. Um desentendimento profundo, em alguns casos doloroso, conforme judeus progressistas e seus amigos gentios percebem-se separados por uma compreensão muito distinta a respeito do que acontece hoje em Israel e na Faixa de Gaza. O desentendimento às vezes é verbalizado, muitas vezes não. Ele se dá na leitura do comentário de um amigo querido nas redes sociais, um comentário que surpreende. Ou então numa altercação no ambiente de trabalho. Mas ele se dá, com cada vez mais frequência. Com cada vez mais virulência. Às vezes, ele fere. E um grupo não consegue sequer alcançar o outro.
A dinâmica que tomou as rédeas nos debates fez parecer que aliados políticos e mesmo amigos assumissem, de uma hora para outra, conjuntos muito distintos de valores. Repentinamente foram feitos adversários, incapazes de perceber o que os aproximava apenas dias antes. Mas compreender esta dinâmica que tomou as conversas desde o Pogrom do Hamas nos ajuda a mapear muito da política em todas as democracias ocidentais, hoje. O que separa os dois grupos são uma ideologia e duas histórias.
As duas histórias contam, de formas tão distintas quanto similares, o que aconteceu de 1947 para cá naquela nesga de terra pouco fértil entre o Sinai e o Líbano, prensada dum lado pela Jordânia, pelo Mediterrâneo do outro. Mas as duas histórias sempre existiram, embora a maneira como são contadas tenha se transformado nos últimos anos. Sempre existiram e sempre despertaram debate.
A novidade é a ideologia.
Assim como as redes sociais transformaram a direita, fizeram o mesmo com a esquerda nos últimos dez anos. Acelerada pelas redes, decomposta e sintetizada, filtrada, catalisada, a direita foi lançada ao extremo, tornou-se populista e autoritária. Daí antidemocrática. Porque mostrou-se rapidamente capaz de angariar votos e chegar ao poder, e assim pôs democracias em perigo real, esta nova direita imediatamente recebeu o olhar atento da academia.
A nova ideologia da esquerda não põe democracias em posição de risco de golpes, nem pretende alterar o equilíbrio dos três poderes. Mas este não é o único motivo pelo qual a academia não dedicou o mesmo esforço a estuda-la. Esta nova ideologia tornou-se rapidamente dominante e ou contagia, ou intimida professores mesmo nas melhores universidades. Porque uma de suas características é justamente esta: está em sua natureza constitutiva intimidar. O cientista político alemão Yascha Mounk propõe chama-la de “síntese identitária”.
Uma ideologia sem nome
Não tem nome porque faz parte de sua estratégia de disseminação rejeitar classificação. Sem ter nome, repudiando termos como ‘identitarismo’ ou ‘cultura woke’, pode vender-se não como uma ideologia disputando com outras uma lente a colocar sobre a realidade. Vende-se como a única visão sensata, possível, razoável da realidade. Em The Identity Trap, seu livro lançado agora em outubro, Mounk retraça o cruzamento de leituras que levou a esta visão de mundo. Aí, a partir destas leituras, de como, nas redes, construiu-se uma síntese pop, de fácil digestão.
Sua ideia inicial, de como poder se constrói, ela a toma emprestado do francês Michel Foucault, um dos ícones intelectuais dos anos 1960. Enquanto Karl Marx percebia o poder como um sistema de dominação de uma classe social, Foucault o via como algo muito mais difuso. O poder, para ele, não está com o Estado, ou com uma classe social. Está em como classificamos as pessoas. Os loucos, os presos, os homossexuais. Tais classificações, para ele, não vêm de um olhar objetivo sobre a realidade. São fruto da cultura. Podem se disfarçar de realidade, mas são escolhas. Portanto, são instrumentos de poder. É na maneira como, numa sociedade, classificamos quem é o quê que exercemos poder. E, por isso mesmo, o poder nasce de um exercício coletivo de todos quando classificamos cada indivíduo, colocando-o num determinado lugar.
Desta base de Foucault ergueram-se dois críticos literários — o palestino Edward Said e a indiana Gayatri Spivak, ambos professores estrelas da Universidade Columbia, em Nova York, nas décadas seguintes. De formas similares, eles sugeriram que é na maneira como narramos História que criamos relações de poder. A partir daí, noções como a do Oriente visto da Europa impõem opressão. Se estas Histórias são “construções sociais”, precisam ser combatidas com outras Histórias. O pós-modernismo se construía.
Mais ou menos neste mesmo período, em Harvard, o jurista Derrick Bell havia se tornado um ativista americano pelos direitos negros que questionava a estratégia de luta da geração anterior, liderada por Martin Luther King. As vitórias nos tribunais, as vitórias políticas, ele dizia, não levaram a melhoria real para a vida de homens e mulheres negros. Elas eram concessões dos brancos. Para Bell, o racismo não vinha de herança dos tempos da escravatura — era, isto sim, fator indissociável da estrutura da sociedade.
Nenhuma destas ideias foi apresentada ao mundo em textos de fácil digestão. Nenhum dos conceitos que nasce no pós-modernismo é fácil, portanto não se prestam de forma evidente a uma ideologia pop. O jeito como Foucault trabalhava poder e identidade, ou a maneira pela qual Said encarava colonialismo e Bell racismo, se dependesse dos seus artigos e livros, provavelmente jamais teriam deixado os campi universitários. Mas, a partir dos anos 2010, começaram todas essas ideias a serem sintetizadas no Tumblr, plataforma de blogs particularmente capaz de fazer viralizarem memes na forma de imagens com slogans. Uma geração de jovens ativistas que saíam das universidades organizaram juntos uma colagem destes conceitos na forma de cartuns ou fotografias engraçadas com frases fortes e curtas.
A síntese ideológica criada a partir dali, e depois em todas as outras redes sociais e finalmente na grande imprensa, estabelece que cada pessoa tem sua identidade. Toda opressão é estrutural e diretamente ligada a esta identidade. Questionar as dores da vivência desta identidade não pode ser feito jamais. Portanto é imposto que a luta de cada um contra o que o oprime deve ser a luta dos outros. Qualquer recusa a reconhecer a identidade de alguém, ou de abraçar sua luta, precisa ser imediatamente condenada por todos. Coletivamente. E como, no fim, tudo nasce do discurso, de como se narra uma história, todo discurso precisa ser vigiado para desvios já que todo desvio é opressão — e opressores devem ser rechaçados.
A nova ideologia de esquerda não é, como sugere a extrema direita, um marxismo cultural. Ela compreende poder de um jeito fundamentalmente distinto de como Marx o compreendia. E, é importante ressaltar novamente, ela não constitui uma ameaça ao regime democrático.
O que ela faz, na verdade, é apontar o dedo para injustiças reais que existem na sociedade. “Ela oferece a quem se sente marginalizado ou maltratado uma linguagem pela qual pode descrever suas experiências”, diz Mounk. “Assim, permite a todos que a abraçam um sentimento de pertencer a um grande movimento histórico que fará do mundo um lugar melhor. Isto explica por que é tão sedutora, principalmente para os jovens mais idealistas.”
Embora não ameace o regime democrático, ameaça o debate público que sustenta democracias. Ela traz em si um componente autoritário por não tolerar desvios. Reage a todo dissenso com virulência digital, na forma de cancelamentos.
Identidade está no centro desta ideologia. Cancelamentos, a resposta coletiva e violenta de repulsa a tudo que é considerado desvio, é sua forma de ação.
O lugar do judeu
Ocorre que calhou de, no jogo do resta um da distribuição de identidades da nova ideologia, o judeu cair do outro lado. Terminou com o selo de “pessoa branca”. Portanto é opressor. Ou: colonizador.
Ideologias, como são praticadas coletivamente, não estão descritas num manual, não vêm com mapa. Foucault, que dificilmente adotaria esta ideologia, tinha alguma razão. Poder é também distribuído através de muitas pequenas decisões a respeito de como caracterizar as pessoas. Num mundo em que marchas ainda ocorrem nos Estados Unidos com rapazes carregando tochas aos gritos de “judeus não vão nos substituir”, em que nas capitais europeias ainda se pintam Estrelas de David nas portas de casas e lojas, onde suásticas aparecem recorrentemente celebradas, esta nova ideologia fez uma escolha. Num mundo onde um grupo como o Hamas é fundado sob o juramento de extermínio do povo judeu numa área geográfica, em que seus militantes exercem com sadismo e euforia nazistas o massacre de judeus como aconteceu em 7 de outubro, esta ideologia não é capaz de enxergar o antissemitismo vivo. Da maneira como compreende o mundo, antissemitismo pertence ao passado. Hoje, o judeu, que foi oprimido, tornou-se opressor.
Se não há manual, fica a dúvida de por que esta escolha. Não tem resposta evidente. Mas é inevitável lembrar de um único estereótipo: o do homem poderoso, com muitos recursos, que por isso secretamente controla a sociedade. Um estereótipo de bem mais que um milênio, consolidado desde os tempos em que a Igreja proibia a católicos o empréstimo de dinheiro a juro. Uma ideia tão forte que serviu de desculpa a massacres por toda Idade Média, passou pela Inquisição, está no Shylock de Shakespeare, no argumento dos pogroms, ainda era viva o bastante para popularizar os Protocolos dos Sábios de Sião e é uma das linhas mestras no argumento do Mein Kampf de Adolf Hitler. É uma ideia que está, hoje, na maneira como o premiê húngaro Viktor Órban descreve o investidor George Soros: um manipulador de marionetes que controla secretamente a política europeia. Poucos racismos são tão resilientes.
Na ideologia das redes, o judeu foi posto no lugar do opressor. E, pela norma de como o debate corre nas redes, o papel de quem calhou de nascer com identidade de opressor é reconhecer suas culpas, responsabilidades, e limitar-se a isso. Jamais defender-se.
Duas histórias
A história que palestinos e judeus contam sobre si após a decisão da ONU de criar no Oriente Médio dois Estados, um para cada povo, segue essencialmente as mesmas linhas. É a de grandes deslocamentos populacionais. Deslocamentos forçados por medo, violência e expulsão.
Entre o final do século 19 e 1950, aproximadamente meio milhão de judeus deixaram a Europa para fundar o Estado judaico. A eles se somaram entre 850 mil e um milhão de judeus expulsos logo depos de Marrocos, Argélia, Tunísia, Egito, Líbia, Iraque, Iêmen, Síria e Líbano. Porque judeus não são brancos. Há judeus de cabelos louros ondulados e olhos azuis, como há judeus morenos de cabelos encaracolados. Como há judeus negros. A identidade é cultural, não racial. E, em Israel, a diferença entre os expulsos por sociedades europeias e os expulsos por sociedades árabes se dá na proporção de um para cada dois.
Mas há, também, a Nakba, ou catástrofe, que é como os palestinos se referem ao seu deslocamento após a derrota árabe na guerra que levou à fundação de Israel. A sua expulsão também de suas casas. As contas que fazem põem em algo entre 700 e 900 mil pessoas que foram obrigadas a deixar suas terras sem indenização. É um evento traumático e fundador da identidade palestina moderna. Um dos símbolos de sua luta é a chave pendurada no pescoço como se fosse um pendente que tantos ainda carregam. É um símbolo muito forte.
No mesmo ano em que a ONU decidiu pela criação dos dois Estados, 1947, algo entre 10 e 15 milhões de pessoas deixaram suas casas na Índia para a formação do Paquistão. Desde a primeira guerra civil no Sudão, no início dos anos 1950, mais de 10 milhões de pessoas perderam suas casas e precisaram migrar para milhares de quilômetros além — muitas vezes para fora de seu país.
Os grandes deslocamentos populacionais são uma das marcas do pós-colonialismo europeu.
O povo judeu não é colonizador, imperialista. É uma das vítimas da crise que veio após a dissolução dos impérios europeus. E não só dos impérios europeus. Afinal, a circunstância que levou ao tracejado do atual Oriente Médio se deu a partir da fratura de outro império — o Otomano. Turco, portanto. E, como lembrou esta semana o jornalista italiano Federico Rampini no Corriere della Sera, árabe não é a língua original do povo palestino. Tampouco o Islã era sua religião. Por lá, falava-se hebraico, aramaico, possivelmente siríaco. Na elite, grego e latim. A religião oficial era o cristianismo, embora também houvesse muitos judeus e samaritanos. O imperialismo árabe mudou a natureza do lugar. Não que os árabes tenham inventado a ideia de colonização por ali. Afinal, eles tomaram a região do Império Bizantino, sucessor do Romano. Dá para ir até Alexandre, o Grande, que tomou o naco entre Líbano e o Sinai no ano 332 a.C.
Neste sentido, no Norte da África, Oriente Médio e Ásia Central os grandes deslocamentos populacionais e o corte aleatório de Estados nacionais fazem parte do arranjo feito ao fim de dois milênios e meio de imperialismo. Este arco de tempo corresponde a quase metade do período da vida humana ao qual chamamos História. Para além, sobra a Pré-História. Escolher chamar de imperialismo e colonialismo só a partir da chegada de franceses e ingleses em 1922 é um corte aleatório.
Tudo é narrativa?
A guerra no Sudão, interrompida por eventuais acordos de paz mas sempre recomeçada, dura já 70 anos. O rompimento mais recente do cessar-fogo se deu em abril deste ano. Só nos meses desde então morreram por volta de dez mil pessoas e meio milhão foram deslocadas, juntando-se a 1,2 milhão de refugiados prévios. A Guerra do Iêmen teve início em 2014, há pouco mais de nove anos. Custou já a vida de quase 400 mil, dentre as quais 85 mil crianças que morreram de fome. Ao todo há quatro milhões de deslocados. O último genocídio oficialmente reconhecido se deu entre o final de 2016 e início de 2017 — é o do povo rohingya, em Mianmar. O genocídio é um termo específico para a tentativa de eliminação de um povo. Não é o mesmo que matança. Os rohingya são muçulmanos, uma minoria na região predominantemente budista de Mianmar.
Por que o conflito entre Israel e Palestina mobiliza politicamente tão mais do que quaisquer outros conflitos — mesmo que noutros conflitos haja mais mortes, mais violência, mais horror?
Uma resposta cínica é que como israelenses são percebidos como brancos, o modelo de opressor e oprimido se aplica rápido e com facilidade. Outra resposta igualmente possível é que Israel é uma democracia e que, de democracias, espera-se mais.
O problema
O problema da ideologia dominante na esquerda é que, embora se pretenda complexa, lançando conceitos e palavras como “racismo estrutural” ou “interseccionalidade” ou “colonialismo”, na forma pop em que é praticada no debate público ela não tem nada de complexa. Na verdade, ela simplifica tudo a um modelo em que divide pessoas entre opressores e oprimidos.
Enquanto os militantes mais radicais repetem (às vezes sem compreender) slogans genocidas como “Palestina livre, do rio ao mar”, perde-se a noção de que palestinos e israelenses são povos inteiros com múltiplas opiniões. Que o Hamas é um grupo, sim, terrorista, antissemita e que, segundo pesquisa de opinião do Barômetro Muçulmano, era apoiado por apenas 20% da população em Gaza. Os questionários circularam pela Faixa até um dia antes do ataque. O governo de Benjamin Netanyahu é rejeitado por mais de 80% dos israelenses. Se chefes de Estado costumam ganhar maior apoio quando há guerra, com o premiê israelense se deu o contrário. Mais de 60% dos palestinos anseiam pela paz na forma de dois Estados. O governo Netanyahu e o Hamas operaram, nos últimos pouco mais de dez anos, em simbiose. Dois grupos radicalizados à direita que trabalharam com o mesmo propósito de sabotar o processo de paz.
Como o mundo real não opera na chave opressor-oprimido, um Estado nacional tem a obrigação fundamental de garantir primeiro a segurança de todos seus cidadãos. Um ataque como o impetrado pelo Hamas não ficaria sem resposta militar em nenhum país do mundo. Por uma década, porém, sem qualquer resistência real do governo Netanyahu, o Hamas construiu uma estrutura militar completamente embrenhada à estrutura civil na Cidade de Gaza. Seus principais pontos de lançamento de mísseis ficam ao lado de hospitais, de escolas e de mesquitas. O centro de comando e controle fica imediatamente abaixo do maior hospital de Gaza. A estrutura militar do Hamas foi construída de forma a gerar a maior quantidade possível de vítimas civis perante qualquer ataque israelense a alvos militares. Nenhum governo faz isso com seus cidadãos — a não ser que seja um governo movido pelo ideal do martírio.
Martírio dos outros. Os líderes do Hamas não vivem na Faixa de Gaza. Vivem no Catar.
É um nó impossível. Para garantir a defesa de seus cidadãos, Israel precisa tornar inoperante o Hamas. Não há como tornar inoperante o Hamas, militarmente, sem tirar a vida de muitos civis. Ao matar muitos palestinos, faz duas coisas. Põe em risco os reféns israelenses e gera mais ódio palestino, jogando para mais longe um acordo de paz. Assim como a política israelense de construção de bairros e condomínios na Cisjordânia, território do futuro país Palestina, joga igualmente para mais longe chances de paz.
Durante mais de dez anos construiu-se uma política para interromper a paz. E, no momento, não há cabeças frias o suficiente para se debruçar sobre o problema posto.
A dor
Há um medo no ser judeu. Para gentios bem-intencionados as tochas ou as Estrelas de David pichadas são reprovadas pelo mau gosto eventual e a vida continua. Para quem é judeu elas têm a concretude da sombra que sempre paira. É o medo de algo que existe e que mata. O Holocausto não é história. Não é passado. O Holocausto ainda está presente nas tatuagens dos últimos braços. O Holocausto está nas famílias sempre diminutas porque tios demais, primos, pais ou mães ou irmãos perderam-se. O Holocausto faz ainda parte das conversas constantes, das memórias dos avós. O Holocausto é vivido no presente. E, por isso mesmo, para judeus, Israel é condição de sobrevivência. Ter um Estado nacional é a única forma real de ter o controle sobre sua própria defesa. É um milênio e meio de antissemitismo — a se contar pela mitologia bíblica, possivelmente bem mais.
Um ataque como o do Hamas no 7 de outubro catalisa este medo. Ele o torna concreto. Confirma o que todo judeu sabe. O ódio ancestral jamais morreu e pode se reerguer a todo momento. Aquele ataque também faz, do governo Netanyahu, o pior da história de Israel. Pois foi o primeiro que não cumpriu sua obrigação primeira: proteger judeus do horror. Esta é uma ideia cristalina de tão clara para os israelenses.
Há um medo similar que toda família palestina vive. A nova ideologia de esquerda reconhece este medo palestino. Mas não tem a capacidade de enxergar a dor no outro lado. Olha, não vê. Quando não se reconhece em qualquer um a fragilidade essencial humana, isto tem nome.
“Em um momento da vida, fui seduzido por uma visão de mundo virtuosa que, de forma perversa, promete união mas gera divisão”, escreveu o terapeuta e escritor Alex Olshonsky em um dos muitos artigos que judeus progressistas vêm publicando sobre suas experiências com amigos igualmente progressistas. “É uma visão mais focada em retaliação do que em reconciliação. E o fato de meu judaísmo ter sido não só ignorado como também vilanizado nesse discurso só me deixou mais desencantado.”
Para a esquerda da nova ideologia, Israel é o opressor colonialista. Perante uma situação já impossível, só ganharia se capitulasse. E, isto, Israel não fará.
Sem poder de veto no Conselho de Segurança, conflitos podem ser agravados
O Brasil presidiu o Conselho de Segurança da ONU no mês de outubro e teve a difícil tarefa de tentar aprovar uma resolução sobre a guerra entre Israel e Hamas, que explodiu após os ataques terroristas do último dia 7. Mas não houve avanços. O direito a veto dos Estados Unidos impediu que propostas de cessar-fogo fossem aprovadas. Por outro lado, os vetos de Rússia e China impediram a aprovação da resolução americana que ressaltava o direito de defesa de Israel. Marcelo Valença, professor de política internacional do programa de pós-graduação em Estudos Marítimos da Escola de Guerra Naval, reconhece as limitações do Conselho de Segurança no mundo atual, mas destaca que esse arranjo geopolítico, pensado no fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), foi essencial para evitar um conflito entre grandes potências. E destaca que mudanças podem trazer riscos: “Se eu tirar o poder de veto, posso até aumentar o conflito porque estou colocando interesses sensíveis na mesa para serem debatidos”. Ele também fala do perigo de questionamento à legitimidade da ONU, como na batida de frente entre o governo de Benjamin Netanyahu e o secretário-geral António Guterres, que, depois de condenar as ações dos terroristas, afirmou que “o ataque de Hamas não aconteceu por acaso”.
A declaração de fundação do Estado de Israel menciona a resolução de novembro de 1947 que prevê a criação do Estado judaico. Mas, nesses 75 anos de existência do país, a relação com a ONU parece ter sido complexa. Qual a sua avaliação?
Essa relação tem que ser vista com um terceiro vértice do triângulo, os Estados Unidos. Grande parte do apoio e da credibilidade que Israel carrega tem a ver com o apoio que os EUA proporcionam ao país. Isso permite que Israel tenha uma postura mais agressiva e incisiva porque conta com o apoio americano para eventuais situações de disputa nos fóruns da ONU. A relação sempre tem de ser vista pelo resguardo proporcionado pelos EUA. A ONU medeia, mas tem um papel americano muito forte por trás. Por isso, não vejo tensão, mas uma ação mais incisiva e determinada de Israel.
Mas a tensão entre Israel e ONU ficou evidente na semana passada, quando o país bloqueou os vistos dos funcionários da organização em represália a declarações do secretário-geral. Qual o risco desse tipo de comportamento para a sobrevivência de uma entidade como a ONU?
Quando um Estado coloca em xeque a competência da instituição, está evidenciando que ela não teria o direito de debater aquele tema, pondo em xeque a validade de uma instituição já muito questionada. Na medida que não autoriza que os funcionários entrem no território e atuem, nega deliberadamente o acesso de um organismo que tem representatividade e, portanto, coloca um sinal claro de que o multilateralismo tem certos limites. Isso pode levar à retomada do debate de 20 anos atrás devido à invasão do Iraque. Para que serve? Será que funciona? É um teste de legitimidade. Se outros Estados toparem ou comprarem esse argumento, a gente vai ter um problema muito sério.
Na Guerra Fria, as decisões do Conselho de Segurança estavam diretamente ligadas aos interesses das duas superpotências. Recentes tentativas de aprovar resoluções sobre o conflito acabaram com o veto de EUA ou de Rússia e China. Como essa divisão de forças se dá no órgão de segurança da ONU no mundo de hoje?
A ideia de veto no Conselho de Segurança é um arranjo geopolítico pós-Segunda Guerra Mundial para prevenir a guerra entre as grandes potências. Essa é uma das principais razões de não ter havido guerra entre elas desde então. É possível olharmos para os cinco países com poder de veto (EUA, Rússia, China, Reino Unido e França) de forma a entender os interesses mais caros e sensíveis a eles. Então, temas que possam sensibilizar essa relação vão ser vetados. Por isso, a gente tem um cenário análogo ao da Guerra Fria, mantidas as devidas proporções, até porque agora não se trata de uma disputa bipolar que está sendo trazida para um fórum multilateral, mas de parceiros sensíveis que vão ser protegidos ali. Se levássemos questões sobre a Ucrânia, a Rússia vetaria. Se levássemos questões do Tibet, a China vetaria.
Como, então, frente ao recurso do veto, a ONU pode garantir a segurança de alguma forma?
Pelas diversas propostas que já foram postas à mesa de reforma do Conselho de Segurança, a gente pode afirmar com bastante confiança que ele não reflete hoje o cenário geopolítico dominante. Mas, se eu tirar o poder de veto, posso até aumentar o conflito porque estou colocando interesses sensíveis na mesa para serem debatidos. A meu ver, qualquer arranjo novo no Conselho de Segurança vai prejudicar a estabilidade frágil que temos. O que podemos ter são discussões retiradas do Conselho de Segurança e levadas para a Assembleia Geral, como feito agora no caso da guerra entre Israel e Hamas. Isso serve como um termômetro para tentar constranger os arranjos estabelecidos no Conselho de Segurança.
Na prática, é apenas pressão, pois dificilmente esse termômetro vai fazer com que os membros permanentes do Conselho de Segurança mudem suas posições.
É uma manifestação política de busca por consenso, por uma posição majoritária, mas não tem efeito. Só que o Conselho de Segurança também não tem o poder de impedir que uma decisão sua seja descumprida. Na prática, essa mudança de fórum permite um debate mais democrático e multilateral, mas sem coerção ou possibilidade de imposição.
Até pelo menos a Guerra do Yom Kippur, em 1973, o fim dos conflitos envolvendo Israel de alguma forma passava por resoluções da ONU – novas ou anteriores. Você vê alguma possibilidade de a ONU ter um papel efetivo na guerra?
Eu gostaria de acreditar que os debates na ONU possam levar a uma redução ou eliminação do conflito armado. Mas, da maneira como os interesses estão colocados e como os discursos políticos estão estruturados, dificilmente a ONU vai ter condição de operar como mediador com papel isento. Há interesses paroquiais demais envolvidos — as relações Israel-EUA, Síria/Irã-Rússia, a presença crescente da China no Oriente Médio e na África. Há alianças estratégicas muito fortes para que o poder veto seja abandonado. Então, acredito que a ONU funciona melhor na parte humanitária.
O assessor especial da presidência e ex-chanceler Celso Amorim afirmou nesta semana que “mesmo na Crise dos Mísseis [entre EUA e URSS, em 1963], em que havia a irracionalidade do risco de uma guerra nuclear, havia racionalidade na condução dos fatos”. E disse que “ver a ONU enfraquecida é extremamente preocupante”. Qual sua opinião sobre isso?
Acho que ele tem razão, são quase 80 anos de uma organização que foi ganhando legitimidade, presença e credibilidade que acabou por ampliar as suas atuações, com fóruns e debates novos. Ser conhecido como país hoje envolve fazer parte da ONU e da Fifa. São dois organismos que legitimam um país no fórum internacional. A partir do momento que um Estado deslegitima e não reconhece esse papel, ainda mais sendo um país que tem um histórico positivo de relações diplomáticas, como é Israel, que é apoiado por uma potência como os EUA, isso é sério. Com isso, passa a desafiar eventuais ações e declarações que sejam feitas por esse organismo. Acho arriscado demais colocar a ONU em xeque, questionar sua credibilidade. Mas acho que as decisões são muito racionais. Podem não ter uma lógica do consenso ou de minimizar os danos e a agressão, mas são todas racionais, fazem parte de uma estratégia política. Acho que o Amorim estava falando da razoabilidade, mas não de uma racionalidade.
Uma das propostas apresentadas pelo secretário de Estado americano, Anthony Blinken, para um cenário sem Hamas na Faixa de Gaza é de um governo interino chefiado por Estados árabes ou pela ONU. Em meio a esse desgaste das Nações Unidas, essa sugestão é viável?
Não, porque isso está desconsiderando a presença do Hamas e, até agora, não foi apresentada uma solução viável para o grupo não existir. Falar em obliterar o Hamas não é uma solução viável. Assim como já aconteceu em outros momentos históricos, da aniquilação de um grupo, podem surgir outros até mais radicais. A proposta de um governo compartilhado ou de uma governança regional tem um valor utópico muito bom. Mas, em termos pragmáticos, não vejo como isso pode ser organizado. Vai ter de arrumar um jeito de tirar o Hamas de lá e, depois, lidar com outras insurgências, outras tensões.
Essa guerra tem de um lado um Estado e do outro um grupo e uma população civil? O desafio é ainda maior?
É muito mais fácil falar de Israel porque é um Estado como conhecemos e estamos acostumados a pensar. Porém, a gente sabe que a figura do Estado como existe hoje é questionada, sempre foi questionada e cada vez mais a gente tem indicativos de que não representa a legitimidade política de determinados grupos ou regiões. O papel que o Hamas assume se assemelha muito mais a um grupo disruptivo, que opera contra essa lógica estatal. É quase uma milícia. A Autoridade Palestina é um governo e o Hamas é uma milícia. Ele está intrincado no sistema político, mas opera buscando uma legitimidade pela força, pelo temor, pela coerção. Esses grupos trabalham com uma sensação de pertencimento e uma construção de identidade que é exclusiva e excludente. Ou você faz parte ou não faz. É diferente da política de identidade de um Estado nacional como conhecemos, que engloba indivíduos e comunidades de diferentes tipos dentro de um mesmo projeto. Hamas, Al Qaeda ou um outro grupo extremista entendem que sua existência depende do antagonismo e o reforço da sua presença e poder se dá na medida em que esses outros grupos são eliminados. A ideia do Hamas de eliminar por completo o Estado israelense envolve essa ideia.
É mais difícil chegar a uma solução estando fora da lógica do Estado?
Sim. Chegar a uma solução nesses termos é complicado porque você trabalha com lógicas políticas diferentes. Sem entrar no mérito ideológico ou religioso, o Estado tem por trás uma população para proteger, um conjunto de valores, cultura, legado. A racionalidade com a qual trabalha envolve determinados cálculos que um grupo extremista como esse não tem ou usa de maneira distinta. Mediar essas lógicas políticas diferentes é um trabalho hercúleo.
Oito décadas de classe
Existem muitas definições para a música, mas três elementos são os tradicionalmente mais lembrados: ritmo, melodia e harmonia (a combinação de ambos). A eles são acrescentados outros mais subjetivos, como “alma” ou a ampla gama “sentimento”. E há um que aqui nos interessa em particular e que tem andado tão ausente da música popular: classe. Não no sentido “música clássica” ou “erudita”, tocada por orquestras e grupos de câmara, mas aquele apuro, um refinamento, uma compreensão musical que, aplicada a ritmos populares, os enriquece.
E classe é o que nos salta aos ouvidos diante de Edu Lobo, Oitenta, que, como o título indica, marca o aniversário de um dos artistas que definiram a MPB, embora ele próprio rejeite o rótulo. Nele, Edu repassa cações de seus 60 anos de carreira com apoio de um time de músicos de primeira linha e quatro cantores convidados, que fazem justiça a sua obra. O álbum duplo propriamente dito só chega às plataformas e lojas (via Biscoito Fino) no dia 7 de novembro, mas já é possível salvá-lo em seu serviço de música favorito.
Trata-se de uma coletânea, sim, mas não de algo do gênero “maiores sucessos”. Nesse caso, seriam obrigatórias as presenças de Ponteio, Lero Lero ou Vento Bravo. Em vez disso, Edu optou tanto por um “lado B” de seus discos quanto por um apanhado de sua produção para o palco, quase sempre em parceria com Chico Buarque. A direção musical e os arranjos do pianista Cristóvão Bastos ressaltam a profunda musicalidade de Edu, ora flertando com jazz, ora mergulhando nas raízes de sua família pernambucana.
Embora seja um intérprete corretíssimo, Edu Lobo é antes um compositor que canta. Por isso, cercou-se de um quarteto de vocalistas extraordinários. Mônica Salmaso, que vem correndo o Brasil e mundo com Chico Buarque, assume uma das tarefas mais cascudas: dividir com Edu os vocais de Beatriz. Considerada pelo saudoso Aldir Blanc a música mais bela da MPB, foi imortalizada por Milton Nascimento no Grande Circo Místico. O arranjo é quase igual, não fosse Bastos o pianista de ambas as versões, e Edu não tem como fazer frente a Milton. Mas Mônica... Deslumbramento puro. E ela brilha ainda mais em Branca Dias, antes interpretada por Nana Caymmi.
Já Sobre Todas as Coisas, também originalmente do Grande Circo, ganha sobre sua harmonia complexa uma batida cool jazz e a voz preciosa de Ayrton Montarroyos, em contraponto à (belíssima) versão original voz-e-violão de Gilberto Gil. Montarroyos vai além e também interpreta O Circo Místico sem dever nada a Zizi Possi.
O terceiro cantor é alguém muito familiarizado com o trabalho de Edu: Zé Renato, do Boca Livre. Ele se espalha no samba Nego Maluco, parceria de Edu e Chico relendo a hoje politicamente incorretíssima Nega Maluca, de Evaldo Ruy e Fernando Lobo. Fundamental para nos lembrar que, desde os tempos de Pixinguinha, flauta e sax – aqui de Mauro Senise e Carlos Malta – são, sim, instrumentos de samba. E, num detalhe curioso, Zé Renato revisita uma das próprias interpretações, Salmo, que ele gravou com o colega Cláudio Nucci em 1985 na trilha sonora da peça O Corsário do Rei.
Completa o time Vanessa Moreno, jazzística e gingada ao mesmo tempo em Ave Rara, parceria de Edu com o citado Aldir. Seu diálogo com o sax soprano de Senise já valeria o disco. Mas são 24 faixas, e cada uma tem sua preciosidade. Seja a versão bluesman de Edu em seu Bancarrota Blues – ok, o piano é mais jazzista que blueseiro, mas não vamos implicar –, seja a ingenuidade sofisticada da infantil Terra do Nunca.
Enfim, um álbum duplo para nos lembrar que, quando se trata de Edu Lobo, o lado é sempre B de brilhante.
Em uma semana mais curta por conta do feriado de Finados, os assinantes do Meio mergulharam em temas mais sisudos, mas, como ninguém é de ferro, também houve espaço para a brincadeira do Halloween. Confira os mais clicados:
- Meio: Ponto de Partida – O ímpeto gastador do governo Lula.
- Meio: Garota cancelada – A história dramática da menina morta pelo PCB.
- Meio: Popcorner – Uma seleção de filmes sobre bruxas para arrepiar o Halloween.
- Meio Explica – Quem é capaz de intervir no conflito entre Israel e o Hamas?
- Panelinha: Sanduíche de abacate, bacon e ovo.