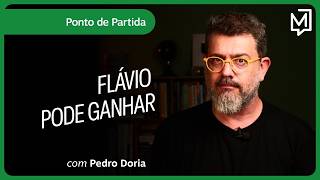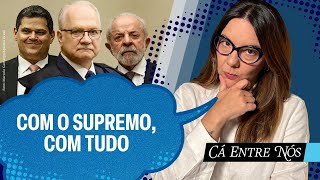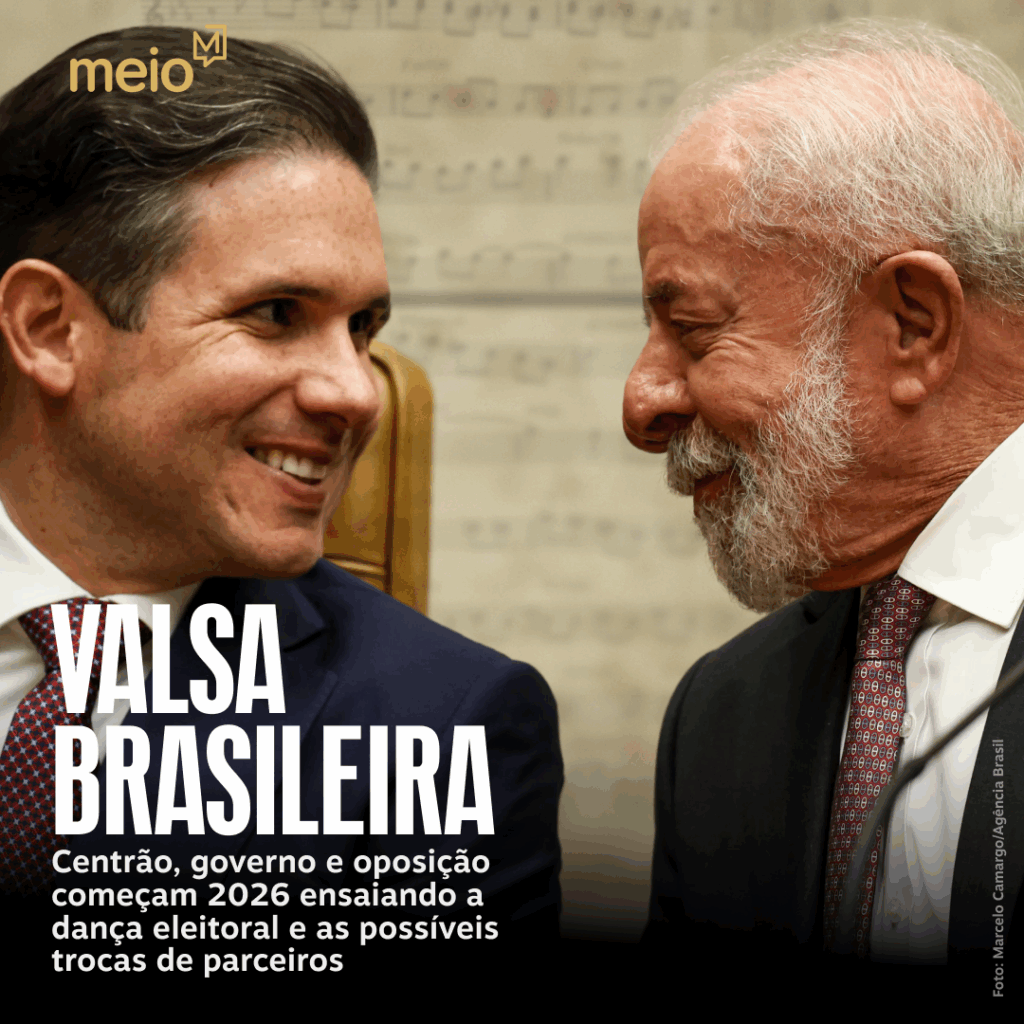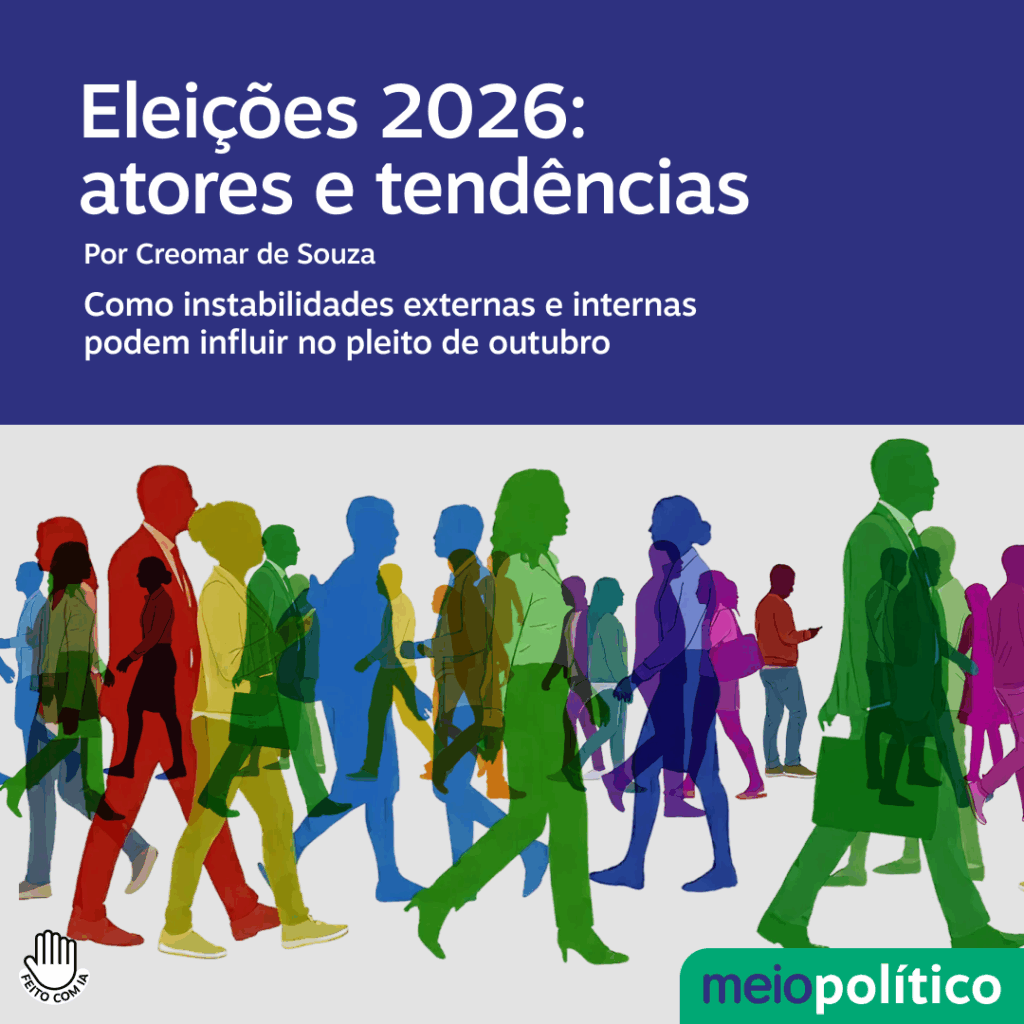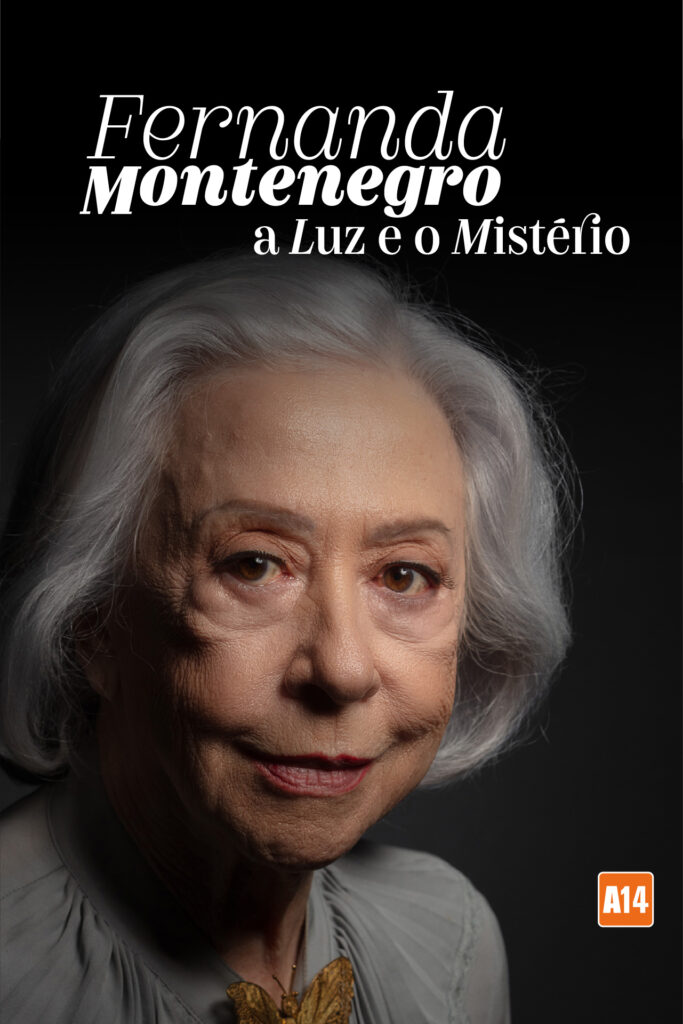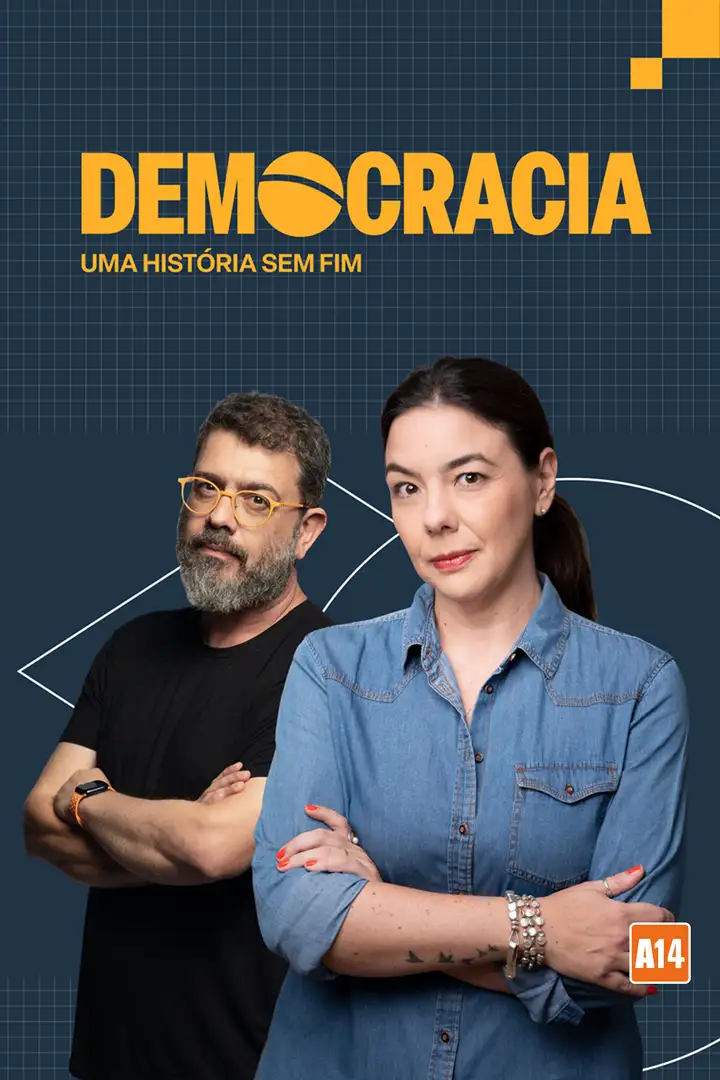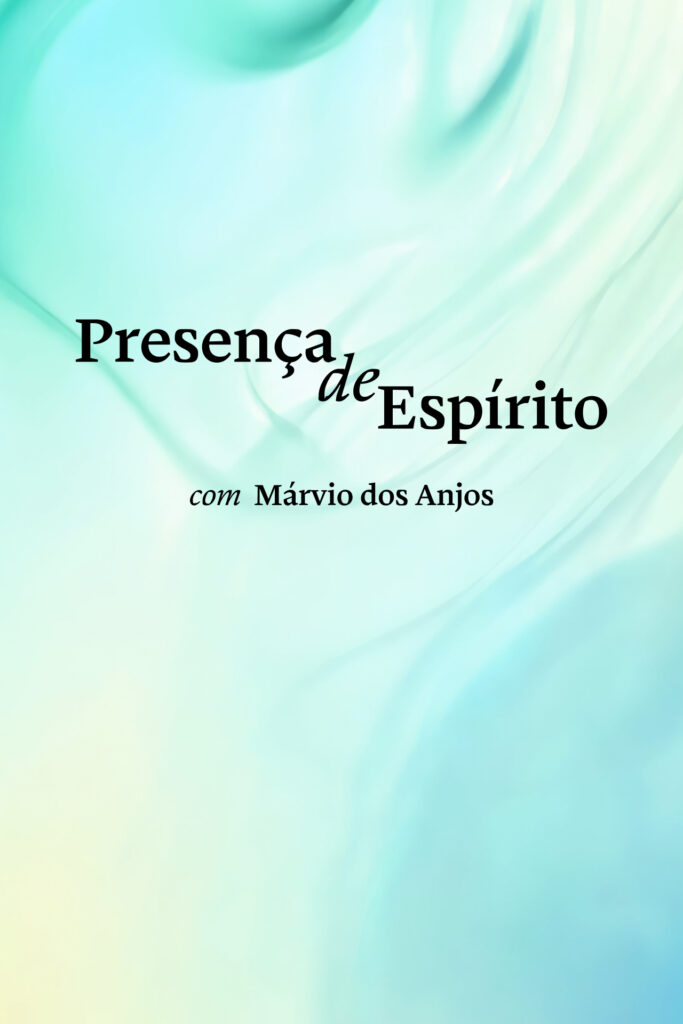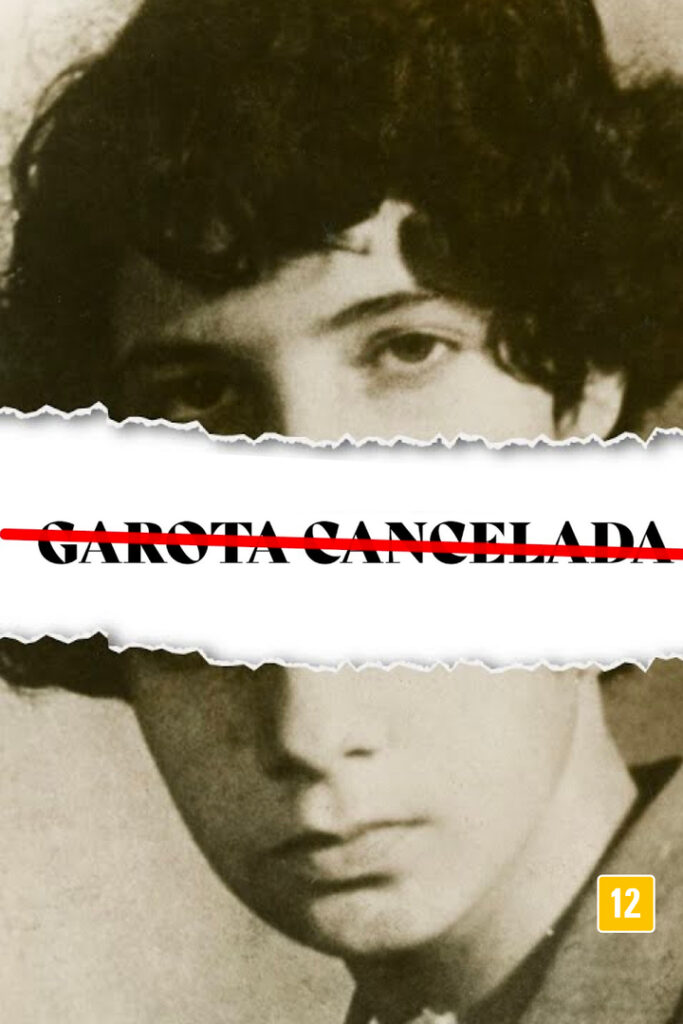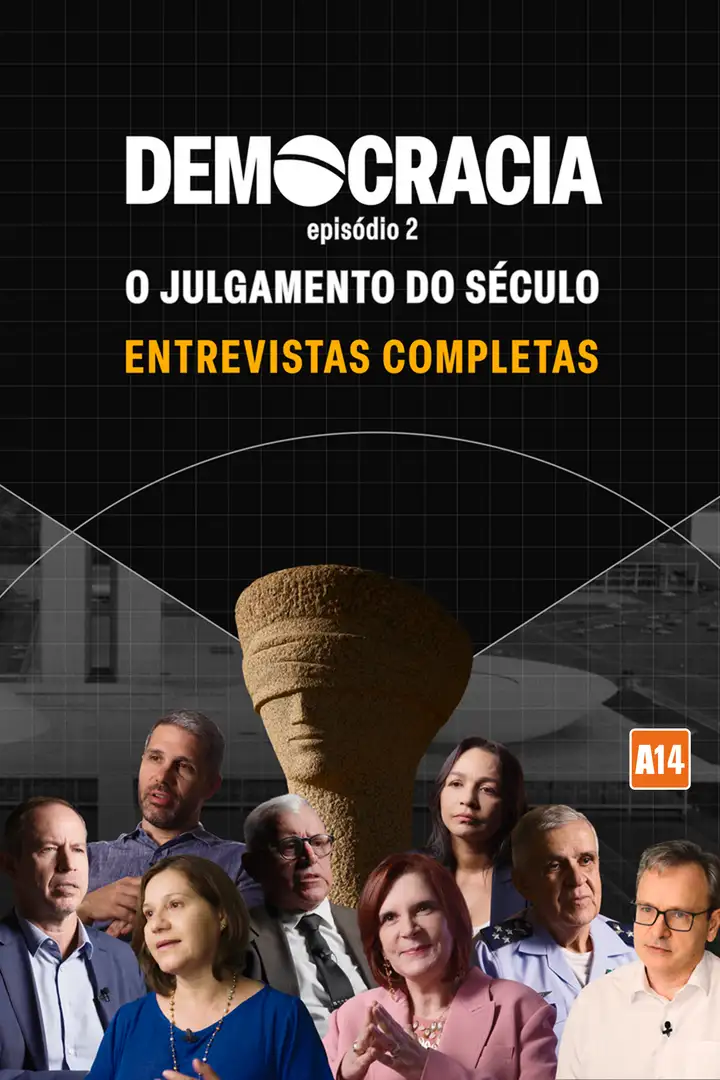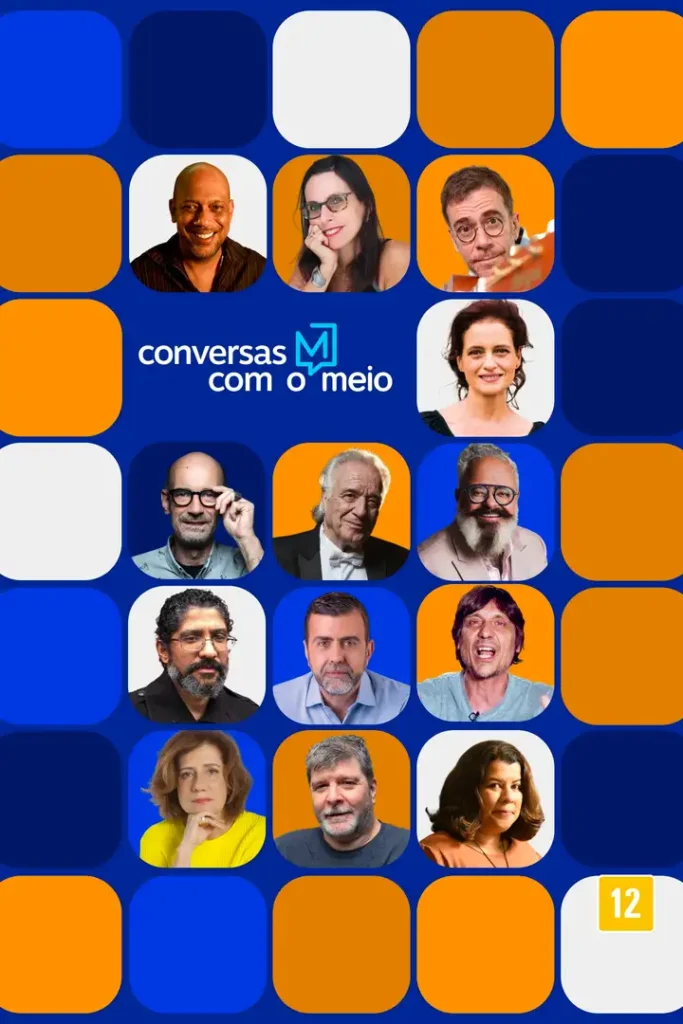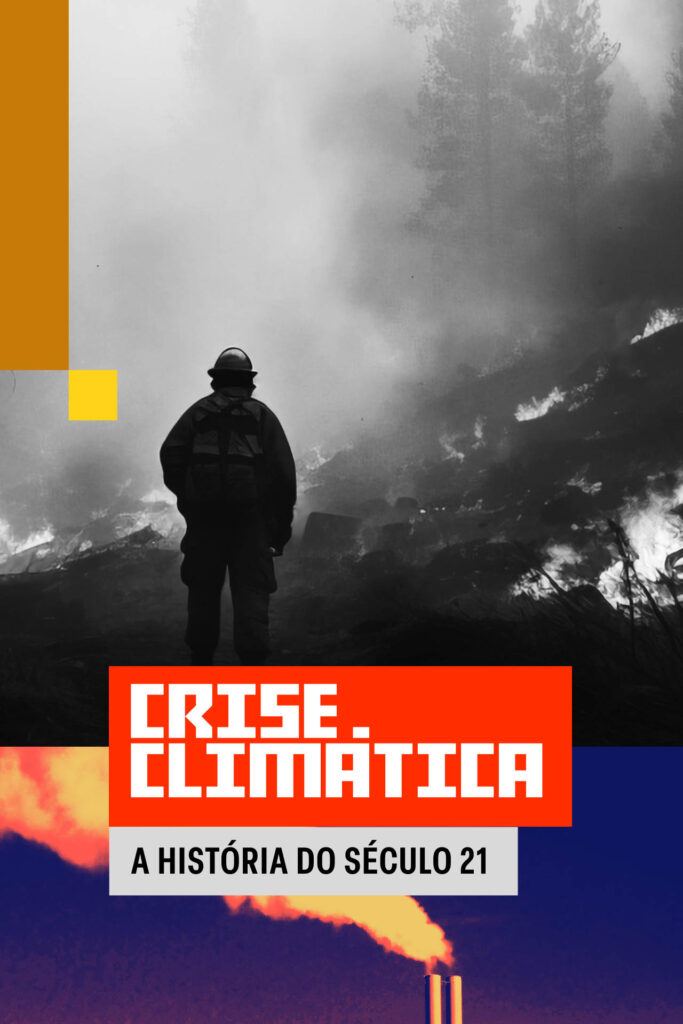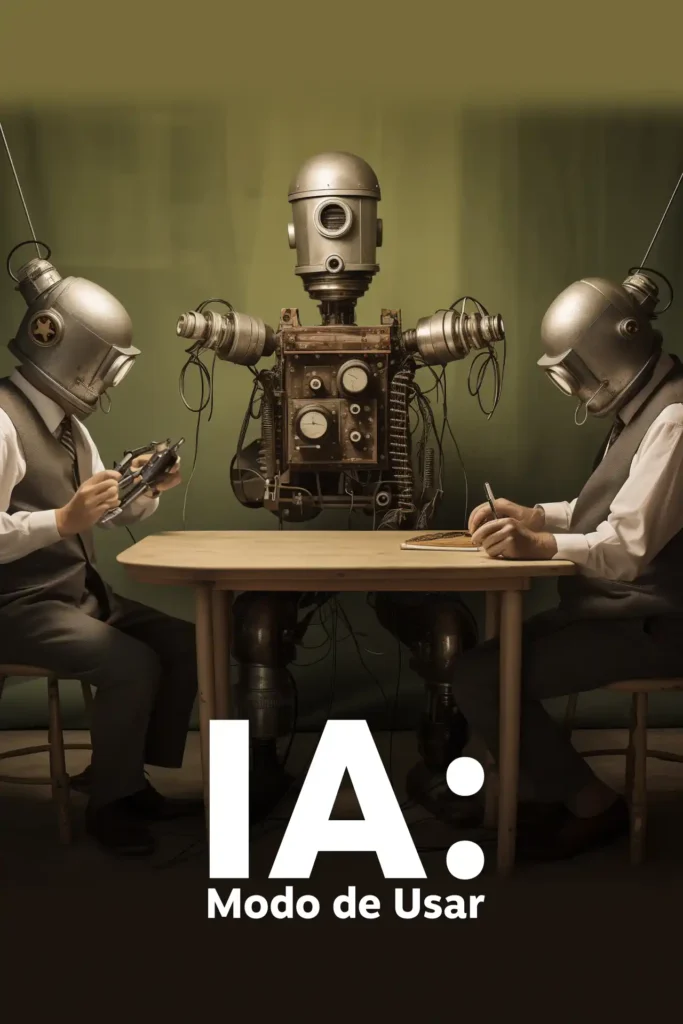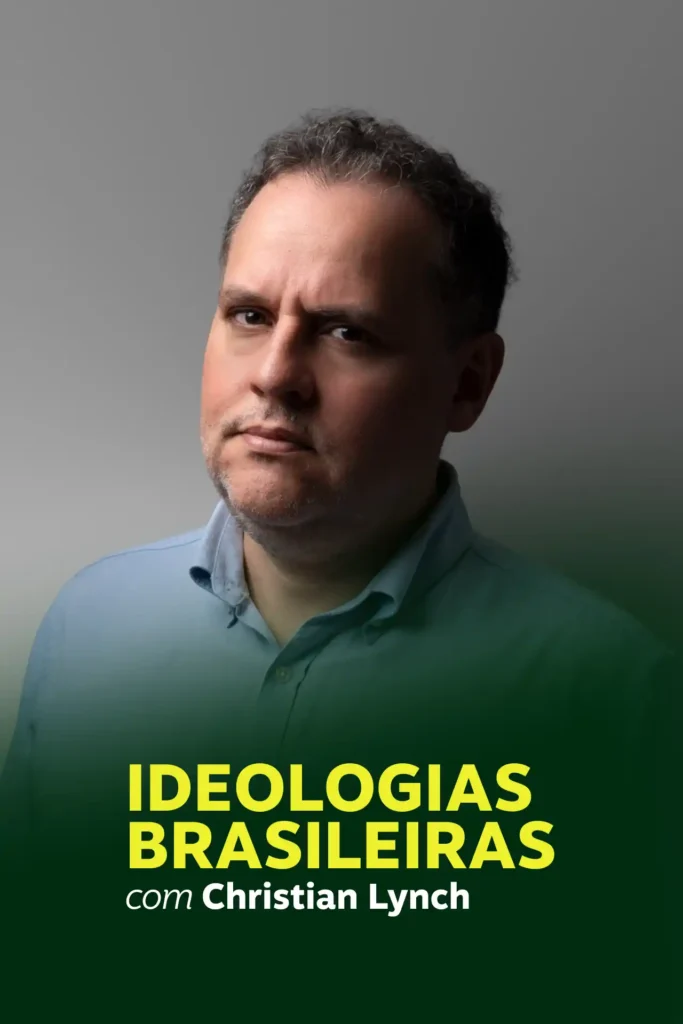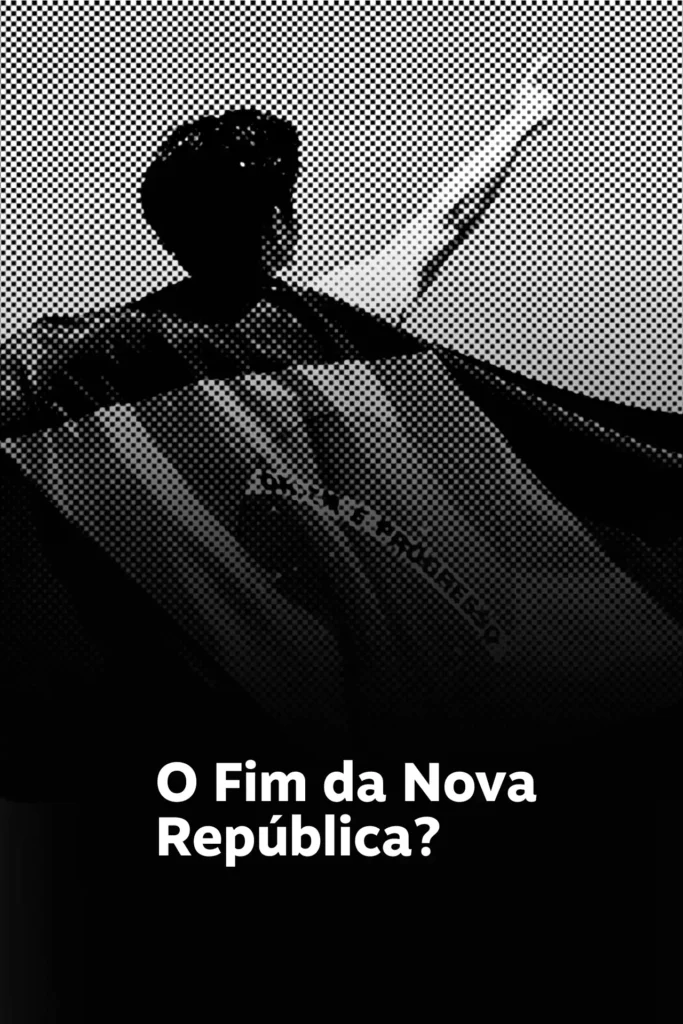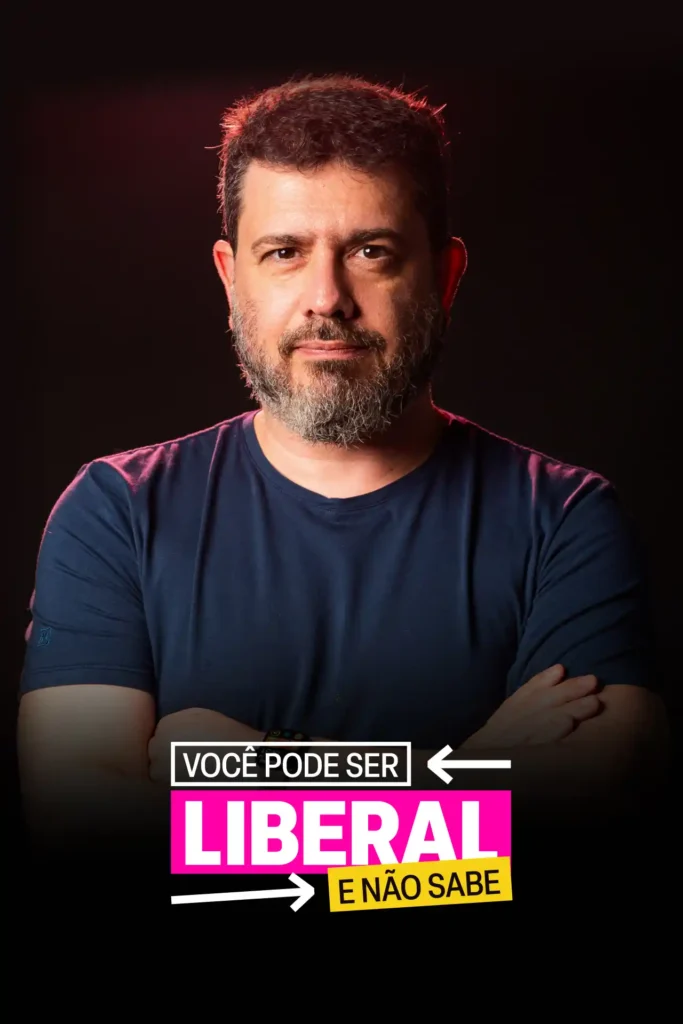Edição de sábado: É o ímã, estúpido!

Receba as notícias mais importantes no seu e-mail
Assine agora. É grátis.
No dia 22 de abril, uma terça-feira ensolarada de primavera em Washington, Elon Musk dedicou parte de sua agenda a responder a perguntas de investidores preocupados com a queda de 71% nos lucros da Tesla no primeiro trimestre de 2025. Por mais de uma hora, Musk tentou explicar as razões pelas quais as vendas dos seus modernos carros elétricos haviam caído 20% nos três primeiros meses do ano e por que as ações da empresa despencavam quase 40% no acumulado do período.
Musk minimizou os impactos de sua relação umbilical com Donald Trump no desempenho da Tesla. E, como era de se esperar, evitou criticar a agressiva guerra tarifária iniciada pelo presidente americano poucas semanas antes. Ao final, recorreu à velha máxima de que “é o olho do dono que engorda o boi” e prometeu passar mais tempo na sede da empresa em Austin, no Texas, do que na Casa Branca.
Tudo dentro do script, até que um investidor perguntou sobre o andamento do projeto Optimus, a linha de robôs humanoides extremamente avançados desenvolvidos pela Tesla. Musk considera o projeto revolucionário. Sua visão é de que os robôs com dimensões e formas humanas povoarão casas e fábricas num futuro próximo, realizando serviços braçais hoje destinados a pessoas de carne e osso com pouca qualificação.
Foi aí que, pela primeira vez, o CEO da Tesla, homem mais rico do mundo e um dos principais conselheiros do presidente dos Estados Unidos, titubeou.
Musk abandonou o otimismo desmedido e reconheceu que a guerra tarifária de Trump com a China já compromete a cadeia de suprimentos de itens estratégicos para o desenvolvimento de novos produtos de alta tecnologia. Ele admitiu que o embargo nas exportações de terras raras e de seu principal subproduto — os ímãs — prejudica a produção dos novos robôs. “Sem os pequenos e poderosos ímãs que só a China produz e exporta, não é possível fazer com que os braços dos humanoides da Tesla se movimentem com a mesma sutileza e precisão de um braço humano. O Optimus está sendo afetado pela questão dos ímãs com a China... mas esperamos resolver essa questão até o final do ano, e teremos milhares de robôs.”
A preocupação de Musk ganhou pouca atenção em meio à comoção pela morte do papa Francisco no dia anterior. Mas revelou de forma explícita como um dos maiores temores de estrategistas militares e industriais americanos nas últimas décadas estava se transformando em uma dessas profecias autorrealizáveis impossíveis de serem contidas. A China, enfim, estava usando seu monopólio na produção de ímãs superpotentes para atingir a economia americana de forma profunda — com consequências ainda incalculáveis para toda a indústria de alta tecnologia, tanto civil quanto militar. Era um segredo de polichinelo.
Há pelo menos 20 anos, figuras importantes da ciência, da indústria e do Departamento de Defesa dos Estados Unidos e dos principais países europeus vêm alertando para os riscos de a China controlar a produção e desenvolvimento dos chamados ímãs permanentes. Desenvolvidos há poucas décadas, esses ímãs são vitaminados com alguns dos minerais que integram a categoria do que se convencionou chamar de terras raras. Mais do que qualquer desenvolvimento tecnológico dos últimos 50 anos, são os ímãs permanentes que estão permitindo a acelerada transição energética que o mundo testemunha.
Sem os ímãs que a China deixou de exportar em 4 de abril, quando impôs um embargo temporário em retaliação ao tarifaço de Trump, boa parte das maravilhas tecnológicas desse novo mundo não existiria. Os carros elétricos supervelozes da Tesla só surgiram por conta deles, assim como as turbinas eólicas, que já produzem 20% de toda a energia gerada na União Europeia. Sem ímãs permanentes, superjatos de combate não voam, mísseis de alta precisão não são disparados e nem mesmo aquela régua imantada suspenderia no ar tantas facas em sua cozinha.
Eureka!
Utilizar ímãs para transformar eletricidade em movimento não é algo novo. O primeiro motor elétrico, construído pelo físico e químico britânico Michael Faraday, completou 200 anos em 2021. O carro elétrico, hoje sonho de consumo mundo afora, foi criado antes dos automóveis a combustão, também no século 19. Apesar das muitas inovações, a lógica de funcionamento de um motor elétrico não mudou muito. Basicamente, ele converte a energia elétrica em energia mecânica utilizando um campo magnético. É simples, é barato e é limpo. Mas, até bem pouco tempo, motores elétricos autônomos, que não precisam estar ligados a uma corrente elétrica permanentemente por meio de fios, eram pouco eficazes por duas razões: baterias de pouca duração e capacidade de armazenagem; e motores pouco eficientes que necessitavam de imensas cargas de energia permanente para funcionar.
Isso começou a mudar na década de 1960, quando cientistas iniciaram estudos na tentativa de ampliar as capacidades magnéticas a partir de ligas que continham terras raras. Mas foi só em 1984 que tudo mudou definitivamente, quando cientistas americanos e japoneses desenvolveram os mais poderosos ímãs conhecidos até hoje: os ímãs à base de neodímio, uma terra rara isolada pelos cientistas há exatos 100 anos. Logo se percebeu que os ímãs de neodímio tinham características de incrível potencial industrial. Eles eram ao menos 10 vezes mais potentes que os ímãs tradicionais, podiam ser extremamente menores, suportavam altas temperaturas e sua capacidade magnética se mantinha intacta por muito mais tempo.
Paralelamente, cientistas japoneses buscavam tecnologias que pudessem substituir as ineficientes, caras e enormes baterias à base de chumbo-ácido. Em 1985, surgiu o primeiro protótipo das baterias de íon-lítio, que hoje abastecem praticamente qualquer equipamento elétrico autônomo, desde os carros da Tesla de Elon Musk até a simples escova de dentes residencial — ambos equipados com motores à base de ímãs de neodímio. A união dos novos motores elétricos — menores, mais potentes e mais resistentes — a uma bateria com maior capacidade de armazenamento, menor volume e facilmente recarregável estabeleceu as bases para o início da transição energética que vivemos agora, ainda que naquele momento o Ocidente estivesse mais preocupado com as recentes crises no fornecimento de petróleo do que com o aquecimento global.
No novo mundo da transição energética e da alta tecnologia, os ímãs se tornaram o que foram os pistões na primeira revolução industrial. Sem eles, nada se move num mundo que luta em desespero para que a eletricidade substitua os combustíveis fósseis como fonte primária de energia. Hoje, cerca de 40% de toda a produção de terras raras no planeta é usada na fabricação desses ímãs. Ou seja, de cada 100 kg de terras raras extraídas mundo afora, 40 kg são usados para criar ligas específicas que transformam pequenos pedaços de metal em equipamentos com uma capacidade magnética incrivelmente mais potente do que os ímãs tradicionais à base de ferrite fabricados até os anos 80. Eles são tão importantes que 90% do valor agregado a partir da extração das terras raras está concentrado na produção dos ímãs permanentes, como são chamados tecnicamente esses pequenos, mas poderosos, itens magnéticos. E quem manda nesse jogo é a China, responsável por mais de 90% da produção dos ímãs permanentes. Mas nem sempre foi assim.
Até meados da década de 1990, os Estados Unidos e a Europa, em especial a França, eram os monopolistas na mineração, no processamento e no refino de terras raras no mundo. Nesse mesmo período, apenas Estados Unidos e Japão — utilizando insumos americanos — tinham tecnologia suficiente para o desenvolvimento de ímãs permanentes de terras raras e seus subprodutos. Eram tempos de transição, em que o cenário geopolítico parecia distensionado após o colapso soviético, a emergência dos Estados Unidos como potência hegemônica e um acelerado processo de consolidação das políticas neoliberais que previam um mundo cada vez mais globalizado. Era também um momento de crescentes pressões ambientais e do fortalecimento de políticas de mitigação dos impactos que as indústrias pesadas causavam ao meio ambiente e às populações em seu entorno.
Os Estados Unidos foram os primeiros a explorar e utilizar as terras raras de maneira efetiva. Em 1950, em meio à corrida nuclear da Guerra Fria, pesquisadores americanos acreditavam estar próximos de encontrar urânio em uma antiga mina de ouro localizada a menos de 100 km de onde hoje é a cidade de Las Vegas. Apesar de a Mina de Mountain Pass emitir estranhos sinais radioativos, não havia urânio ali, mas sim uma imensa concentração de boa parte dos minerais que compõem o conjunto dessas terras que se imaginavam raras. Naquele momento, o principal valor comercial estava no európio, um mineral fundamental para a produção de uma das grandes maravilhas tecnológicas dos anos 1960: a televisão em cores. Entre 1965 e 1995, a mina de Mountain Pass era a maior fornecedora de terras raras do mundo. Parte do que era minerado era refinado e separado nos Estados Unidos e outra parte enviada para a França, a segunda potência na cadeia industrial das terras raras até a década de 1990.
Ônus e bônus
Apesar do nome, as terras raras não são tão raras assim. Estão espalhadas em grandes quantidades mundo afora, no Brasil inclusive, que detém 16% das reservas mundiais. O problema não é exatamente encontrar esses minerais. O maior desafio é tirá-los da crosta terrestre e separá-los de outros minerais. Numa comparação bastante simplista, as terras raras são como o sal utilizado na fabricação do pão francês. É simples adicionar poucos gramas de sal à farinha, ao fermento e à água para fabricar um pãozinho. O sal é abundante e barato, está em todos os pães. O problema é conseguir isolar o sal novamente depois que o pão saiu do forno. Não é um processo simples. Com as terras raras acontece o mesmo. O neodímio, o európio e os outros 15 minerais que compõem esse conjunto de metais estão espalhados em pequenas quantidades em vastas áreas. Uma estimativa grosseira dá conta de que para se conseguir 5 kg de terras raras, por exemplo, é preciso arrancar do solo ao menos uma tonelada de material mineral. Ou seja, é necessário explorar áreas imensas, destruir muita natureza para conseguir extraí-los da terra. E esse é o menor dos problemas.
O processo de refino e separação dos metais chamados de terras raras em geral envolve processos químicos extremamente poluentes. Quase sempre esses minerais estão juntos quando encontrados e, depois de separados do resto do material mineral, precisam ainda ser isolados um a um. Para isso, são necessários novos processos químicos, mais água, mais poluição. Por isso, quando as legislações ambientais passaram a se tornar cada vez mais robustas nos países ocidentais nos anos 1990 e 2000, minerar, refinar e separar as terras raras começou a ficar caro demais. Processos movidos por moradores que tiveram suas comunidades destruídas pela poluição ganharam as cortes e afetaram as empresas.
Em 1988, Mountain Pass parou de refinar e separar as terras raras. Em 2002, em meio a um vazamento de componentes químicos, fechou de vez. Na mesma época, a Solvay encerrou as operações de processamento de terras raras em sua unidade de La Rochelle, no Norte da França, até então uma das maiores plantas industriais na separação e refino dos minerais que abasteciam a indústria de eletroeletrônicos, de defesa e as embrionárias startups que já apostavam que o futuro estava na transição energética.
Europeus e americanos já haviam iniciado a transição econômica em busca de mão de obra barata na China. Agora, os produtos de consumo mais básicos estavam sendo fabricados pelo gigantesco excedente de trabalhadores que a China colocava à disposição de um Ocidente cada vez mais avesso à organização trabalhista, que seguia a demandar uma divisão mais justa dos lucros industriais entre o capital e o trabalho. Com a transferência da produção industrial para o outro lado do mundo, as margens cresciam não só pela redução no custo da mão de obra. Era possível, também, ganhar em escala. O processo de desindustrialização ocidental começou antes que as demandas ambientais ganhassem o centro do debate público. Mas logo os países ricos começaram também a terceirizar o passivo ambiental de uma nova revolução econômica.
Legislações cada vez mais restritivas nos Estados Unidos e na União Europeia passaram a ser aplicadas a fim de que os países ricos conseguissem fazer a transição para uma economia de baixo carbono sem precisar lidar com suas consequências. Carros elétricos, energia solar, turbinas eólicas, drones, motos sem fumaça, alta tecnologia, sacolas recicláveis. No novo mundo da transição energética tão urgente, a produção industrial de alta tecnologia parecia absolutamente distante dos cenários de terra arrasada tão comumente associados às revoluções industriais que marcaram os séculos 19 e 20. Ao menos na Europa, nos Estados Unidos e no Japão, as cicatrizes deixadas pela mineração estavam desaparecendo.
Na China, elas só faziam crescer. Rapidamente, o governo chinês optou por ocupar o vácuo na produção estratégica das terras raras a (custos ambientais altíssimos). Minas, fábricas, complexos industriais foram espalhados por todo o país para alimentar a demanda mundial crescente, em especial, pelos ímãs superpotentes. Baotou, a capital da Mongólia Interior, se transformou no maior centro de produção de terras raras do mundo. Junto com as indústrias e minas, vieram imensos lagos tóxicos com os rejeitos químicos após o processo de separação dos elementos. O número de casos de câncer disparou, a agricultura desapareceu, os animais morreram.
Mas a decisão chinesa de assumir os passivos ambientais na produção de terras raras teve recompensas importantes. Na primeira década dos anos 2000, a China já se tornara a monopolista na produção dos minerais. Sem insumos, as empresas americanas que dominavam a sensível tecnologia na produção de ímãs permanentes se viram obrigadas a transferir as operações — e junto sua tecnologia — para a China. Em 2010, os chineses já estavam depositando suas próprias patentes de novos ímãs permanentes, ainda mais potentes e mais avançados que os produzidos nos Estados Unidos e na França poucos anos antes.
Hoje, o domínio chinês é absoluto. Tanto na mineração quanto no refino e separação das terras raras quanto na produção industrial estratégica de basicamente tudo relacionado à economia de baixo carbono profundamente dependente desses minerais.
As armas da guerra
Desde a vitória de Donald Trump em novembro do ano passado, diversas indústrias mundo afora ampliaram suas compras de ímãs e outros produtos derivados de terras raras, temendo que um confronto entre Estados Unidos e China pudesse comprometer a cadeia de suprimentos. Na última semana, o jornal inglês Financial Times estimou que os principais fabricantes de carros elétricos da Europa e dos Estados Unidos tinham estoques de ímãs que podem durar entre três e seis meses antes que o ritmo de produção possa ser comprometido. Os carros elétricos são apenas a parte mais visível dos incríveis problemas que o embargo chinês já causa em toda a indústria ligada à transição energética, como as turbinas eólicas, que têm dependência vital dos ímãs permanentes para funcionar. Ou mesmo de uma parte importante de toda a indústria de defesa ocidental, que também usa os ímãs em larga escala para produção do que tem de mais avançado em seu armamento.
Há mais de uma década existe uma preocupação genuína nos países ocidentais de que a China, inevitavelmente, usaria tamanha vantagem a seu favor em tempos de crise, como agora. A decisão do governo chinês em impor um embargo na exportação das terras raras e, em especial, dos ímãs permanentes, não surpreendeu quem acompanha esse assunto tão denso, nada sexy, mas fundamental para um mundo em transformação. O debate acontece desde que a China passou a ser dominante, mas nunca ganhou atenção genuína dos governos ocidentais, ora envolvidos em guerras contra inimigos pouco estratégicos, ora pressionados demais por uma opinião pública avessa a qualquer retrocesso nas legislações ambientais.
Ainda assim, nesses últimos anos, diferentes países ocidentais estão revendo a estratégia de lidar com os passivos ambientais ligados à exploração, refino e separação das terras raras. Nos Estados Unidos, com apoio do Departamento de Defesa, a mina de Mountain Pass foi reaberta em 2019. A produção ainda é pequena e, por questões ambientais, todo o processo extremamente poluidor de separar os minerais ainda é feito fora do país. Lentamente e também com apoio financeiro do governo americano, diversas indústrias ligadas à produção de ímãs permanentes estão sendo instaladas no país.
Quatro dias depois de a China anunciar o embargo de exportações de terras raras e ímãs permanentes, a França anunciou que vai reativar a fábrica de La Rochelle, antiga líder europeia no processamento dos minerais. A Solvay está à frente da empreitada e vai concentrar sua produção em ímãs permanentes. A companhia acredita que conseguirá atender até 30% da demanda europeia por ímãs de neodímio até 2030. A França, no entanto, segue os americanos e, nesse momento, não pretende investir no processamento das terras raras. Ou seja, o passivo ambiental da transição energética seguirá nos países periféricos, ao que parece.
Em tempo: Ao completar 100 dias de governo nessa semana, Donald Trump pareceu bem menos confiante na sua tentativa de fazer a China dobrar-se à sua guerra tarifária. Bem ao seu estilo fanfarrão, disse que os chineses haviam buscado iniciar negociações com os Estados Unidos para rever as tarifas. Foi prontamente desmentido por Beijing.
Neil Young vs Lynyrd Skynyrd: embate musical em uma época de nuances
Entre 1970 e 1972, Neil Young lançou três libelos em formato de canção com conteúdo político ferino. O músico canadense radicado nos EUA nunca se sentiu confortável com a alcunha de “cantor de protesto” e é bem verdade que até aquele momento da carreira questões sociais não estavam exatamente entre seus temas prediletos.
Essas três canções, Ohio, Southern Man e Alabama têm características que as afastam e as aproximam. O tema político, já sabemos, é presente nas três. A primeira saiu em um compacto de Crosby, Stills, Nash & Young, em meados de 1970, e as duas outras são de sua carreira solo. Southern Man também foi lançada como single e faz parte do álbum After the Gold Rush (1970), enquanto Alabama ganha o mundo em fevereiro de 1972 como uma das faixas de Harvest (1972). Curiosamente, todas elas se referem a aspectos regionais dos EUA em sua letra. E esta é a característica mais distintiva dessa trinca.
Ohio retrata o “Massacre de Kent”, por sinal cidade que fica bem pertinho da fronteira com a terra natal de Young, onde quatro estudantes universitários foram assassinados em protesto contra a guerra do Vietnã. Já em Southern Man e Alabama, o cantor volta suas baterias contra o racismo e a herança escravocrata do sul dos EUA. Mas o faz de forma diversa em cada uma das canções. Em Southern Man o enfoque é de denúncia contra a violência racial, enquanto em Alabama Young adota um tom mais metafórico, metonímico até, ao falar do estado americano como se fosse um indivíduo.
Ainda que Southern Man seja muito mais virulenta, ao personificar um estado, Alabama catalisou uma resposta direta. E sua principal reação veio também em formato de canção. A memorável Sweet Home Alabama, um country blues contagiante lançado em 1974, se contrapõe abertamente à Neil Young, citando-o nominalmente na letra. Embora Jacksonville, cidade natal do Lynyrd Skynyrd, esteja a quase 400 km do Alabama, a banda da Flórida tomou para si as dores, criando um hino da identidade sulista.
Não é difícil perceber o apelo ideológico das duas abordagens. Nas canções de Neil Young, a pauta de esquerda é óbvia e o tema se mantém vivíssimo até os dias de hoje. Por sua vez, na resposta do Lynyrd Skynyrd, há um trecho que é facilmente classificável como xenófobo, refletindo a desconfiança expressa pela direita especialmente contra imigrantes, tópico também profundamente atual:
Well I heard Mister Young sing about her
Well, I heard ol' Neil put her down
I hope Neil Young will remember
A southern man don’t need him around anyhow
Em uma entrevista no documentário If I Leave Here Tomorrow: A Film About Lynyrd Skynyrd, o vocalista Ronnie Van Zant acrescenta: “Do que você está falando, sabe? Até onde eu sei, você (Neil Young) nasceu no Canadá”, trazendo para o centro do debate uma outra expressão contemporânea: “lugar de fala”. Hoje, a declaração de Van Zant seria vista como um reforço inequívoco e intencional ao tom xenofóbico da letra.
Importante acrescentar que o Lynyrd Skynyrd já tinha como hábito se apresentar com uma bandeira dos confederados no palco, para reforçar a identidade “rebelde” e sulista. Esta atitude foi encorajada pela gravadora que via no uso da bandeira uma espécie de posicionamento estratégico de mercado. Para Van Zant fazia todo sentido: “Todo mundo acha que a gente é um bando de caipiras bêbados... e isso está correto. Então, qual é o problema?”.
Portanto, mesmo antes do lançamento de Sweet Home Alabama, o Lynyrd Skynyrd já era uma banda que procurava explorar essa identidade sulista, não somente porque era um filão mercadológico, mas também porque eles se identificavam com esse posicionamento. A composição — e a polêmica intencional com Neil Young —, porém, deu a eles a oportunidade de impulsioná-los a uma outra escala de exposição no cenário do rock dos anos 1970. E a música era tão boa que mesmo quem era de esquerda se sentia impelido a cantar a plenos pulmões seu refrão poderoso.
Com relação à bandeira confederada nos shows do Lynyrd Skynyrd, com o passar dos anos, sua apropriação por movimentos de extrema direita tornou sua utilização mais controversa. Em 2012, o guitarrista Gary Rossington afirmou que não queriam que seus fãs pensassem que eles “aprovavam esse tipo de coisa”. A reação nas redes sociais foi intensa e revela o quanto os tempos haviam mudado desde o lançamento de Sweet Home Alabama. É bastante revelador também que uma parte dos fãs da banda tenham se revoltado pelo que consideraram uma guinada em direção ao “politicamente correto” enquanto Rossington estava apenas expressando sua aversão contra a KKK e outros movimentos que mobilizam o ódio contra minorias.
A reação de setores da fanbase do Lynyrd Skynyrd escancara a diferença de perspectiva sobre o discurso e o quanto se estreitou o espaço para a articulação de ideias. Se fôssemos avaliar com a lente de hoje, a oposição entre Neil Young / Esquerda e Lynyrd Skynyrd / Direita, seria de se esperar que esses músicos se entrincheirassem a ponto de ser impossível o diálogo. Contudo, não foi isso que aconteceu. Ronnie Van Zant frequentemente usava camisas com estampas de Neil Young em aparições públicas e o próprio Neil Young dizia abertamente que gostava de Sweet Home Alabama. Chegou até mesmo a tocar a canção em pelo menos uma apresentação. Em sua autobiografia, Young expressa arrependimento em relação à letra de Alabama:
Minha canção “Alabama” mereceu amplamente a resposta que recebi do Lynyrd Skynyrd com aquela grande gravação. Quando a ouço hoje, não gosto da letra. É acusatória e presunçosa, não totalmente ponderada e fácil de ser mal interpretada.
Considerando a polarização na atualidade, é razoável ponderar se os antagonistas dessa encrenca dos anos 1970 teriam a coragem de sustentar suas posições ante a expectativa de confronto no debate público atual. É anedótico que Rossington tenha respondido aos fãs no Facebook explicando qual era a sua percepção sobre o que significava a bandeira dos confederados — um símbolo de rebeldia e resistência, segundo ele.
À época do lançamento dessas canções, e, mesmo depois, quando Neil Young redigia sua autobiografia, havia mais espaço para ambiguidades e posições incômodas sem que isso necessariamente provocasse o tipo de reação social devastadora experimentada por Rossington que hoje associamos à “cultura do cancelamento”. A autocrítica de Young em sua autobiografia parece muito mais ligada a um reconhecimento pessoal da complexidade do tema do que a uma pressão externa que exige uma retratação pública.
De certo é que as canções de Neil Young e Sweet Home Alabama são momentos antológicos de uma década muito prolífica em termos musicais. No entanto, mais do que os momentos musicais brilhantes do século passado, a nostalgia que se expressa é aquela que evoca uma época na qual se permitiam posições públicas com mais nuances e sutilezas.
Antídoto contra hipocrisia
Zé Celso Martinez Corrêa tinha acabado de ser cremado quando Marcelo Drummond convidou Monique Gardenberg para realizar um sonho antigo de seu marido: dirigir uma montagem de Senhora dos Afogados, de Nelson Rodrigues. Era um desejo que vinha desde 2008. Em 2023, pouco antes de morrer, Zé Celso havia decidido encarar a peça e chegou até a convidar a atriz Regina Braga. Mas aí aconteceu o incêndio trágico que acabou lhe custando a vida. Dois anos depois dessa conversa na volta do crematório, a peça estreia em São Paulo, no Sesc Pompeia, onde fica em cartaz até dia 11 deste mês. No dia 30, chega ao Teatro Oficina.
Na nova montagem, criada coletivamente com a turma do Oficina, o texto de Nelson Rodrigues ganha vida extrapolando a ideia tradicional de teatro, com a incorporação de diferentes linguagens, como é natural para Monique, essa baiana radicada em São Paulo que começou como produtora de shows, para depois dirigir uma série de espetáculos de teatro, filmes e séries de TV. Essa peça é especial porque Monique usou a liberdade do Oficina para homenagear pessoas importantes em sua vida: “o Zé [Celso], meu irmão André, o Erasmo [Carlos], o [Antonio] Cícero, a Pina [Baush]”, disse ao Meio por telefone. Leia abaixo os principais trechos da entrevista em que ela fala da peça e também de outra criação sua, a terceira edição do C6 Fest, que acontece em São Paulo de 22 a 25 de maio, trazendo artistas como Air, Wilco, Pretenders, MShell Ndegeocello e Mulatu Astatke.
Como foi dirigir o Oficina e ter de lidar com a sombra de Zé Celso no processo?
Nesse processo todo, ele era uma inspiração. Eu não podia trair tudo que o Zé construiu. Então estavam presentes em mim o tempo todo a alegria, a força de vida do Zé, sabe? E as misturas que ele fazia muito bem, o jogo com vários signos. Tenho isso um pouco também e esse trabalho era um prato cheio para fazer isso. Um campo fértil. Tinha a loucura do Nelson Rodrigues, a força criativa do Oficina, um coletivo que, para cada coisa que você propõe, eles trazem mais. Então é uma entrega, uma troca espetacular para um diretor. Por exemplo, você nunca imaginaria o Oficina fazendo um balé da Pina Bausch. E a gente faz, entende? É tão lindo você ver o Oficina, que fazia Bacantes, que fazia O Rei da Vela, de repente impecavelmente executando uma coreografia delicada da Pina Bausch. E me encontro muito bem com o Zé e com o Nelson na loucura, na liberdade, na intensidade.
No programa do espetáculo, tem uma frase do Zé Celso que diz: “Nelson precisa de muita leitura, interpretação, para não ser assassinado por quem projeta nele o seu psicologismo de arrivista moralista”. Como vocês fugiram disso?
A minha leitura de Senhora dos Afogados é que a gente está retratando uma certa classe dominante, hipócrita no seu moralismo. Porque é o moralismo que só serve às aparências. É uma família extremamente religiosa onde o patriarca, Misael, é capaz de matar. Nesse sentido, a peça atende muito bem à crítica política e social que está em tudo o que faço. Quem vê o Nelson dessa maneira é porque não consegue dar a volta na crítica que ele está fazendo. Tem frases que são incríveis, do ponto de vista de colocar um espelho nessa gente. E eu falo de uma certa parcela da classe dominante. Tem essa mulher que mataram há 19 anos, e o Misael responde: “mas ela é uma mulher da vida”. Ele joga na cara que a vida da mulher da vida vale menos. Assim como hoje um tipo como ele poderia dizer que uma vida de um indígena ou de um negro vale menos. Nesse sentido, essa obra é uma crítica ferrenha à sociedade hipócrita.
A peça é escrita em 1947. De lá para cá parece que essa classe média retratada por ele se amplifica. Qual o seu sentimento em relação a isso?
É muito assustador que muitas questões fiquem impunes no Brasil. E a sensação que dá ali é a de que Misael fica impune também. Corre um rumor na sociedade, todo mundo comenta, mas ele está prestes a ser nomeado ministro. É muito importante fazer esse texto agora, quando essa gente grosseira e essa classe genocida fica beirando o poder, né?
A peça do Nelson deriva de Electra Enlutada, do Eugene O'Neil, que, por sua vez, vem de Ésquilo. Ou seja, você tem várias camadas de remix para chegar na Senhora dos Afogados. Como vocês trazem esses elementos clássicos para a montagem?
Eles ajudam o entendimento do movimento de criação do Nelson. O pessoal do Oficina queria me matar, mas eu fiquei um mês na mesa só trabalhando o texto com todo mundo. Eles não aguentavam mais, às vezes tinha que amarrar na cadeira. Mas era muito importante que o entendimento ficasse bem claro de como ele constrói a dramaturgia. É óbvio que todas essas referências, Orestíada, Édipo, Narciso, que foram dele, também foram usadas por nós. Mas a peça é viva. Eu sempre achei que a cena do banquete, onde ele narra que essa mulher morta apareceu para ele, é Macbeth. Uma coisa que não é citada por nenhum texto que li sobre essa peça. A aparição da prostituta morta é igual ao Banquo quando aparece para o Macbeth. E sempre quis botar alguma coisa de Shakespeare lá, como eu fiz no Ó Pai, Ó, usando O Mercador de Veneza na voz de Lázaro [Ramos], mas com o linguajar totalmente chulo. E hoje eu consegui, pegar quatro falas do Macbeth para dar ao Marcelo [Drummond].
Você trabalha com muitas linguagens, teatro, cinema, TV, produz shows, como entende o seu papel como artista?
É quase uma necessidade para sobreviver. Acho que a arte, essa atividade toda, é o que me salva. Porque a vida foi muito dura. Então, viver essas coisas na arte – e elaborar muitas perdas também na arte –, me ajuda a encontrar sentido.
Logo depois dessa temporada já vem o C6 Fest, que é um filho seu e da sua irmã, se a gente entender que ele é a continuação do Free Jazz Festival. Daí a peça retorna ao cartaz, mas no Teatro Oficina. Como conjugar as coisas e como está o festival neste ano?
Fui a idealizadora desse projeto lá em 1985 com a minha irmã Silvinha. Hoje ele é tocado pelos meus sócios na Dueto [Jeffrey Nealey, Carlos Martins e Clarice Philigret], com uma equipe toda preparada para cuidar do evento. E temos uma parceria com o Musicalize para fazer toda essa parte executiva do local. E está indo super bem, devemos lotar o sábado já. Então tem uma turma muito linda junto e eu fico mais numa supervisão.
Você não se meteu na curadoria neste ano?
Eu sempre digo que sou quase uma direção de curadoria, porque não me considero curadora no sentido de ser conhecedora do que eles me trazem o tempo inteiro. Eu recebo uma série de sugestões e juntos a gente faz o desenho final. Mas quem levanta, traz os nomes, pesquisa e aponta os caminhos é a curadoria.
Neste ano sem o Zé Nogueira, que fazia desde o Free Jazz e faleceu no ano passado.
Nem fala. Há um mês fez um ano. O Lourenço Rebetez entrou no lugar do Zé e agora faz uma dupla com Pedro Albuquerque no jazz. E, para as outras coisas, voltamos para a dupla original: o Ronaldo Lemos e o Hermano Vianna.
Os assinantes do Meio estão atentos aos grandes assuntos da atualidade, mas encontram tempo para apreciar a arte, tanto na tela quanto no prato. Confira os links mais clicados:
1. BBC: As primeiras imagens divulgadas pelo Vaticano do túmulo do papa Francisco logo após o funeral.
2. ArtNews: Obra do início da carreira do artista plástico americano Jean-Michel Basquiat vai a leilão por até US$ 15 milhões.
3. Time: Um balanço aprofundado dos primeiros cem dias do mandato de Donald Trump.
4. Panelinha: Macarrão com brócolis e queijo azul, uma delícia para deixar o inverno mais quentinho.
5. Meio: No Ponto de Partida, Pedro Doria analisa as iniciativas de Michel Temer e Eduardo Leite para aglutinar a direita em torno de um projeto conservador democrático.