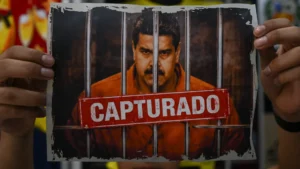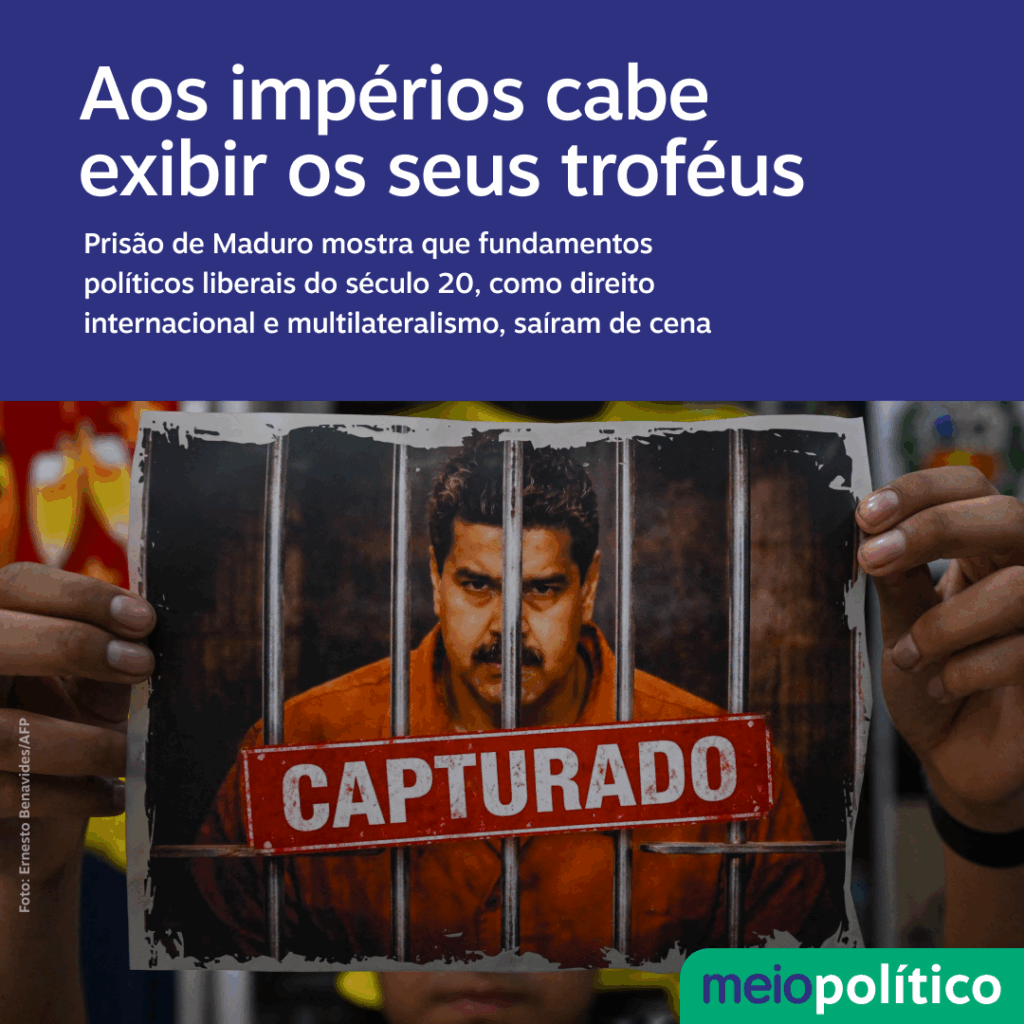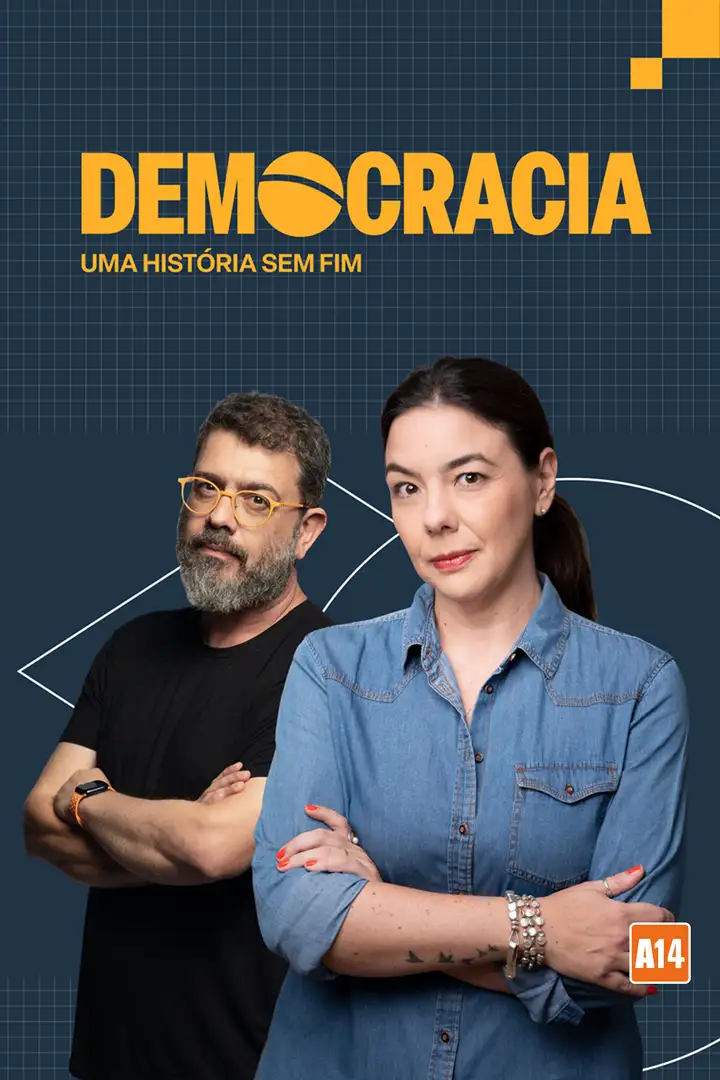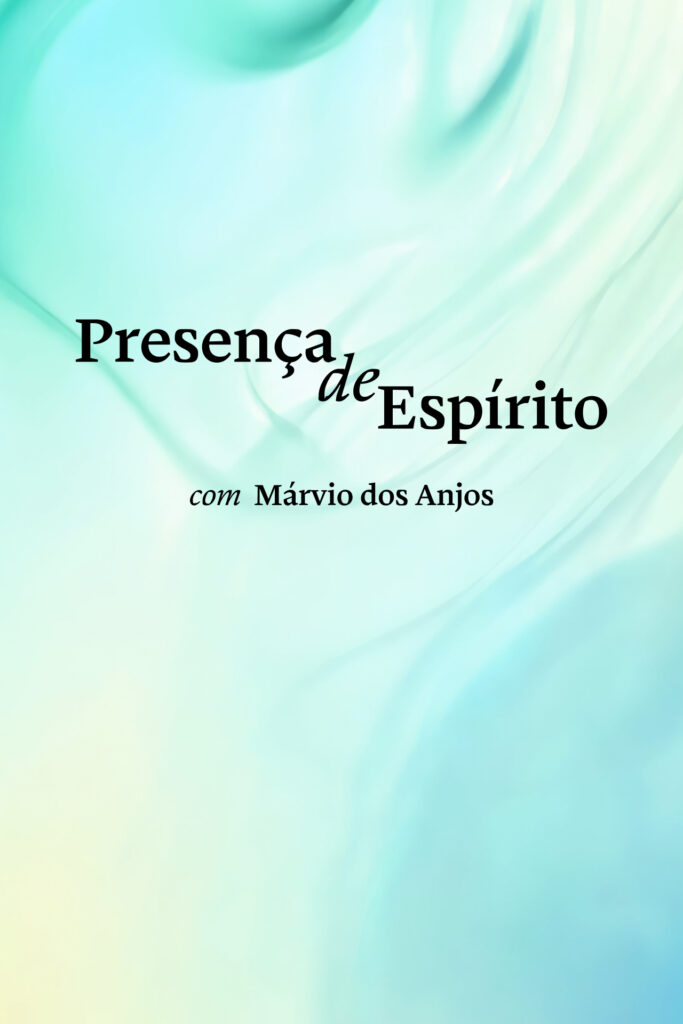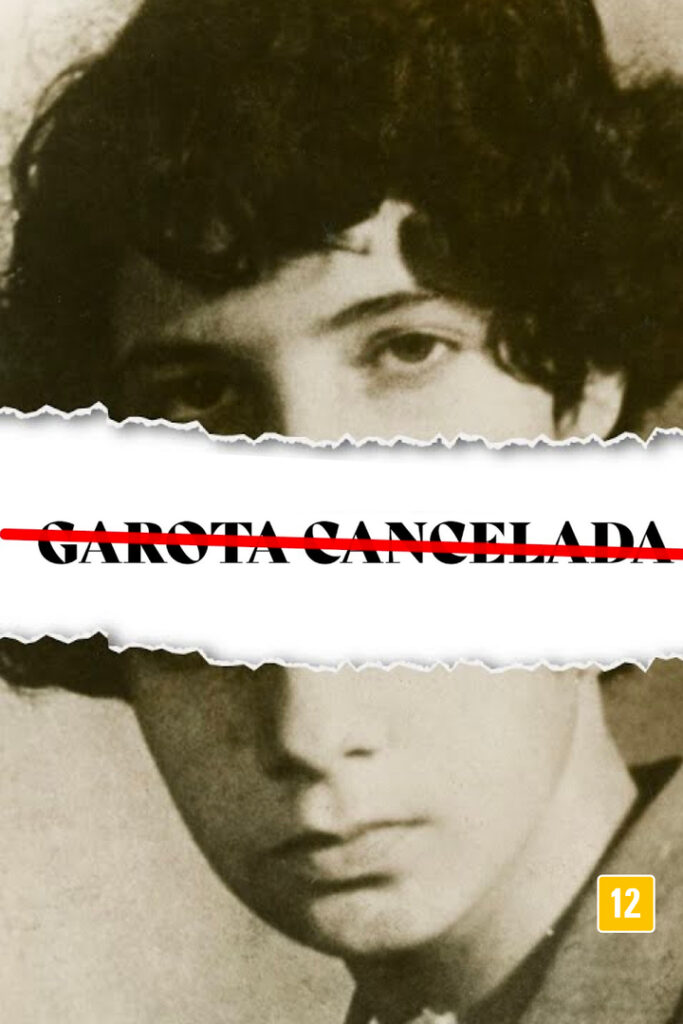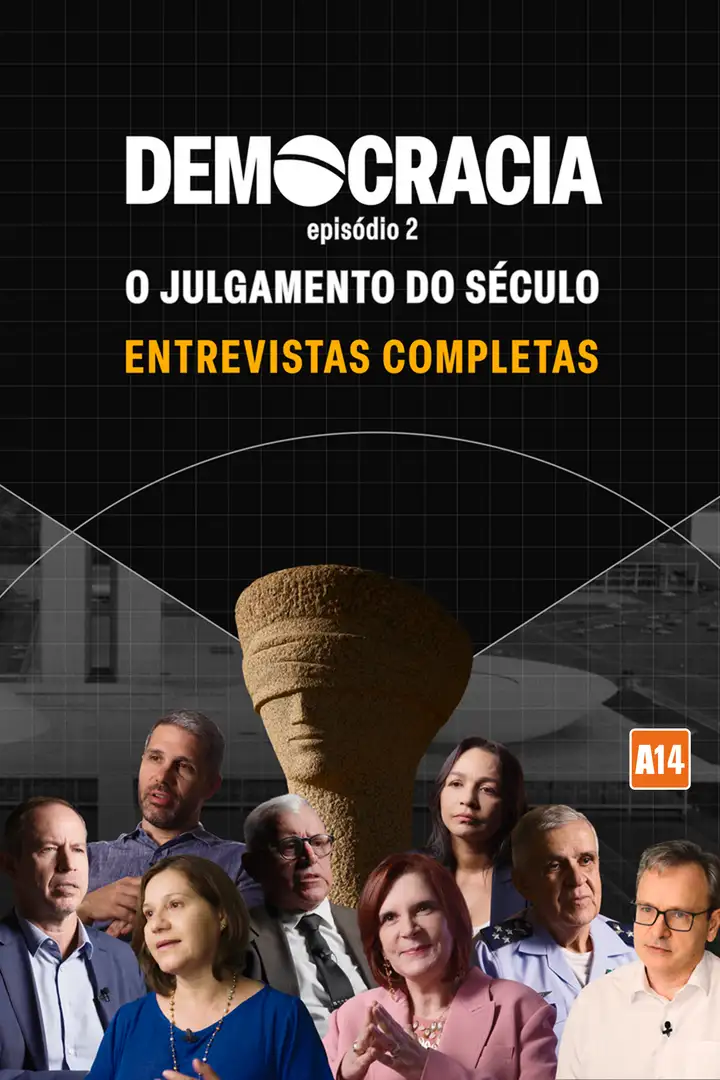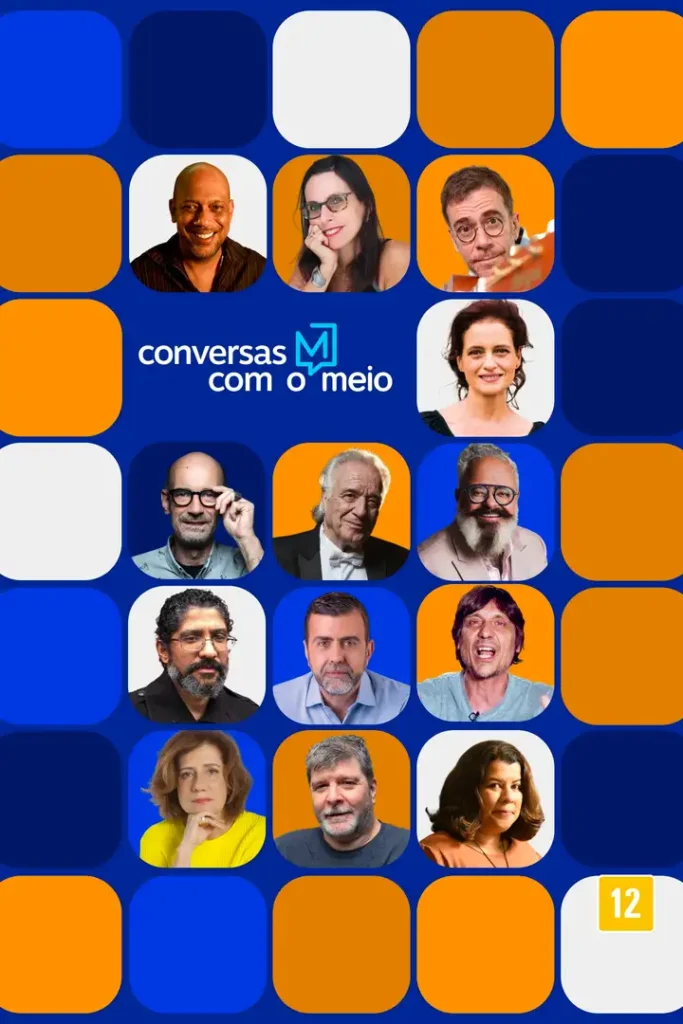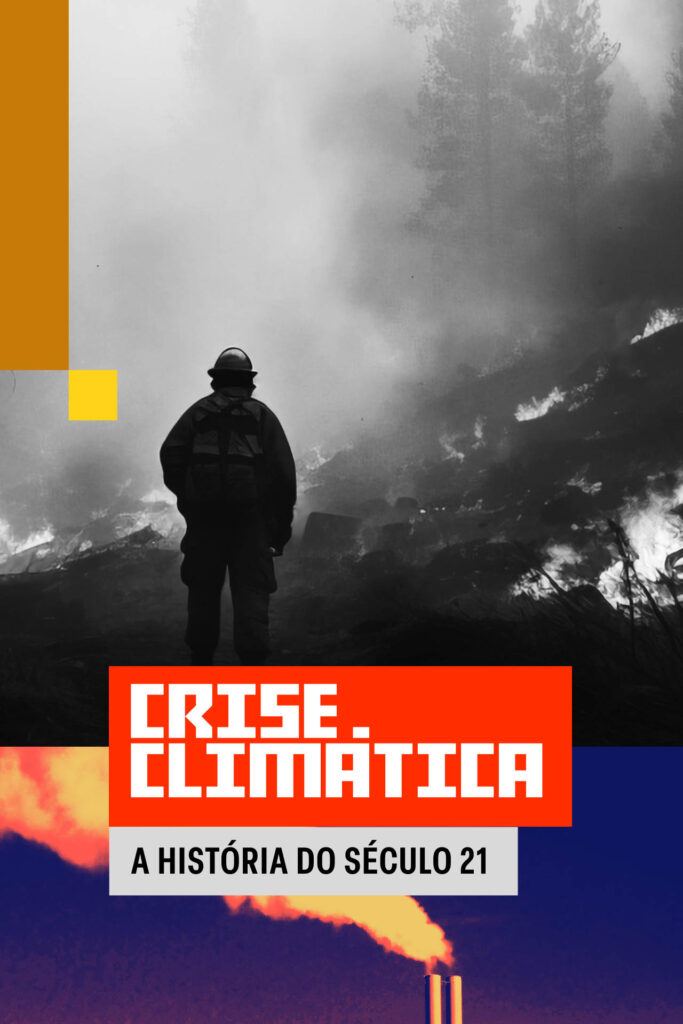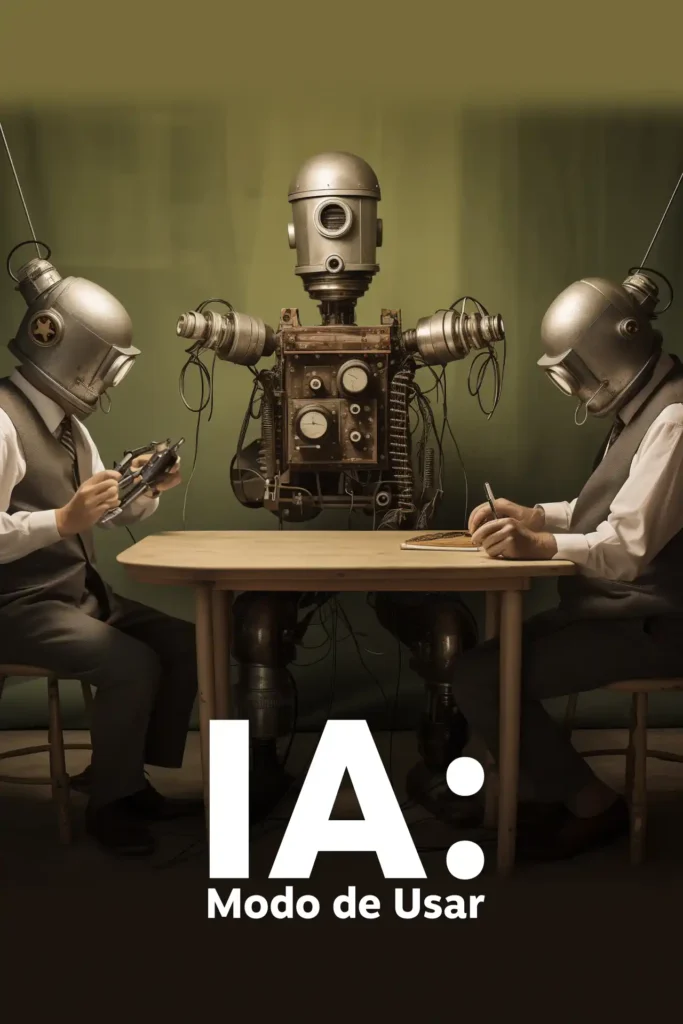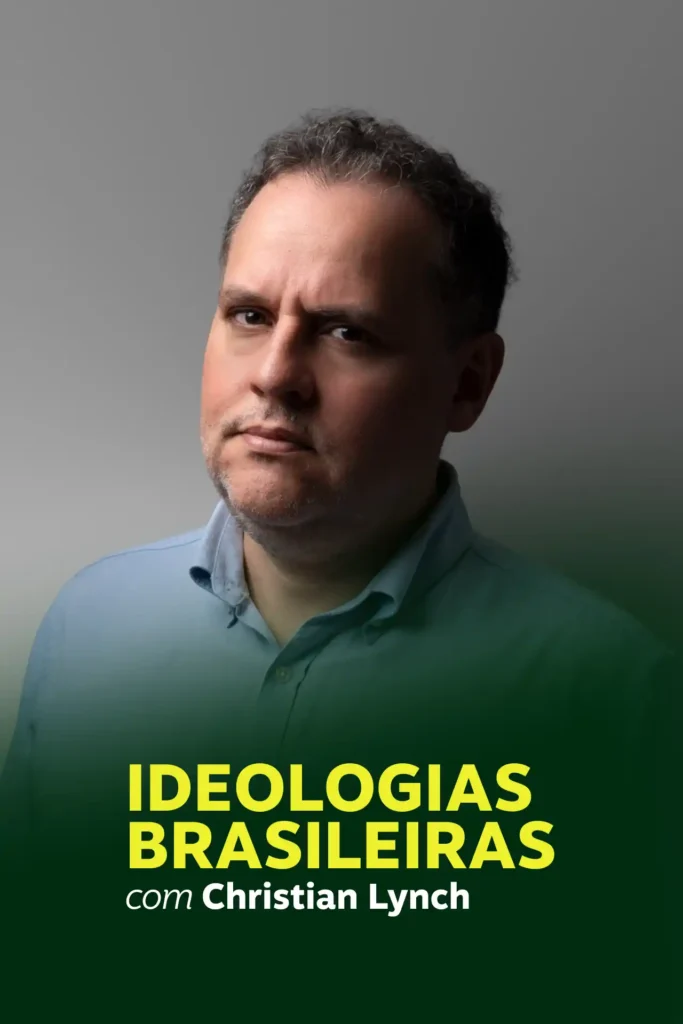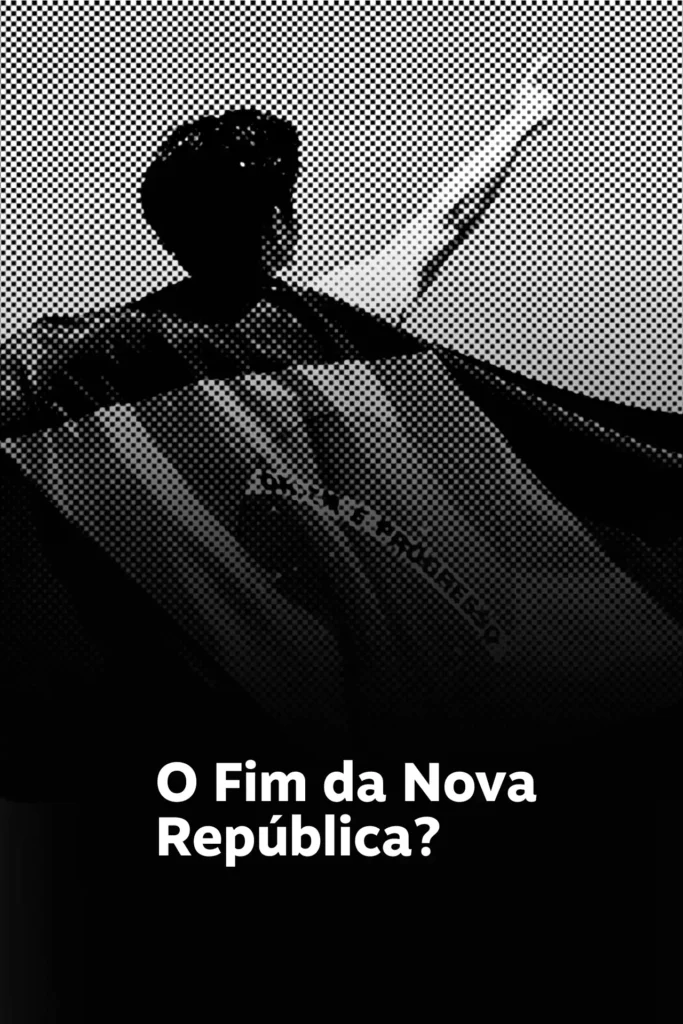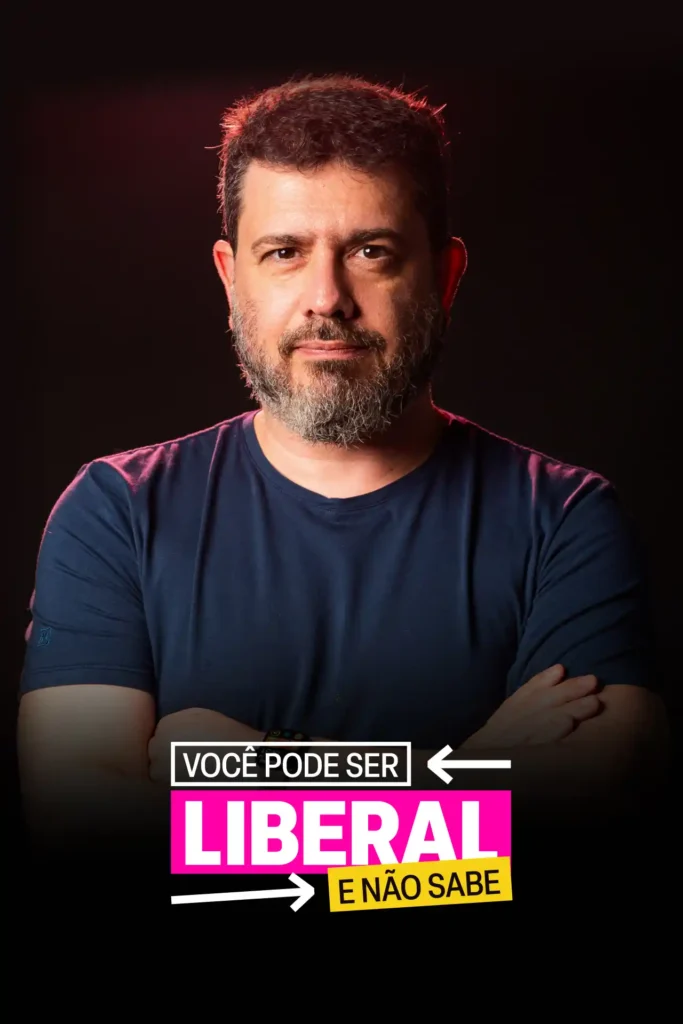Edição de Sábado: A indignação de Jason Stanley

Receba as notícias mais importantes no seu e-mail
Assine agora. É grátis.
Jason Stanley está revoltado. Indignado. Furioso mesmo. Mas não está sozinho. Sua voz sintoniza o que uma parte da esquerda americana, aquela que está bem à esquerda dos liberais de lá, vem sentindo e manifestando desde as eleições de 2024, quando Donald Trump foi escolhido mais uma vez para ocupar a Casa Branca. A cada nova sandice que Trump empreende, mais esse pedaço dos progressistas, representados na política em boa medida por figuras como a deputada Alexandria Ocasio-Cortéz e pelo senador Bernie Sanders, se insurge, se radicaliza. É um efeito natural provocado por um extremista. E, convenhamos, sandices não faltam.
Desde que reassumiu o poder, simultâneo ao acelerado desmonte da burocracia estatal promovido por seu ex-aliado Elon Musk, Trump fez múltiplos e variados movimentos para dilapidar a democracia americana. Remodelou a Immigration and Customs Enforcement (ICE) para se tornar uma espécie de milícia e perseguir imigrantes. Trabalha incessantemente para esvaziar a Justiça, manipulando-a para acossar adversários. Opera para redesenhar distritos e, assim, angariar votos republicanos em diferentes estados americanos. Declarou guerra aos museus, à mídia, às universidades e a bancas de advogados. Interferiu na soberania de nações historicamente amigas. Está mandando tropas para lutar contra cartéis de drogas em outros países. E, num movimento político cinematográfico e agressivo, designou a intervenção nas forças policiais de Washington e colocou o Exército nas ruas da capital para apreender pessoas em situação de rua.
Filósofo estudioso do fascismo, Stanley não quer mais meias palavras. Ele deixou a cadeira de professor de Yale em março, indo morar no Canadá e lecionar na Universidade de Toronto, alegando que seu país já vivia sob um regime autoritário. Quatro meses depois, não só não se arrepende como vocifera contra quem ainda não aceite chamar Trump — ou Jair Bolsonaro, diga-se — de fascista e contra vozes liberais que tenham, em sua interpretação, colaborado para o sucesso do trumpismo. Nomeadamente, o jornal The New York Times e figuras como o psicólogo social Jonathan Haidt. Ambos, segundo Stanley, pavimentaram o caminho para Trump ao cair numa “histeria anti-woke” que só contribuiu com a extrema direita e não reflete quem realmente domina o discurso público ou nas universidades. Confira os principais trechos da vigorosa entrevista que Jason Stanley, cujo livro mais recente, Apagando a História, chegou recentemente ao Brasil, concedeu ao Meio.
O senhor parece cansado da controvérsia em torno do uso do termo “fascismo” para descrever o que acontece em vários países, especialmente nos EUA. No Brasil também tivemos esse debate com Jair Bolsonaro. Como uma das principais referências no assunto, por que usa essa palavra e por que está cansado?
Temos essa controvérsia há sete ou oito anos, desde que Donald Trump surgiu. Jair Bolsonaro parece muito o “Trump dos trópicos”. O problema é que, quando você diz “Bolsonaro não é fascista”, mesmo fazendo um ponto técnico e acadêmico, soa como se estivesse negando que ele é muito perigoso. Mesmo que depois corrija para “não, não, ele é muito perigoso, só não é perigoso como um fascista”, isso não ajuda muito. Precisamos de um nome ou conceito para ideologias de extrema direita antidemocráticas — que atacam cidadãos LGBTQ, o feminismo e, onde for relevante, a imigração. Alguém pode dizer que o fascismo exige antissemitismo. Isso está errado, porque equivaleria a dizer que judeus não podem ser fascistas — e o que estamos vendo em Israel mostra que qualquer um pode ser fascista. No Brasil, houve um teórico fascista, Olavo de Carvalho, que lançou as bases para Bolsonaro. A estrutura é clara: “os marxistas comandam as instituições, então temos que esmagá-los e tomá-las de volta”; “as feministas estão destruindo a sociedade ao atacar normas patriarcais”; “a democracia é fraca, precisamos de um líder forte”; “a grandeza da nação está sendo comprometida por imigrantes, por cidadãos LGBTQ, por marxistas e liberais”; “mulheres devem ter mais filhos e, se possível, ficar em casa”. Essa estrutura muda um pouco, mas o núcleo é esse. Se você tirar os judeus de Mein Kampf, verá algo muito parecido com isso.
O senhor falou do fascismo como ideologia, e há quem diga que esse é mais um método do que uma ideologia.
Você está operando com uma concepção errada. Uma ideologia é um conjunto de métodos: modos de falar das pessoas, dos seus opositores políticos, de cidadãos LGBTQ, de mulheres; modos de tratar as pessoas; de se comportar; de lidar com a mídia e os tribunais. Essas são ideologias. O que é uma ideologia patriarcal? É aquela que pune mulheres, por meio de ações, por não se conformarem a papéis de gênero tradicionais. Ideologia é material. Você é do país de Paulo Freire. Ele nos diz que escolas são ideológicas pela forma como são estruturadas: o professor à frente, com plena autoridade, e os alunos sentados. Isso não é apenas um conjunto de crenças, é um conjunto de práticas educacionais. Essas práticas são uma ideologia, e uma ideologia opressiva. Não há divórcio: ideologias são feitas de métodos.
Gostaria de ir mais fundo no caso americano. Entre as características que se costumam apontar no fascismo estão: um movimento altamente ritualizado, que gosta de uniformes e explora o ressentimento, especialmente da baixa classe média. Essas características fazem sentido para os EUA? Já aconteceram antes?
Certamente já tivemos movimentos fascistas nos EUA. No início do século 20, até a Segunda Guerra Mundial, houve um movimento fascista poderoso. Rachel Maddow tem um podcast e um livro sobre isso. O governo nazista se comunicava com senadores americanos. Charles Lindbergh, o aviador, seria o líder do movimento fascista americano. Hitler foi profundamente influenciado por Madison Grant, autor americano cujo livro de 1916, The Passing of the Great Race, ele leu na prisão — e que tratava de teoria da grande substituição: a grandeza dos EUA estaria ameaçada porque a “grande raça”, os arianos brancos, teria sua dominância ameaçada pela imigração. Tínhamos o Chinese Exclusion Act e várias leis que restringiam severamente a imigração, especialmente contra asiáticos. Tudo isso afetou profundamente Hitler. Em Mein Kampf, ele diz que o Estado nacional que mais queria que a Alemanha emulasse eram os Estados Unidos, que descreve como uma nação baseada em raça.
Eu sou americano e “gosto” de creditar meu país pelas coisas — e o fascismo é uma das coisas pelas quais podemos assumir o crédito.
É uma afirmação e tanto.
Ao falar com jornalistas brasileiros, quando digo que os EUA são antidemocráticos, fascistas, geralmente não há surpresa. Nosso papel na América Latina foi derrubar governos democráticos. Vocês conhecem militares fazendo pessoas desaparecerem, restrição de discurso, investindo muito dinheiro em uma polícia secreta interna. Hoje, o ICE tem um orçamento gigantesco, maior que o de muitos exércitos, e é uma força policial militar voltada para dentro dos EUA. Parece a Gestapo. A América Latina está especialmente bem posicionada para ver o que está acontecendo nos EUA, ainda mais porque falamos de uma extrema direita que olha para Augusto Pinochet como modelo e fala abertamente em desaparecer pessoas — enfiando gente em vans, sumindo com elas e postando vídeos nas redes. Não é acidente, é para evocar o que aconteceu nos seus países, com apoio dos EUA. Portanto, quando você me pergunta se o comportamento atual difere do passado, a resposta é não. É um retorno à nossa prática padrão na América Latina — derrubar democracias e apoiar ditadores, como estamos fazendo em El Salvador e tentando fazer no Brasil. Vocês precisam resistir.
Há um debate sério sobre se “fascismo” virou uma palavra vazia. Alguns dizem que, se você não usa, minimiza o perigo; outros dizem que, se usa para tudo, também minimiza.
Venho sustentando meu argumento há uma década. Chamei Bolsonaro de fascista em 2018. A maioria dos acadêmicos hoje concorda. Robert Paxton disse que o trumpismo é fascismo. Trump é ideologicamente fascista: xenofóbico, antidemocrático, anti-LGBTQ, supremacista branco, adepto da teoria da grande substituição (embora não contra imigrantes do norte da Europa). Temos o desenvolvimento em massa de campos de concentração. Se você não usar “fascismo”, qual palavra vai usar? Ele não é comunista. Que termo captura os métodos antidemocráticos e a retórica política que ele emprega? Ele está tirando páginas diretamente da história. Há quem diga, como Adam Tooze escreveu, que não é fascismo porque estratégias como usar a lei (lawfare) para arruinar financeiramente pessoas ou ameaçá-las com mecanismos legais sempre existiram na América. Mas John Ganz respondeu — corretamente, na minha opinião — que o fascismo emerge justamente das falhas do liberalismo, é um aprofundamento das contradições do liberalismo. Federico Finchelstein, historiador argentino e estudioso do fascismo latino-americano, é crucial aqui. Parte do debate é francamente eurocêntrica — como se latino-americanos não fossem “inteligentes o bastante” para fazer fascismo, como se fosse preciso ser alemão ou italiano, com estética sofisticada e uniformes da Hugo Boss. A América Latina sabe fazer fascismo tão bem quanto qualquer um. Pinochet é um caso clássico. A vilanização de adversários como “marxistas” e “comunistas” é típica. E, nos EUA, o Partido Democrata não é marxista — é composto por centristas tecnocráticos, como as universidades, que são apresentadas como “dominadas por marxistas”, mas não são; estão, isso sim, cheias de centristas anti-woke brancos.
Essa disputa pela definição de “fascismo” faz parte do “apagamento da história” de que o senhor fala em seu livro? É um esforço dos novos fascistas para dissociar o termo do que de fato defendem?
Claro. Fascistas sempre projetam para o outro. Vladimir Putin — eu sei que muitos brasileiros gostam dele, mas não deveriam — diz que os ucranianos são fascistas e nazistas. Trump diz que os democratas são a ameaça antidemocrática, ao mesmo tempo em que atua para destruir a democracia. Há toda uma estrutura de normalização. A página de opinião do New York Times é basicamente dedicada a normalizar Trump. As coisas se movem rápido: de repente, não-cidadãos não têm liberdade de expressão. Se você não é cidadão nos EUA, é melhor não criticar Trump, não falar contra apoio militar a Israel, não defender direitos trans. Vistos de estudantes estrangeiros estão sendo restringidos. Se você é filho de família brasileira rica e, como outros, quer ir para Princeton, Yale ou Brown, é melhor ter um histórico totalmente apolítico — a não ser que seja conservador. Eu espero que famílias brasileiras ricas parem de mandar seus filhos para as escolas da Ivy League. Estão enviando seus filhos para uma sociedade totalitária.
Não há um exagero aqui?
Esses alunos vão experimentar salas de aula onde não podem falar. Qualquer um pode denunciá-los por apoiar a Palestina, criticar Trump ou Bolsonaro. Imagine um estudante brasileiro indo para Harvard, mas cujo telefone tem críticas a Bolsonaro. Ele pode não entrar no país. Esse era o objetivo do governo Trump: destruir o soft power americano, cuja fonte são nossas universidades. Talvez demore para as pessoas aprenderem essa lição. Rapidamente normalizamos tudo isso. O New York Times parou de falar no assunto. É um estreitamento de direitos que deve se completar em breve. A administração Trump está indo atrás da mídia, das universidades, de bancas de advocacia — de toda a estrutura.
Talvez a sensação de que não é um regime totalitário venha do fato de figuras como, por exemplo, Rachel Maddow ainda estarem na TV criticando Trump abertamente. Por outro lado, houve o caso com Stephen Colbert.
Trump e a mídia normalizaram a situação ao não dizer que a questão com Stephen Colbert era sua crítica a Trump, aceitando a desculpa da CBS de que foi uma decisão financeira — embora ele tivesse a maior audiência do segmento de late night shows. Os jornais aceitaram a narrativa porque têm medo. Claro que há resistência, mas ela anda devagar. A MSNBC, por exemplo, é a rede mais “heroica”, a principal a criticar Trump — e ainda assim precisou se desfazer de Joy Reid. Em cada caso, a grande mídia arruma desculpas, mas é evidente que muito disso é político. A CBS cedeu completamente: o programa 60 Minutes, que no passado enfrentou de forma heróica autoritários como Joseph McCarthy, também se rendeu. Não é tudo de uma vez: é preciso manter uma aparência e ir “comendo pelas beiradas”, sem virar Putin de imediato. E talvez nem seja necessário ir tão longe. Olhe para Orbán. Ele não mata pessoas: audita impostos, usa tribunais para forçar você a vender sua empresa de mídia sob ameaças de problemas legais.
Sobre universidades, há um consenso crescente de que o movimento woke, ou o identitarismo, teria provocado a reação conservadora. Como o senhor lê o movimento progressista dos últimos 30 anos e de que forma ele alimentou o ressentimento que hoje impulsiona o fascismo?
Acho que 90% dessa visão é propaganda tóxica. O “woke” nunca foi tão popular nem controlou instituições. Quando apontam que professores universitários são em maioria democratas, isso também é verdade em física, matemática, química — áreas sem relação com pautas identitárias. Na prática, as instituições são administradas por homens brancos anti-woke, que se sentem oprimidos por mulheres e minorias e acham que merecem mais crédito. Esses são os que mandam. Houve excessos, como a humilhação pública de homens brancos, sobretudo nas redes. Mas a direita fez campanhas muito mais extremas e passa impune. Dizem que cancelamento é só da esquerda. Isso é absurdo. A direita organizou campanhas gigantes nas redes contra progressistas. Eu fui alvo regular. A mídia nunca deu a devida atenção a isso. A histeria anti-woke repete a histeria do politicamente correto dos anos 1990. Liberais bem posicionados, como Jonathan Haidt — com financiamento dos irmãos Koch — pavimentaram o caminho para o fascismo ao pegar essa histeria, que remonta a William F. Buckley Jr., e torná-la mainstream. Eles diziam: “Sou liberal, mas acho que foi longe demais”. Isso legitimou a agenda da direita e a noção de que “os marxistas culturais estão tomando tudo”. Foi uma ofensiva de propaganda contra as universidades. Começou com o trabalho de Jonathan Haidt e Greg Lukianoff por volta de 2015. Se você olhar o que diziam, estavam montando a plataforma de Trump: igualdade racial, feminismo, direitos LGBTQ, clima — tudo isso “foi longe demais, precisamos recuar”. Eles são facilitadores do fascismo.
Mas então, na sua visão, não há um problema de predominância identitária nas universidades americanas
Nos espaços em que estive — escolas da Ivy League — tudo era dominado por homens brancos anti-woke. Meu departamento em Yale contratou o primeiro professor negro no ano passado: Robert Gooding Williams, um dos filósofos mais renomados dos EUA. E 14% da população americana é negra, isso mostra o quão longe estamos de diversidade real. Toda a administração Trump vem da Ivy League: JD Vance (Yale), Josh Hawley (Stanford), Ted Cruz (Princeton e Harvard), Ron DeSantis (Yale e Harvard). Se essas universidades fossem controladas por marxistas, por que produziriam tantas figuras da direita americana? O que aconteceu foi que uma elite liberal endossou uma estratégia de propaganda da direita, construída por décadas. O New York Times foi o pior facilitador do trumpismo: publicou dezenas de editoriais e colunas “preocupados” com o identitarismo e quase nada sobre a ofensiva da extrema direita. A história verá essas páginas de opinião como cúmplices da destruição da democracia. Eu posso ceder 10% de razão aos críticos: houve métodos ruins, na linha “sente e cale a boca se você é homem branco”, por exemplo. Isso foi tolo e provocou reação. Houve exageros no Me Too, um movimento necessário, com casos mal calibrados. Mas, ao mesmo tempo, a direita nas redes ameaçava pessoas de verdade, colocava professores e membros de conselhos escolares em risco, fazia doxxing de progressistas há mais de uma década. E os “liberais preocupados” ajudaram esse ataque. Harvard e outras instituições são dirigidas por caras anti-woke como Larry Summers e, sim, Steven Pinker — que passou anos falando que “marxistas culturais” dominavam as instituições e agora se diz anti-autoritário. É hipocrisia.
O fascismo moderno tem chegado ao poder pelo voto. Se chega pelo voto, ainda é fascismo? E por que a mensagem fascista, que aciona os ressentimentos, ressoa mais do que a de esquerda em tantos países?
Essa pergunta é antiga. Surgiu com os nazistas. Em Psicologia de Massas do Fascismo, Wilhelm Reich analisa por que grupos para os quais não fazia sentido material votar nos nazistas o fizeram. Marx não previu que o nacionalismo seria tão motivador. Nos EUA, alguns à esquerda dizem, com razão, que as condições materiais estavam ruins e as pessoas queriam mudança. Muitos lembram o primeiro mandato de Trump como próspero. As políticas de Biden geraram prosperidade, mas ele não reivindicou crédito, e os republicanos tentaram atrasar seus efeitos. A Suprema Corte de Trump declarou algumas medidas populares, como o cancelamento de dívida estudantil, “ilegais”. Agora, tudo que Trump quer é legal. Mas, além da economia, há posição social. Reich mostrou que trabalhadores de fábrica ganhavam o mesmo que funcionários públicos, mas tinham menos status. Os nazistas manipularam isso: “eles se acham melhores que você e não podem ser demitidos; você pode”. Vemos algo parecido com homens que se sentem ameaçados por mulheres em posições de poder. Não importa a economia; é status. As pessoas agem contra seus interesses materiais quando percebem sua posição social em risco. Também há motivação econômica para o fascismo: os democratas não entregaram. Não entregaram para negros, latinos, pobres. Barack Obama, após 2008, socorreu bancos, não famílias. Nomeou neoliberais como Timothy Geithner e Larry Summers. A desigualdade racial aumentou. Não culpo quem não confia neles.
Agora, sobre sua decisão de deixar os EUA para lecionar no Canadá. Já se passaram quatro meses. Houve quem dissesse que teria sido melhor o senhor “resistir por dentro”, especialmente quando vemos universidades cedendo a Trump. Em retrospecto, teria sido possível ficar e resistir? E quando o senhor pensa em voltar para os EUA?
Mudar para o Canadá e anunciar publicamente que era por causa de Trump foi o ato político mais poderoso que eu poderia fazer naquele momento. Nada do que eu fizesse ficando nos EUA teria o mesmo impacto. Mudar de país com minha ex-esposa e dois filhos pequenos é brutal. Amo Nova York e amava Yale. Foi uma decisão política para causar efeito — e teve impacto mundial. Também houve um fator de repulsa: sou judeu e me oponho profundamente ao genocídio que Israel comete em Gaza. Minha educação judaica me ensinou a ficar do lado do oprimido. Associar o judaísmo a genocídio é antissemita, mas dizer que ser contra genocídio é ser antissemita é um absurdo. Ver meu governo e universidades embarcarem nisso me causou nojo. Quanto a voltar, professores não mudam de universidade facilmente. A Universidade de Toronto é uma das grandes do mundo. Aposto que a destruição do sistema universitário americano levará à ascensão de outras universidades. Toronto já está no patamar das Ivy Leagues. Então, a não ser que as condições mudem radicalmente, não vejo razão para sair. E, sinceramente, famílias brasileiras deveriam considerar seriamente mandar seus filhos para o Canadá, não para os EUA.
UFC para as massas
Na última semana, o UFC, principal organização de esportes de combate do mundo, fechou um acordo de US$ 7,7 bilhões (R$ 42 bilhões) com a Paramount para transmitir sua programação via streaming e na TV aberta. Há apenas 30 anos, o evento era proibido na maior parte dos Estados Unidos.
A partir de 2026, seu faturamento dobrará para US$ 1,1 bilhão por ano em relação ao contrato anterior com a ESPN, colocando o UFC no top 5 das organizações esportivas norte-americanas em receita de transmissão direta de eventos.
A maior mudança, porém, é no acesso. Antes, o público nos EUA dependia do pay-per-view e pagava cerca de US$ 80 para assistir aos eventos principais. Agora, poderá ver grande parte da programação gratuitamente pela CBS ou assinar a Paramount+ por US$ 8 mensais para ter acesso completo. Em outras palavras, as artes marciais mistas (ou MMA em inglês) se tornam um esporte de massas.
Estamos testemunhando o surgimento de um novo esporte global — um fenômeno que, em apenas três décadas, rompeu o anonimato, superou a resistência de quem comparava o espetáculo a uma “rinha de galos humana”, preencheu o vazio deixado pelo boxe e conquistou um lugar central na cultura esportiva mundial.
Esse diferencial — a originalidade do esporte — foi decisivo para a Paramount fechar o contrato com o UFC, superando gigantes da mídia como Netflix, Warner Bros, YouTube e Amazon.
Segundo Ariel Helwani, principal jornalista nos EUA especializado em esportes de combate, a Paramount buscava mais do que simplesmente transmitir um esporte: queria se tornar no ponto de encontro para fãs de uma modalidade. Atingiu esse objetivo se transformando na principal referência dos esportes de combate nos EUA.
Há outras vantagem no negócio. Uma das características que diferenciam o UFC de outras organizações e associações esportivas é assumir a responsabilidade por todos os aspectos do evento — da contratação dos atletas à organização e transmissão dos cards e, em países como o Brasil, também pela distribuição direta do conteúdo ao público por meio do aplicativo UFC Fight Pass.
O contrato com o UFC deverá atrair para a audiência da Paramount esse segmento específico de fãs nos EUA, ao mesmo tempo em que apresentará a marca da organização e seu produto para novos espectadores por meio da transmissão em TV aberta. Segundo reportou Helwani, a empresa tem a intenção de fazer contratos para transmitir em outros países.
Made in Brazil
Originalmente brasileiro, nascido há cerca de um século, o MMA revelou lendas do esporte como Anderson “Spider” Silva, Rodrigo Minotauro, Junior Cigano, Wanderlei Silva, Lyoto Machida e Vitor Belfort. Atualmente o principal atleta da organização é o paulista do ABC e ex-borracheiro, Alex “Poatã” Pereira.
As raízes do UFC estão no Rio. No início do século 20, praticantes de jiu-jítsu, luta livre, capoeira e outras modalidades se enfrentavam na cidade, muitas vezes em locais improvisados como praias e academias. Esses encontros passaram a ser chamados de “vale-tudo” porque não havia limite de peso ou tamanho, e valia tudo — exceto mordida e dedo no olho.
A família Gracie levou o conceito para os EUA. Em 1993, Rorion Gracie criou o UFC com outros sócios para expor o jiu-jítsu brasileiro e testar a eficácia de diferentes estilos de artes marciais em combate livre.
Em 2001, a Semaphore Entertainment Group — posteriormente Zuffa LLC — comprou o UFC praticamente falido por US$ 2 milhões. Em 2016, eles venderam a organização para o grupo Endeavor por cerca de US$ 4 bilhões.
Luta política
O sucesso do UFC é, em grande parte, fruto da visão de seu presidente, Dana White, amigo pessoal de Donald Trump. A empresa acumulou dívidas por anos até encontrar a virada de chave na transformação da indústria da mídia.
Como nenhum canal queria transmitir o UFC, White aproveitou a onda dos realities e lançou, em 2005, o programa The Ultimate Fighter (TUF). Lutadores foram divididos em duas equipes, e o programa funcionou como peneira para que os vencedores assinassem contrato com a organização. Mais de 1,9 milhão de pessoas assistiram à luta final — um resultado surpreendente para um evento de baixo custo.
O UFC também surfou na polarização política, na guinada conservadora e na reação à cultura woke e ao identitarismo. Entre os segmentos decisivos para a reeleição de Trump estão homens de 18 a 34 anos — o mesmo público que compõe a base da audiência da organização.
Trump e White cultivam uma amizade de duas décadas, iniciada quando o atual presidente abriu suas casas de espetáculo para o UFC e prestigiou seus cards. Agora, essa relação levará a Casa Branca — símbolo máximo do governo dos EUA — a se transformar em palco para um card especial do UFC em 2026, possivelmente no simbólico dia 4 de julho, durante as comemorações dos 250 anos da independência americana.
Analistas apontam que a relação do UFC com Trump e o anúncio desse evento inusitado intensificaram as especulações sobre o valor do novo contrato de direitos de transmissão e sobre qual empresa faria a maior oferta para vender anúncios em uma celebração nacional com o presidente como protagonista.
Fala, mano
A chamada “manosphere”, ou bolha masculina, tem como estrela Joe Rogan, comentarista e entrevistador do UFC, praticante de artes marciais e criador do Joe Rogan Experience, o podcast mais popular do mundo. Não por acaso, em seu primeiro discurso como presidente eleito em 2024, Trump convidou White para falar, e ele agradeceu ao “poderoso Joe Rogan”.
White já havia apresentado Trump na convenção republicana que confirmou sua candidatura. E o primeiro evento público a que compareceu após a eleição foi um card do UFC, levando a audiência ao delírio e interrompendo a narração pelo barulho.
Quando deixou o país em 2022 para não entregar a faixa presidencial a Lula, o ex-presidente Jair Bolsonaro hospedou-se em Orlando, na mansão do lutador do UFC José Aldo Junior, uma das maiores estrelas brasileiras da organização.
Conhecido como “Campeão do Povo” pela torcida, Aldo foi um dos atletas de MMA que se destacaram no período em que o UFC era transmitido no Brasil pela TV aberta e por canais fechados do grupo Globo. Em 2016, sua trajetória — da periferia de Manaus ao estrelato — foi contada no filme Mais Forte que o Mundo.
Em uma pesquisa que coordenei na consultoria Nosotros, analisamos os perfis das pessoas que seguem e/ou são seguidas pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. A princípio, Michelle é identificada como uma referência para evangélicos, especialmente para as mulheres. Mas identificamos outros subgrupos que se destacam: entre eles, os de artistas marciais.
Um dos quatro subgrupos em destaque no estudo sobre as conexões de Michelle foi apelidado de “guerreiros da bola e da fé”. Formado principalmente por homens atletas e ex-atletas do futebol e do MMA, o grupo defende políticas armamentistas e comenta com frequência sobre armas e segurança pública.
A audiência desses esportistas influenciadores são homens jovens que vêm perdendo prestígio social, que se informam pela internet, muitos deles autônomos e que se aproximam de igrejas evangélicas e do cristianismo pela defesa do conservadorismo de valores. Minotauro, ex-estrela da organização e comentarista, frequentemente faz menção ao pastor André Fernandes, líder da Lagoinha Alphaville.
A proximidade entre Trump e o UFC e, mais recentemente, o contrato para transmitir o evento na TV aberta nos EUA são pistas para compreender melhor essa audiência — um público fora do radar da grande mídia, que muitas vezes reduz competições de MMA à imagem de mera violência gratuita.
Há muito mais a ser explorado e entendido sobre esse fenômeno. Especialmente no país em que esse fenômeno nasceu e foi exportado para o mundo.
O mundo de Rivane
Abriu no Itaú Cultural nesta semana a exposição Brasil de Susto e Sonho: um Panorama da Obra de Rivane Neuenschwander, que reúne 30 anos da produção da artista visual mineira, disposta ao longo de três andares até 2 de novembro. Concebida como um percurso panorâmico pela trajetória de Rivane, a mostra traz trabalhos em diferentes suportes, incluindo pintura, instalação, vídeo, escultura e desenho. Além de obras consagradas, mostra também inéditas como a peça Apocoplástico, deste ano, e instalação Dream.lab/São Paulo, que inaugurou o espaço cultural austríaco KinderKunstLabor e é apresentado pela primeira vez no Brasil.
O interessante da obra de Rivane é trabalhar diferentes camadas de pensamento, indo de investigações que tocam o mais íntimo da subjetividade à política. Não à toa a definição que deu de sonho é “uma espécie de último reduto subjetivo capaz de resistir, ainda que não completamente, à colonização generalizada dos sujeitos pelo capitalismo. A preservação do espaço onírico deve ser um ato político por excelência, pois garante a existência de uma subjetividade que não é inteiramente funcional ao mercado, não obedece às mesmas regras temporais da vida em vigília, não se presta à captura incessante de nossa atenção e não sofre um bombardeio sem fim de estímulos de toda ordem.” Leia abaixo os principais trechos da entrevista.
Como a dualidade entre o “susto” das realidades políticas e sociais e a potência do “sonho” como ferramenta de luta e imaginação costura sua trajetória de mais de 30 anos, conectando obras poéticas como Eu Desejo o Seu Desejo com trabalhos mais explicitamente políticos como Reviravolta de Gaia?
Tive a sorte de trabalhar com a curadora Fabiana Moraes, que traz o susto em contraponto ao sonho numa dualidade e não na binariedade, que enxerga o revide como gesto transgressor. Por minha vez, venho trabalhando a ambiguidade há algum tempo, algo que percebi, justamente, no trabalho Eu Desejo o seu Desejo. Uma ideia um tanto sombria parecia se esconder atrás dos desejos formulados pelas pessoas. Por exemplo: eu desejo morrer cercado por aqueles que amo. Tal enunciado evidencia o terror da solidão ao morrer. A partir dessa percepção surge o trabalho O Nome do Medo, que por sua vez desemboca na Reviravolta de Gaia, projeto mais ambicioso e que envolve um número grande de colaboradores/amigos, além de ser quase (ou totalmente) panfletário. Em relação ao sonho, o trabalho Dream.Lab na verdade retoma um projeto muito antigo, que fiz em Salvador em colaboração com uma turma de adolescentes do Projeto Axé, nos anos 2000. Em 30 anos, muitas coisas aconteceram tanto no âmbito do micro quanto do macro: tive filhos, morei fora do Brasil por um tempo considerável, atravessamos uma pandemia, quase sofremos um novo golpe de Estado, lidamos com múltiplas guerras e o colapso climático. Tudo isso nos modifica incessantemente e o trabalho vai tomando formas outras. Mas as questões iniciais parecem permanecer as mesmas: a morte, a natureza, o outro, o desejo, a política, o tempo, a infância.
Você descreve sua prática como um “materialismo etéreo”, dando forma a conceitos intangíveis com materiais frágeis e cotidianos. Como essa escolha estética, que marca o início de sua carreira, se transforma e ganha novos significados ao abordar temas politicamente mais densos, como a violência em Notícias de Jornal ou a crise ambiental em Eu sou uma Arara?
O termo materialismo etéreo foi cunhando por um curador alemão e fiquei anos tentando me desvencilhar dele (risos). A escolha pela efemeridade dos materiais no começo da minha carreira estava ligada a essa fragilidade e violência da vida de uma maneira quase filosófica, mas aos poucos fui me afastando dessa pesquisa, que por sinal era bem atrelada à natureza como agente ativo dos trabalhos. Tenho vontade de voltar para esse lugar, mas não sei se conseguiria. Na mostra do Itaú Cultural, a maioria dos filmes fazem parte desse universo. Já as pinturas de Notícias de Jornal partem de ex-votos, ou seja, trazem a religiosidade para o centro do debate, ao mesmo tempo em que se apagam os santos para dar lugar ao ovo (o ovo metafísico de Clarice ou o ovo concreto de João Cabral, mas nunca um ovo simbólico ou esotérico), que também é uma bolha, flutuando como uma testemunha insuspeita de um crime que acaba de acontecer. O ambiente é doméstico, algo que remete ao cotidiano, o tempo aparece no sangue que escorre, os nomes de mulheres nos títulos denunciam a tragédia do feminicídio que infelizmente não cessa em nosso país. Já o filme Eu sou uma Arara, feito em parceria com a cineasta pernambucana Mariana Lacerda, parte de um processo coletivo, enfrenta a urgência política de um tempo delicadíssimo no nosso país – as eleições de 2022 – e tenta se implicar em uma transformação social mais imediata. É também uma espécie de mecanismo de defesa, um dispositivo anti-depressivo em grupo, uma reação construtiva contra as forças reacionárias que assolam nosso país, contra o desmonte ambiental e contra a ameaça à nossa democracia, coisa que ainda perdura nos dias de hoje.
A participação do outro — seja o espectador, uma criança ou até mesmo agentes não-humanos como as formigas em Quarta-Feira de Cinzas/Epílogo — é central em sua obra. Ao abrir mão do controle total e da autoria singular, que tipo de declaração política você faz sobre poder, agência e criação coletiva, especialmente em um mundo cada vez mais individualista e polarizado?
A minha própria percepção em relação à alteridade já mudou muito, felizmente por conta mesmo da atuação do “outro” sobre os trabalhos e como isso reverbera em mim. No começo eu achava que o outro entrava no meu trabalho por uma manobra inconsciente qualquer e que servisse para me isentar de alguma responsabilidade e, por consequência, de um sentimento atávico de culpa. Hoje consigo até mesmo ter uma leitura feminista sobre esse sentimento de inadequação. De toda sorte, aos poucos fui percebendo a camada de afeto indiscutível em todas essas trocas, seja com amigos de décadas, seja com crianças em um único dia. Ou seja, a força que têm determinados encontros de qualidade, a despeito da quantidade. Por outro lado, padeço de negociações éticas internas intermináveis, uma vez que tenho a consciência de que abarco um quinhão de subjetividade alheia. Então, para cada trabalho, negocio comigo mesma uma espécie de compensação e retribuição para aqueles e aquelas que me ajudaram de alguma maneira. De toda sorte, gosto muito de ter a obra aberta ao outro, mesmo que isso seja exaustivo em termos de manutenção de uma obra. Mas isso fala tanto de uma generosidade mútua quanto de um desprendimento geral e também uma crença na arte como sendo algo bem próximo da vida. A incorporação do outro parece algo quase utópico em um mundo tão individualizado.
Como você navega a fronteira entre a prática artística e o ativismo político? De que maneira você busca manter o rigor estético e a complexidade poética de sua obra ao mesmo tempo em que responde de forma direta e urgente às crises ambientais e de direitos humanos no Brasil?
Não há uma regra definida e nem contornos específicos. Muitas vezes o ativismo político se dá organicamente, conforme o coletivo exige, e sendo assim a manufatura se dilui nas colaborações com outras pessoas. Gosto de ser convocada ao ativismo, sinto que é uma maneira mais direta de atuar sobre tudo o que nos aflige. É também uma maneira de estar diante dos meus filhos, pois me preocupo com o mundo inviável que vamos deixar para as novas gerações. No mais, prezo muito pela formalização dos trabalhos, acredito no embate com a matéria, que impõe seu tempo e seus caprichos. É preciso extrair da matéria e dos objetos aquilo que se encontra esmaecido aos nossos olhos, mas brilhante no interior das coisas.
Em primeira mão: na quinta-feira (21) , o episódio 1 — A Democracia Não Descansa Jamais — do documentário Democracia: Uma História Sem Fim estará aberto no YouTube do Meio por apenas 72h. Às 18h30 começa o esquenta especial com Pedro Doria, Ricardo Rangel e Christian Lynch para revelar bastidores da produção e debater a trajetória e os desafios democráticos. Participe dessa conversa ao vivo.
De pantufa a couve-flor, de Bolsonaro a Lula, passando por Felca. Os links mais clicados da semana pelos leitores do Meio expressam bem a variedade do nosso conteúdo:
1. YouTube: Ponto de Partida — Quem ainda quer Bolsonaro?
2. Folha: Quem é Felca?
3. g1: Pantufas feitas de lixo.
4. BandNews: Reinaldo Azevedo entrevista o presidente Lula.
5. Panelinha: Um risoto de queijo com couve-flor cremoso e crocante.