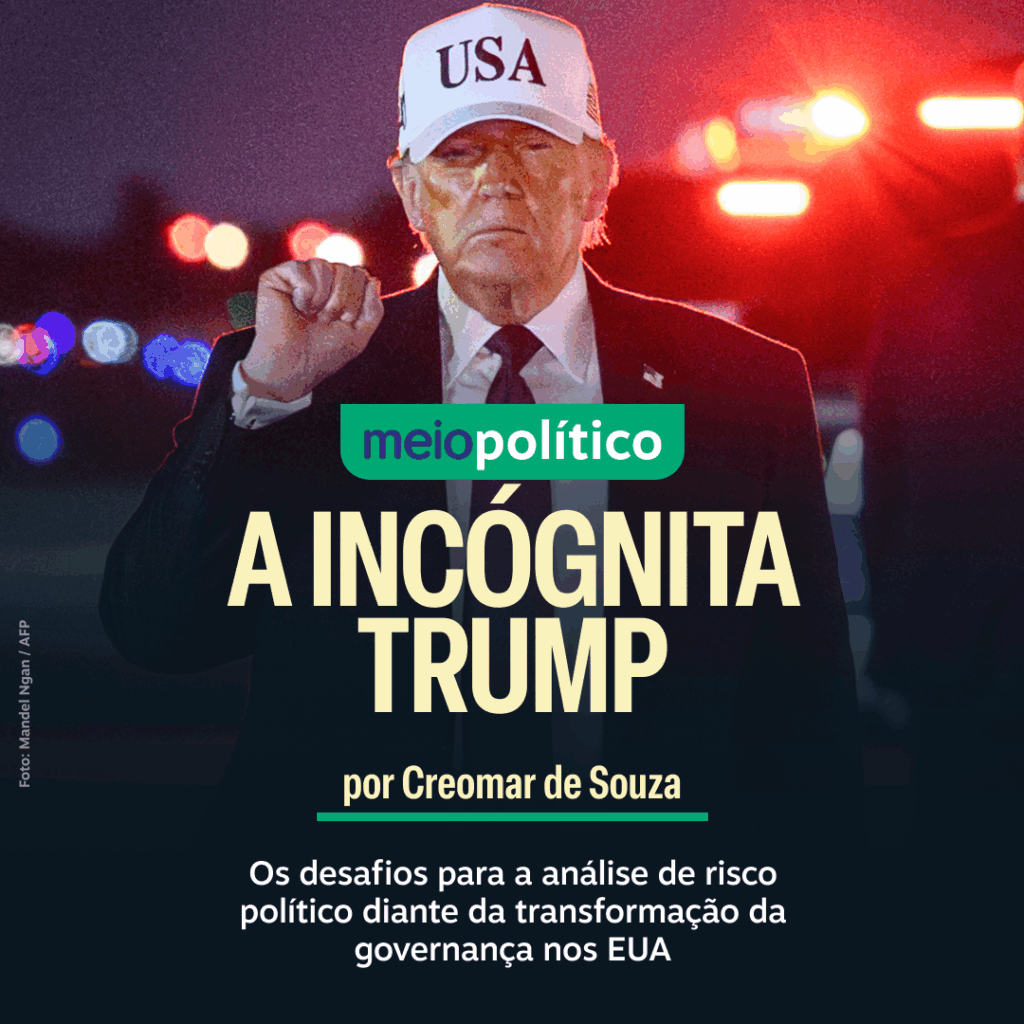Edição de Sábado: Côncavo e convexo

Receba as notícias mais importantes no seu e-mail
Assine agora. É grátis.
“Hoje é um dia que vai mudar muito a nossa imagem no Brasil. A imagem do Senado Federal. Eu não tenho nada contra a Câmara, tenho muitos amigos e amigas lá. Mas, no cafezinho, o apelido da Câmara é rodoviária, e o nosso é aeroporto”, disse o senador Jorge Kajuru (PSB) naquela sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), presidida pelo senador Otto Alencar (PSD), na quarta-feira. A mesma que, por unanimidade, sepultou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 3/21, conhecida como PEC das Prerrogativas. Ou da Blindagem. Ou da Bandidagem. Ou da Impunidade. A que condicionava a abertura de qualquer processo criminal contra parlamentares ao aval dos próprios parlamentares — e em votação secreta. E ampliava, ainda, o foro privilegiado aos presidentes nacionais de partidos.
Na comparação de Kajuru, a rodoviária é o vai-e-vem desordenado, o barulho, a pressa, a bagagem desleixada. O aeroporto, o controle, a triagem, o embarque filtrado. No mundo real, talvez esta imagem não se sustente. Há uma série de rodoviárias com mais estrutura do que certos terminais aéreos, e aeroportos onde o caos embarca sem passagem. Ainda assim, a distinção entre o côncavo e o convexo das Casas deu a tônica naquela manhã: um operava na lógica do fluxo desgovernado que atropela os interesses da população; o outro tentava — ou emulava — o controle institucional.
“Então, que ela continue rodoviária, e que a gente tenha hoje uma atitude de aeroporto”, provocou Kajuru. Antes dele, alguns senadores já haviam votado. Seguindo o rito, coube ao relator, Alessandro Vieira (MDB-SE), abrir os trabalhos: “essa é a PEC que definitivamente abre as portas do Congresso Nacional para o crime organizado”. Ao recomendar a rejeição completa da proposta, Vieira mergulhou na história do Legislativo. Lembrou o período entre 1988 e 2001, quando vigorava a regra que exigia autorização prévia das Casas para processar criminalmente um parlamentar. Em treze anos, apenas um processo foi autorizado, entre mais de 200 pedidos: em 1991, contra o então deputado Jabes Rabelo (PTB), acusado de receptação de veículo roubado.
O relator seguiu, então, apontando possíveis ilegalidades na PEC e mencionando as ações já ajuizadas no Supremo Tribunal Federal (STF) para questionar sua validade jurídica. Por fim, Vieira recorreu à literatura, citando um trecho do opus magnum de Guimarães Rosa, Grande Sertão: Veredas. “‘A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem’”, evocou. Dirigindo-se a Otto Alencar, completou: “Vossa excelência teve a coragem cívica de pautar, com a urgência devida, essa matéria absurda. E eu confio que o plenário da Comissão também terá coragem de rejeitar a PEC da Blindagem, virando essa página triste do nosso Legislativo e homenageando a vontade popular brasileira, que clama por mais justiça.”
Todos os votos que se seguiram acompanharam o relator. Os discursos, um a um, foram como pás de cal sobre a proposta. Não houve margem para qualquer impasse que a levasse para discussão em plenário.
O senador Renan Calheiros (MDB) não teve tempo hábil para esperar o desfecho da votação. Da sala 5 da ala Alexandre Costa, saiu apressado rumo à sala 19, onde presidia outra sessão: a da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). Lá, também por unanimidade, foi aprovado o projeto que isenta do Imposto de Renda (IR) quem ganha até R$ 5 mil por mês. O teor da proposta, aprovada em caráter terminativo, é a menina dos olhos do governo Lula — um aceno ao contribuinte comum, ao eleitorado que pode garantir sua reeleição no ano que vem.
Não se trata, porém, do texto encaminhado originalmente pelo Executivo ao Congresso. Aquele foi enviado à Câmara, mas desde então adormece numa gaveta da presidência da Casa, sob a guarda de Hugo Motta (Republicanos), sucessor de Arthur Lira (PP) — que, aliás, é o relator da proposta na Casa.
Ao levar o tema para votação no Senado, Calheiros foi direto: decidiu avançar por conta da demora da Câmara. Deixou a CAE sorridente e, no Túnel do Tempo — a passagem que liga o edifício principal ao Anexo II do Senado —, comemorou a vitória, sem poupar críticas aos deputados. “Essa gente perdeu completamente a noção de limite com a PEC da Blindagem, com a anistia a crimes contra o Estado Democrático de Direito, e agora com a isenção do Imposto de Renda”, disparou.
“Ontem, na reunião com o Hugo Motta, setores do Centrão defenderam que a isenção só valesse a partir de 2027, alegando que não poderia valer no ano da eleição. Como se o contribuinte que ganha até R$ 5 mil por mês pudesse esperar dois anos para ter o benefício de uma tabela que já deveria ter sido atualizada há anos”, seguiu Calheiros. “Então, coincidentemente, estão juntos no mesmo propósito: os que querem anistia para crimes contra a democracia, os que querem blindar deputados e senadores por crimes — o que contaminaria definitivamente o Congresso Nacional — e os que querem postergar as fontes de compensação do projeto de isenção.” A bandeira da moralidade estava hasteada.
De outros tempos
Polido que só, àquela altura era quase possível esquecer que o mesmo Senado, também em uma quarta-feira, já fora palco de um assassinato no melhor estilo Faroeste Caboclo. Foi em 4 de dezembro de 1963, quando o então senador por Alagoas, Arnon de Mello — pai do adolescente Fernando Collor, que décadas depois se tornaria o primeiro presidente eleito após a ditadura — sacou um revólver calibre .38 em pleno plenário e disparou contra seu desafeto político, Silvestre Péricles, ex-governador e adversário direto em Alagoas.
A briga era antiga. E a cena, rápida demais para ser contida: Arnon subiu à tribuna, acusou o rival de tê-lo ameaçado de morte, e Silvestre avançou aos gritos, dedo em riste. Um “filho da puta!” ecoou nas galerias antes que o primeiro tiro fosse disparado. No meio da confusão, parlamentares se jogaram ao chão, armas foram sacadas dos dois lados, a campainha da Casa tocava em disparada… até que um corpo caiu.
Não era o de Silvestre. Tampouco o de Arnon. Era o do senador acreano José Kairala, suplente em seu último dia em exercício, alvejado, ao tentar apartar a briga, na frente dos três filhos pequenos, da esposa grávida e da própria mãe. Todos estavam arrumados com roupas de festa para prestigiar sua sessão final. Levado ao hospital, morreu horas depois. Arnon foi julgado e absolvido sob a alegação de legítima defesa. Saiu livre. Sem perder um único dia de funcionamento, a Casa Alta limpou o sangue e seguiu – sendo outras tantas vezes o fiel da balança no equilíbrio institucional.
Aliás, o mesmo Senado que isentou o pai impôs um preço ao filho. Após milhares de manifestantes tomarem as ruas com rostos pintados e vestidos de preto, já no final de 1992, uma sessão presidida pelo então presidente do STF, Sidney Sanches, selou o destino de Fernando Collor: ele foi considerado culpado por crime de responsabilidade, acusado de utilizar cheques fantasmas para pagar despesas pessoais, como a reforma da Casa da Dinda e a compra de um Fiat Elba. E foi efetivamente impeachmado.
Mais de quinze anos depois, o Senado voltou a responder ao clamor público, que conseguiu entregar ao Congresso 1,6 milhão de assinaturas de apoio ao projeto Ficha Limpa — mobilização coordenada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Por 76 votos a zero, sem abstenções, aprovou em 2010 a Lei da Ficha Limpa (PLC 58/10), que ampliou as hipóteses de inelegibilidade, estabelecendo filtros mais rigorosos para políticos condenados em decisões colegiadas.
E quando as ruas foram silenciadas pela pandemia de covid-19, quando os gritos — sem ar — foram sufocados, as panelas cantaram nas janelas de todo o país. E o Senado agiu novamente. A CPI da Pandemia, presidida por Omar Aziz e relatada por Renan Calheiros, investigou falhas e omissões do governo federal. Foram 67 sessões, mais de 22 mil minutos de transmissão, 251 quebras de sigilo e 1.062 requerimentos aprovados. O relatório final recomendou o indiciamento de 78 pessoas e duas empresas, inclusive do então presidente Jair Bolsonaro, por crimes como prevaricação, infração de medidas sanitárias e crimes contra a humanidade – e foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República, que o engavetou. Na semana passada, o ministro Flávio Dino, do STF, determinou que a Polícia Federal investigue.
Desta vez não foi diferente. A pressão veio das ruas.
Da Paulista à Copacabana
Foram 42,4 mil. Rostos jovens e velhos, vozes que ecoavam e cartazes levantados: esse foi o contingente que tomou a Avenida Paulista no começo da tarde de domingo, em protesto contra a PEC da Blindagem e o PL da Anistia em São Paulo. O Monitor do Debate Político, do Cebrap, junto com a ONG More in Common, fez a contagem: fotos aéreas e algoritmos que contam cabeças como quem ilumina constelações humanas.
Não muito longe dali, no Rio, Copacabana virou palco da intervenção política-musical: cerca de 41,8 mil pessoas se reuniram para dizer não. No trio elétrico, Chico Buarque, Gilberto Gil, Djavan e outros artistas cantavam, emocionando a multidão.
Os atos se espalharam pelas 27 capitais — capitaneados pela esquerda, mas não restritos a ela. “É uma insatisfação do Brasil”, disse o senador Omar Aziz (PSD). Segundo ele, já havia decisão do partido, uma semana antes, de votar contra, mas os protestos serviram para consolidar a urgência. “Os atos de domingo reforçaram. Muita gente mudou de opinião depois dessa movimentação. Ao menos nós, do meu partido, já tínhamos uma opinião formada.” Quando questionado quem teria mudado de opinião, silenciou.
Mas há vozes que esbravejam nos corredores da Casa Alta e fazem piada. O senador Esperidião Amin (PP), um dos expoentes da direita, afirmou que a PEC ficou com “catinga de vaca molhada”. “Foi contaminada por três erros gravíssimos. (…) Primeiro, estenderam para todo crime; segundo, incluíram presidentes de partidos; e terceiro, ressuscitaram o voto secreto, que já morreu em 2001. Na minha terra, dizemos que é como você botar o terno de domingueira e encostar em uma vaca molhada — essa catinga não sai fácil.”
Não mesmo. O peso da insatisfação tornou-se um corpo denso, a ponto de alguns deputados que aprovaram a PEC se redimirem publicamente. Na Câmara, foram 344 votos favoráveis contra 133 contrários. Se muitos agora se arrependem e senadores dos mesmos partidos rejeitam o texto no Senado, onde ela se perdeu?
O senador Jorge Seif (PL) admite não ter respostas. “A ideia era boa na origem. Mas o bolo foi recheado de veneno — voto secreto, presidentes de partidos, deputados estaduais. Virou um Frankenstein.” Perguntado sobre quem adicionou o veneno, desconversou, disse não saber. Em vez de tentar “corrigir o Frankenstein”, propõe agora uma versão restrita da proposta: blindagem apenas para crimes contra a honra. Por isso, voltou atrás em seu posicionamento.
À esquerda, o senador Humberto Costa (PT) oferece outro quadro: “Se não tivesse havido essa força expressiva da opinião pública, alguns senadores teriam sido favoráveis. Muitos estavam constrangidos em votar”. Ele culpa alguns vícios institucionais — emendas parlamentares que desacoplam mandatos da voz popular, voto proporcional que distancia o eleitor —, e avisa que o desgaste com a PEC, agora “enterrada a sete palmos”, ameaça atingir também o PL da Anistia, emperrada pelo impasse entre Motta e Davi Alcolumbre (União), presidente do Senado.
Como relatamos na última Edição de Sábado, a PEC da Blindagem ressurgiu na Câmara após um acordo entre a oposição bolsonarista e o Centrão. O trato previa a aprovação da blindagem e, posteriormente, a concessão de uma anistia ampla, geral e irrestrita aos envolvidos nos atos golpistas. Se essa transação tivesse sido bem-sucedida, Jair Bolsonaro (PL) escaparia da prisão, e cerca de 80 inquéritos em andamento no STF sobre desvios de emendas parlamentares seriam suspensos. As negociações também teriam avançado na Casa ao lado, com Alcolumbre, que se comprometera, como circulam nos bastidores, a pautar a PEC da Blindagem no plenário. No entanto, o acordo desmoronou diante da pressão popular, que se fez sentir na CCJ.
O rompimento do trato fomentou ressentimentos. Ao não prolongar o tempo de vida da matéria, Alcolumbre transferiu todo o desgaste para a Câmara dos Deputados. Expôs o Centrão. A falta de transparência nas negociações e a exposição das manobras do grupo minaram a confiança entre as duas Casas. Por isso, cresce a ideia de retaliação: deputados começaram a pressionar Hugo Motta para que “dê o troco” no Senado, paralisando futuras votações.
Parlamentares temem, ainda, aprovar a anistia na Câmara apenas para vê-la ser tombada no Senado. Ficariam, mais uma vez, de mãos atadas. A tensão aumentou quando uma reunião reservada entre Motta, Alcolumbre e Paulinho da Força (Solidariedade), relator do PL da anistia, foi cancelada de última hora. Oficialmente, alegou-se conflito de agenda de Alcolumbre, mas nos corredores sabe-se que a razão é outra, bem mais desconfortável. Para destravar a dosimetria, cabe agora a Paulinho desatar esse nó apertado. Enquanto isso, Motta engole o nó na garganta, enquanto Alcolumbre, por ora, preocupa-se apenas em dar um bom nó na gravata.
O mundo acaba, mas a pose dos bilionários fica
Em 2016, quando Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos pela primeira vez, Barack Obama procurou consolar as filhas dizendo que “nada é o fim do mundo, a não ser o fim do mundo”. Os personagens de O Refúgio Atômico, série espanhola que chegou à Netflix no último dia 19, querem acreditar que até o fim do mundo é escamoteável.
Criada por Alex Pina e Esther Martínez Lobato, os mesmos cérebros por trás de A Casa de Papel e Berlim, a série dividiu os críticos, mas, com menos de uma semana de exibição, chegou ao primeiro lugar da plataforma em 46 países, inclusive o Brasil, o que abre caminho para uma ainda não confirmada segunda temporada. Em apertadíssima síntese, a trama é um cruzamento de Fallout com White Lotus, respectivamente da Prime Video e da HBO. As famílias mais ricas da Espanha (fora a família real, claro) se refugiam em uma mistura de superbunker com resort de luxo para se proteger de uma crescente crise nuclear entre a Otan e a Rússia.
Em uma bem montada sequência de passagem de tempo logo na abertura, somos apresentados a Max Varela (Pau Simón), neto da bilionária Victoria (Montse Guallar), praticamente uma Odete Roitman espanhola. Acompanhamos desde a infância o despertar de seu amor correspondido por Ane (Mónica Mara), filha de Guillermo Falcón (Joaquín Furriel), melhor amigo de seus pais e tão podre de rico quanto sua avó. Em uma noite tempestuosa, dirigindo embriagado, Max provoca um acidente que mata Ane e o manda para a prisão. Lá, vai evoluir de riquinho saco de pancadas para macho alfa bom de briga, até receber um inesperado indulto por bom comportamento — o que o faz rir da ironia. Do lado de fora da prisão, seu pai, Rafa (Carlos Santos), o aguarda aflito, e é aí que a trama realmente começa.
Os dois são os últimos a entrar em Kimera, um luxuoso bunker construído centenas de metros abaixo de um lago. Financiado pelos próprios ricaços, o complexo é criação da rígida Minerva (Miren Ibarguren) e seu irmão, o savant autista Ziro (Álex Villazán), criador de Roxan, a inteligência artificial que controla o local. Por questões de segurança, todos usam uniformes padronizados e pulseiras para monitorar os sinais vitais, mas as distinções de classe são mantidas: os ricos hóspedes se vestem de turquesa; os empregados, de âmbar, a mesma paleta de cores do cenário. Celulares são entregues na chegada para evitar que sejam rastreados e denunciem aos meros mortais a localização do refúgio.
A chegada de Max é traumática. Já estão lá Guillermo Falcón, sua filha caçula e agora única, Asia (Alícia Falcó), e sua segunda esposa, a modelo Mimi (Agustina Bisio). A primeira mulher cometeu suicídio pouco depois da morte de Ane, o que só fermenta o ódio que pai e filha sentem pelo rapaz, apesar de as famílias permanecerem ligadas.
Para todos os efeitos, a situação é temporária. Tão logo a diplomacia supere a crise, todos voltarão para suas mansões. Mas o impensável acontece: a tensão desemboca em ataques nucleares de parte a parte. Mesmo no subsolo, o bunker é sacudido pelos tremores das explosões, enquanto os hóspedes observam, horrorizados, imagens dos cogumelos atômicos da telas de TVs. Uma malfadada tentativa da consertar equipamentos de comunicação externos mostra que deixar o bunker é uma sentença de morte. Eles estão ali para ficar.
Tudo normal da anormalidade
Pina e Lobato passam os oito episódios pulando de gênero em gênero, mantido o pano de fundo do confinamento do bunker. Há comédia, há drama, há ação, há pancadaria, há romance, há ficção científica, há muito sexo — a nudez, porém, se limita a nádegas masculinas — e há, acima de tudo, normalidade, e talvez seja a parte mais chocante da série. Embora a trama se concentre nos Varela e nos Falcón, o comportamento geral dos hóspedes, passado o choque inicial, remete muito mais a férias que a sobrevivência. Seguem tomando seu uísque caríssimo no bar, passeando com seus cães (sim, eles deixaram pessoas de fora, mas levaram os animais de estimação), indo à academia, reclamando de terem de se servir no buffet cinco estrelas etc.
Salvo uma cena em que Guillermo lista nove amigos e reconhece que salvá-los teria custado uma ínfima parte de sua fortuna, não se vê preocupação com os bilhões de pessoas que podem ter morrido na superfície. Victoria, que tem um câncer terminal e levou a tiracolo o enfermeiro para lhe aplicar adesivos de morfina, não abre mão um milímetro do hedonismo e de demonstrar os profundo desprezo por quem lhe é inferior, a começar pelo genro. Apenas Asia, estudante de medicina, demonstra empatia, especialmente após uma fatalidade a transformar na única profissional médica do complexo.
Há, porém, um ponto no distanciamento dos super ricos em relação à realidade que, para o espectador atento, compromete a construção da história: a ausência de preocupação com o próprio patrimônio. Dali a dez anos, quando estima-se ser seguro deixar Kimera, não haverá mais mercado financeiro ou corporações. Suas propriedades serão, na melhor das hipóteses, ruínas. Ou seja, eles só continuam super ricos enquanto estiverem no bunker, o que talvez explique a naturalidade com que todos, exceto Max, encaram o controle cada vez maior exercido por Minerva.
Ao fim da temporada, todos os relacionamentos foram virados ao avesso. Segredos foram revelados, relacionamentos acabaram, outros começaram, ódios viraram amores e vice-versa. Para salvar uma vida, Max e Asia vão botar em movimento um plano que viola todas as regras do bunker e os coloca diretamente em risco, deixando no espectador a vontade de saber logo como vai se desenrolar a trama.
Escala monumental
Como foi dito, a segunda temporada de O Refúgio Atômico ainda não foi confirmada oficialmente, mas é pouco provável que não se concretize. Primeiro pelo enorme sucesso e pelo fascinante plot twist apresentado na primeira temporada, que faz o público querer mais. Segundo por todo o investimento feito até agora na série. Os sets de filmagem ocupam uma área de 7 mil metros quadrados, o maior estúdio já montado na Espanha, com 160 cenários diferentes, que exigiram mais de sete meses de construção. Pela primeira vez, uma produção espanhola usou câmeras já equipadas com VFX, os efeitos especiais digitais, normalmente adicionados na pós-produção. Isso foi possível graças a uma ferramenta de código aberto chamada Open VPCal, desenvolvida pela própria Netflix ao longo de dois anos e que deve ser levada para produções em outros países.
O Refúgio Atômico de certa forma representa o que a Netflix oferece de melhor, a ampla variedade de produções internacionais, refletindo estilos de narrativa, características culturais e panos de fundo os mais díspares, mas elevados a um padrão de qualidade até então pouco acessível. Para quem cresceu entre enlatados americanos (muitos clássicos, é verdade) e tosqueiras mexicanas, é uma melhora mais que bem-vinda.
Sentidos aguçados
O estudioso da arte e escritor camaronês Bonaventure Soh Bejeng Ndikung é o curador-chefe da 36ª Bienal de Arte de São Paulo. Talvez o que ele traga de mais importante para esta edição seja um esforço para romper com a visão pré-concebida de exposição de arte. Isso se dá de muitas maneiras, desde as práticas — as identificações das obras, embora existam, não estão tão evidentes —, até as mais sutis, que são propostas de explorar o pavilhão da Bienal com os sentidos aguçados.
Ou, como me disse na entrevista que deu desde Berlim, onde vive: “Na cultura ocidental, você tem cinco sentidos. Como o sentido da visão, para o qual se fazem primordialmente as mostras. Em tantas outras culturas, dizem que há mais de 40 sentidos. Alguns externos e muitos internos. A questão sobre a qual nos debruçamos é a do sentido. Você pode fechar os seus olhos, tapar os seus ouvidos e mesmo assim há outras maneiras de explorar a exposição”, disse.
Leia abaixo os principais trechos da entrevista sobre a mostra gratuita, que fica em cartaz em São Paulo, no Parque Ibirapuera, até 11 de janeiro de 2026.
Como você imagina que a exposição encoraje os visitantes a praticar a humanidade, como proposto no subtítulo da mostra, em vez de só contemplar os trabalhos?
O que eu tento fazer é um trabalho imersivo em que o visitante não é externo à obra, mas parte da obra. O visitante, o espectador, ou ouvinte tem todos os seus sentidos ativados. Então, uma coisa que você pode fazer é caminhar pela exposição desde o primeiro trabalho, de Precious Okoyomon, até a última obra, de Alberto Pitta, e olhar a exposição. Mas também pode caminhar do início ao fim com os olhos fechados e você escuta a exposição. Você também poderia percorrer toda a exposição com seus olhos e ouvidos fechados e cheirá-la. É isso que tentamos fazer. O visitante se torna uma testemunha, parte do processo, porque fazer uma exposição é também um experimento. Então, dessa forma, o visitante é parte do processo de conjugação desse verbo.
Como funciona na prática?
Se você pegar o trabalho de alguém como Laure Prouvost, onde tem as sementes caindo do teto, o visitante praticamente carrega as sementes na sua cabeça ou no seu corpo para outras partes da exposição. Então, você é parte do processo de conjugação. Há muitas dessas coisas que são evidentes, visíveis, mas também muitas que não são vistas e sobre as quais não escrevemos, mas nas quais estamos realmente fazendo uma oferenda ao visitante. Porque toda a exposição é construída com o conceito de generosidade. A generosidade de dar, mas também de receber. Você deve querer receber. Se você vier a essa exposição sem o espírito e a generosidade de receber, então não verá muitas coisas. Mas também é nossa responsabilidade questionar a maneira como fazemos exposições, certo? Essa equação da humanidade como um verbo pressupõe que o visitante que vem também quer pensar além. O visitante deveria perguntar: o que essas pessoas estão oferecendo e eu estou disposto a aceitar?
Há uma crítica pela identificação do artista não estar próxima à obra. Foi sua intenção borrar essas fronteiras?
Sim, exatamente. Não apenas borrar as fronteiras, mas eu dou duas razões adicionais para isso. Uma é que a arte em si é uma linguagem. Artistas passam tanto tempo produzindo obras. Ontem mesmo eu estava em Liverpool numa exposição. Entrei no espaço e sem olhar para a obra comecei a ler o texto na parede. E percebi como isso é injusto com a pessoa que passou tanto tempo produzindo aquela obra. Eu não dou uma chance à obra. Acho que se queremos repensar a maneira como existimos como humanos, temos também que repensar a questão do encontro. Jaques Attali diz que, por 25 mil anos, o ser humano tem tentado ler o mundo, mas o mundo não é legível. E sua proposta, e isso está no seu livro sobre a economia política da escuta de 1977, é de que o mundo é audível. Podemos argumentar que o mundo existe também dentro do olfativo e assim por diante. Mas o que queremos fazer é: como nos afastamos dessa recontextualização evidente de algo que já está apresentado para você? Cada obra tem o nome do artista, o título do trabalho, e um texto sobre ela. A única coisa que não fizemos foi colocar em frente da obra. Nós não escondemos a obra atrás do texto sobre ela. É uma coisa legítima a se fazer e precisamos questionar a história de fazer exposições. Eu vi essa crítica, a reconheço e a respeito. Mas, como curador, se você me convida, também quer que proponhamos algo diferente.
Como assim?
Tive uma experiência interessante durante esses dias. Eu estava fazendo um pequeno tour com uma pessoa muito respeitada no mundo da arte no Brasil. E ele perguntou: “Quem fez esse trabalho?”. Eu disse: “Esse é um trabalho de Théodore Diouf”. Ele disse: “De onde ele é?”. “Do Senegal”, respondi. Ele disse: “Não teria pensado nisso”. Esse é exatamente o problema. Essas políticas identitárias e caixas em que caímos. Se alguém é do Senegal, não significa que a pessoa tem que produzir obras de arte de forma clichê baseada no seu entendimento do que alguém do Senegal deveria estar fazendo. Théodore Diouf é um dos mais importantes artistas modernistas do Senegal. Mas ele escolheu a linguagem da abstração. Ele estava em conversação com artistas de Paris, da Espanha, do Brasil nos anos 1960, 70, 80. Quero que essas conversas aconteçam. Essa é uma coisa. A outra é que tentamos também encenar conversas entre certos trabalhos onde a fronteira entre uma obra e outra é borrada. Quando falamos sobre o encontro de água doce e água salgada e centramos no estuário, também estamos pensando sobre esse tipo de momentos de negociação. Momentos de tensão e momentos de afinidade que acontecem dentro de tais espaços.
Como esta Bienal navega essa herança do estuário, especialmente no contexto brasileiro?
Na termodinâmica, dizemos que energia nunca pode ser destruída. Ela só pode ser transformada de uma forma para outra. Sempre que há fricção, a energia mecânica se transforma em energia térmica. Não precisamos esconder as fricções. Precisamos expô-las. Ao invés da destruição que acontece quando há fricção, podemos destacar a transformação daquela energia mecânica em energia térmica. O estuário é um espaço de tensão. Mas o que é particular sobre ele é que é um espaço de negociação. E então, se você foca no que acontece transformativamente, alguém se adapta a isso. É isso que tentamos fazer ali. Não estamos passando pano. Não estamos dizendo que tudo é bonito. Não. Se você olhar só para São Paulo, é uma cidade na qual você tem algumas das pessoas mais ricas do mundo e ao mesmo tempo uma das cidades com a pobreza mais evidente nas ruas. Como podemos simplesmente passar pano? O que estamos tentando fazer é dizer que, neste espaço onde temos de coexistir, a minha humanidade é contingente à sua humanidade e vice-versa. Não importa o quão rico você seja em São Paulo, se a pessoa na rua não for humana, você também não é.
O que é beleza para você?
Idealmente, eu não preciso responder essa pergunta porque tantas outras pessoas a responderam melhor que eu. Se você me permitir, gostaria de ler um poema de Ben Okri para você, de um livro que chama A Time for New Dreams. Deixe-me ler o final. Ele diz: “A beleza das superfícies e a beleza da profundidade. Beleza na feiura, beleza em como o tempo resolve o mal. Beleza no nascimento e beleza na morte. Beleza no ordinário. Beleza na memória, nas coisas que desaparecem, nas formas percebidas e não percebidas. Beleza nas coisas desajeitadas, inacabadas, arruinadas, quebradas. Beleza na criação e na destruição. Beleza no tempo e na intemporalidade. Beleza no infinito e que abrange tudo antes do início e além do fim”.
Após a condenação de Jair Bolsonaro pelo STF, a história ganhou um novo capítulo. O documentário O Julgamento do Século também. Se você já assistiu, vai lá no streaming para ver o epílogo. Se não, aproveite o fim de semana para dar o play na versão completa do filme.
As manifestações em todo o país contra a PEC da Blindagem e a anistia dominaram a atenção dos assinantes do Meio, com espaço, claro, para o bem-estar e o bem comer. Confira as notas mais clicadas da semana:
1. BBC Brasil: Cobogó: a 'invenção' brasileira de 100 anos que pode ser aliada contra o calor intenso.
2. BBC Brasil: As fotos dos protestos contra a PEC da Blindagem e a anistia para Bolsonaro.
3. Panelinha: O arroz frito com frango e cenoura que reaproveita as sobras e só suja uma panela.
4. Poder360: Esquerda abre bandeira do Brasil onde direita colocou a dos EUA.
5. Meio: No Ponto de Partida, Pedro Doria reverencia os artistas que mobilizaram a população conta a PEC da Blindagem e a anistia.