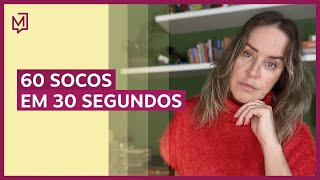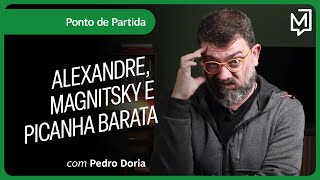As controvérsias de Alexandre
Sem detalhar quais fatos ou pessoas seriam investigadas, o então presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli anunciou a abertura do inquérito 4.781, que viria a ser amplamente conhecido como o inquérito das fake news. Era início da sessão da quinta-feira, 14 de março de 2019. Embora não tenha especificado o objeto da apuração, justificou sua decisão com base em ataques à Corte.
“Considerando a existência de notícias fraudulentas, conhecidas como fake news, denunciações caluniosas, ameaças e infrações revestidas de animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi, que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, seus membros e familiares, resolve, como resolvido já está, nos termos do artigo 43 e seguinte do Regimento Interno, instaurar inquérito criminal para apuração dos fatos e infrações correspondentes em toda a sua dimensão”, declarou da tribuna. Em seguida, designou o ministro Alexandre de Moraes como relator do caso, alçando-o ao centro do debate público pelos seis anos seguintes — e contando. Desde então, muitas das decisões de Moraes vêm sendo questionadas por juristas e pela opinião pública.
O Meio ouviu três grandes especialistas para tentar esclarecer as principais. São eles: Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense (UFF); Davi Tangerino, advogado criminalista e professor de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); e Thiago Bottino, coordenador do curso de Direito da Fundação Getulio Vargas (FGV-Rio).
Entre decisões monocráticas e inquéritos de ofício
As decisões monocráticas tomadas por Alexandre de Moraes à frente dos inquéritos no STF se tornaram parte da rotina, não uma exceção. A prática é comum em casos que envolvem autoridades com foro especial, e a centralização, apesar de criticada, encontra respaldo no funcionamento do próprio tribunal.
“Todas as decisões monocráticas são passíveis de revisão depois por agravo. De um jeito ou de outro, elas são colegiadas no final”, afirma o criminalista Davi Tangerino. Ele vê mais problema na duração indefinida das investigações do que no formato das decisões: “Eu acho muito mais problemático um inquérito originário que não tem fim do que a possibilidade de decisões monocráticas.”
Para Bottino, a responsabilidade pelas decisões no STF costuma ser atribuída exclusivamente ao relator, mas isso não corresponde ao que, de fato, ocorre. “As pessoas tendem a se concentrar na figura do relator, quando ele não é um juiz de primeiro grau. Ele está ali atuando como o responsável pelos atos de gestão, mas várias dessas decisões são tomadas no colegiado.”
Outra crítica recorrente gira em torno dos inquéritos abertos de ofício — ou seja, sem provocação do Ministério Público, como foi o das fake news. Mas, segundo o professor Gustavo Sampaio, esse tipo de iniciativa tem amparo no próprio regimento do STF, desde que os fatos investigados envolvam diretamente a Corte. “Não é que o juiz tenha um poder geral de instauração de inquérito. O artigo 43 do Regimento Interno prevê que, quando crimes ocorrem dentro do Supremo ou em sua cercania imediata, o presidente da Corte pode determinar que a Polícia Federal instaure um inquérito, ou designar outro ministro para isso.” Foi o que aconteceu em 2019. “Havia ameaças à integridade física e moral de ministros e seus familiares. O presidente do Supremo entendeu que o tribunal estava sendo diretamente atacado e designou Moraes para conduzir os desdobramentos. Daí surgiu a percepção — equivocada — de que ele teria instaurado tudo por conta própria.”
Sampaio esclarece que a atuação do ministro Moraes não equivale a uma condução direta das investigações ou da acusação: “Quem investiga é a Polícia Federal, quem acusa é o Procurador-Geral da República, e quem julga é o STF. O ministro Moraes apenas determina que a PF atue, conforme previsto no regimento.”
Tangerino concorda que há base legal, mas faz uma ressalva. “O ordinário seria mandar para o Ministério Público, que é o titular da ação penal. O ideal seria que o Supremo tivesse um papel de supervisão, e não de impulso direto das investigações.”
Concentração de casos
A investigação originada pelo inquérito das fake news, que já teve como alvo políticos, empresários e usuários das redes sociais, permanece em andamento sob sigilo e acabou desencadeando uma série de outras apurações. Dela derivam o inquérito das milícias digitais, a investigação sobre os atos antidemocráticos, os ataques de 8 de janeiro e a consequente tentativa de golpe de Estado atribuída ao ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados.
Um dispositivo previsto no Regimento Interno do STF garante a prevenção de competência, permitindo que um ministro ou uma turma do tribunal siga responsável por casos relacionados a processos já sob sua relatoria. Em outras palavras, a condução de diversos temas de repercussão nacional passou a se concentrar na toga de Moraes, todos interligados, direta ou indiretamente, ao inquérito das fake news.
Por um lado, a ferramenta visa garantir a uniformidade em decisões relativas a crimes conexos. Por outro, se aplicada excessivamente, pode gerar distorções jurídicas, explica Gustavo Sampaio. Segundo ele, embora o regimento permita a prevenção, o ideal seria que, em casos com objetos distintos, a distribuição da relatoria fosse feita por sorteio, como manda a praxe. “Se os crimes são distintos, o prudente é distribuir a relatoria livremente. Veja, nenhum ministro fica impedido de concorrer à relatoria, nem aquele próprio, mas ele só será relator se, por acaso, o sorteio cair no nome dele. É como jogar um dado em cima da mesa e cair duas vezes no número seis. Não é o mais provável, mas pode acontecer”, comparou.
Ele lembra que, no caso do inquérito das fake news, Alexandre de Moraes foi escolhido diretamente por Toffoli, e não por sorteio. À medida que outras investigações passaram a ser consideradas conexas, a relatoria foi se acumulando com Moraes, por uma decisão que o professor define como “de conveniência lógica”. No entanto, pondera que a prática gerou distorções na percepção de muitos: “no debate público, não há como expor todos elementos técnicos do direito processual penal. Afinal de contas, as pessoas não são obrigadas a ser graduadas em Direito, não é? Daí foi aparecendo aquela ideia de que o ministro seria uma espécie de juiz universal de todas as causas.”
Segundo ele, os excessos de conexão, de relatoria em torno do ministro, “só foram dando combustível para que o STF fosse transformado em adversário, colocado no âmbito das relações políticas como uma espécie de perseguidor — e não como um órgão imparcial de julgamento”. Para Sampaio, esse cenário contribui para o desgaste da imagem e da confiabilidade da Corte.
Desgaste, aliás, medido em pesquisas de opinião. Divulgado no fim de junho, um levantamento do Datafolha apontou que 58% dos brasileiros dizem sentir vergonha dos ministros do Supremo, enquanto 30% expressam orgulho. Mais recente, na terça-feira, 5, o mesmo instituto revelou que 36% classificam o trabalho do STF como “ruim ou péssimo” — um salto de oito pontos percentuais em relação à pesquisa anterior, de março de 2024.
Cautelares e prisão domiciliar
Os dados dessa última sondagem foram colhidos antes de o magistrado decretar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, réu no processo que apura a tentativa de golpe de Estado que culminou nos ataques de 8 de janeiro de 2023, mas preso por descumprir medidas cautelares em outro inquérito: o que investiga a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos para que Donald Trump interfira na política brasileira e, consequentemente, nos processos contra o ex-presidente. cautelares, debatidas no meio jurídico e criticadas por apoiadores de Bolsonaro, fomentaram atos em defesa do ex-mandatário no dia 3 de agosto em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Belém e Campo Grande.
A determinação da prisão domiciliar ocorreu após Moraes concluir que Bolsonaro descumpriu as cautelares ao participar, por chamada de vídeo, de um ato com apoiadores em Copacabana e na Av. Paulista. Dias antes, o ministro já havia sinalizado possível descumprimento ao comentar a presença de Bolsonaro em uma entrevista coletiva no Congresso Nacional, na qual ele falou com jornalistas e as imagens circularam amplamente nas redes sociais.
O vídeo da manifestação em Copacabana foi publicado pelo filho de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, o que, na avaliação de Moraes, reforçou a violação da proibição de uso das redes sociais, direta ou indiretamente. O de São Paulo, pelo deputado Nikolas Ferreira, do PL de Minas. “A cautelar imposta acabou virando uma certa armadilha. Pessoalmente, sou contra essa cautelar justamente porque ela tem cheiro de censura prévia”, analisa Davi Tangerino. Juristas explicam que medidas cautelares, por definição, não devem funcionar como penalidades, mas sim como garantias para o regular andamento do processo.
Antes da prisão domiciliar, a Polícia Federal (PF) havia solicitado a prisão preventiva do ex-presidente, sob alegação de risco de fuga e tentativa de obstrução de justiça. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, reconheceu os riscos apontados, mas avaliou que a prisão seria uma medida excessiva. Em seu parecer, defendeu a imposição de medidas alternativas. Moraes seguiu a recomendação e, em 18 de julho, impôs o uso de tornozeleira eletrônica, restrições de contato com autoridades e investigados, proibição de acesso a embaixadas e consulados, além da vedação do uso de redes sociais — diretamente ou por meio de terceiros. O ministro ainda alertou que o descumprimento de qualquer uma dessas condições implicaria a decretação da prisão.
Foi o que ocorreu na segunda-feira, dia 4, quando Moraes determinou a prisão domiciliar de Bolsonaro, sob o entendimento de que ele violou as medidas. A decisão foi referendada pela maioria da Primeira Turma do STF.
Para Tangerino, a cautelar foi pensada como uma alternativa intermediária, menos severa do que a prisão preventiva, mas acabou se tornando o “epicentro de toda essa agudização recente”. Ele destaca que a proibição de conteúdo em perfis de terceiros, por exemplo, pode ser compreendida dentro de um contexto específico, já que Moraes teria considerado o modus operandi sistemático de Bolsonaro, que frequentemente utiliza canais de aliados para se comunicar. Por esse precedente, não vê gravidade nessa parte da decisão. Já outros episódios, como a participação de discursos de Bolsonaro no Congresso, não configurariam violação da cautelar, na avaliação do professor. “Ele estava em um espaço público, falando com jornalistas, e aquilo foi parar nas redes. Hoje em dia a comunicação é assim.”
Tangerino conclui sua crítica de forma direta: “Acho que a cautelar que o Alexandre queria dar era para o Jair não ser o Jair. Tipo: ‘pode falar, mas não ataca ninguém’; ‘pode falar, mas não incite o ódio’. Não existe isso. Essa é a essência dele. Se a intenção era impedir esse tipo de manifestação, mais coerente teria sido proibi-lo de falar, o que seria flagrantemente inconstitucional. Então, ele criou uma cautelar meio esquisita — e deu no que deu.”
Thiago Bottino traz um ponto de vista técnico distinto sobre o tema. Ele lembra que o ordenamento jurídico brasileiro prevê, no artigo 319 do Código de Processo Penal (CPP), um rol de nove medidas cautelares — entre elas, monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar noturno e proibição de contato com determinadas pessoas ou acesso a certos locais. Na visão dele, esse rol deveria ser seguido à risca. “Particularmente, eu sou partidário do grupo que entende que é um rol taxativo. Ou seja, nada além do que a lei previu. Mas sou minoritário”, admite.
Segundo Bottino, na prática, essa interpretação mais restrita não se sustenta: “Todos os juízes de primeiro grau no Brasil acabam criando medidas cautelares alternativas à prisão. E, embora muitas dessas medidas não estejam previstas em lei, as defesas geralmente não recorrem, porque consideram melhor do que a prisão. Por exemplo, a proibição de falar com outros investigados… isso não existe na lei, e é super comum de vermos.”
Diante desse cenário, ele reconhece que há precedentes jurisprudenciais, inclusive no STF e no Superior Tribunal de Justiça (STJ), que permitem aos juízes, desde que fundamentem adequadamente, aplicar medidas não previstas no CPP, respeitando ainda os princípios da proporcionalidade e da legalidade.
Davi Tangerino reforça que, mesmo com críticas às cautelares impostas, uma vez decretadas e validadas pela Primeira Turma do Supremo, elas devem ser cumpridas — sob pena de prisão: “Nós podemos discordar de todos os passos até a cautelar. Mas, uma vez que foi dada e validada pela turma, com aviso claro: ‘se descumprir, vou prender’, e Bolsonaro vai lá e, escancaradamente, descumpre… o tribunal precisa agir para não ficar desacreditado. Porque, se dá uma ordem, alguém a desobedece abertamente e nada acontece, está dada a senha para ninguém mais obedecer, né?”
Ainda assim, Bottino discorda da decisão que culminou na prisão domiciliar: “A prisão domiciliar, pela lei, é uma alternativa restrita: prevista para quem tem mais de 80 anos, está extremamente debilitado de saúde ou tem filhos menores de 12 anos — o que não é o caso do ex-presidente, que estava saindo na rua normalmente, indo para lá, para cá. Então, mesmo diante da violação das cautelares, não caberia essa forma de prisão. Se por um lado, em um determinado momento, Moraes não seguiu estritamente a lei, culminando em algo ruim para Bolsonaro… por outro lado, agora, não seguiu estritamente a lei e o beneficiou”.
Diante disso, Gustavo Sampaio vê um possível cálculo estratégico por parte do Supremo: “O tribunal pode estar criando antecedentes lógicos para outras situações. As ações penais relacionadas ao 8 de janeiro envolvem, em sua maioria, réus idosos, com comorbidades. O próprio ex-presidente já passou por várias crises de saúde. Acredito que o ministro Moraes optou por um passo mais econômico, que pode ser replicado adiante”.
Mas caberia ao STF mesmo?
O movimento nas ruas em defesa de Bolsonaro ecoou no Congresso, onde seus aliados protagonizaram um ato inédito: ocuparam as mesas diretoras da Câmara dos Deputados por 36 horas e do Senado por 47 horas. Entre as principais exigências para encerrar o motim estava o fim do foro privilegiado.
Pelas regras atuais, autoridades públicas são julgadas por tribunais superiores, como o STF, quando os crimes ocorreram durante o exercício do cargo e têm relação com suas funções. Esse entendimento, recente, passou a vigorar após uma mudança da Corte em março, que ampliou a competência do Supremo para julgar autoridades mesmo após o término do mandato, desde que os crimes estejam ligados ao exercício da função pública. A oposição, por sua vez, pede a transferência dos processos para instâncias inferiores.
Segundo o professor Gustavo Sampaio, embora hoje a competência para julgar Bolsonaro, de fato, caiba ao STF conforme a interpretação mais recente, há um problema estrutural mais profundo: a oscilação constante nos entendimentos da própria Corte. “É preciso fazer uma crítica firme ao Supremo por conta dessa inconstância hermenêutica. Estamos falando de cláusulas que estão na Constituição, não apenas no Regimento Interno. Quando o Supremo altera esse entendimento repetidamente, passa a ocupar um lugar de escolha política, e não apenas de interpretação constitucional.”
O histórico ajuda a entender esse dilema. Até 2018, prevalecia o entendimento de que o foro especial era mantido mesmo após o fim do mandato, desde que o crime tivesse sido cometido durante o exercício da função. No entanto, naquele ano, com o julgamento da Ação Penal 937, relatada pelo então ministro Luís Roberto Barroso, o STF restringiu essa prerrogativa: só seriam julgados pela Corte crimes cometidos durante o mandato e em razão do cargo — o chamado critério in officio et propter officium. A mudança, justificada pela sobrecarga de ações penais derivadas do Mensalão, permitiu que cerca de 90% dos processos fossem redistribuídos para a primeira instância.
Mas o cenário voltou a mudar nos anos seguintes, especialmente após a reabertura do caso do assassinato da vereadora Marielle Franco. A investigação apontou o possível envolvimento de um deputado federal, mas os indícios se referiam a fatos ocorridos antes do início de seu mandato — o que, pelas regras de 2018, colocaria o caso fora da alçada do STF. Para contornar esse impasse, o Supremo reviu novamente sua posição, ampliando sua própria competência: passou a considerar que poderia julgar crimes anteriores ao mandato, desde que a investigação ou o processo tivessem sido iniciados enquanto o investigado ainda estivesse no exercício do cargo. Essa guinada foi consolidada em nova mudança de entendimento, em 2025.
Para Sampaio, alterações jurisprudenciais fazem parte do processo, mas o ritmo e a profundidade dessas mudanças preocupam. “A sociedade é dinâmica, evolui. Agora, mudar de entendimento em intervalos curtos é problemático. Uma mudança dessa magnitude poderia ocorrer a cada 50 anos. O próprio Supremo acaba alimentando os argumentos contrários ao foro especial”, observa. Ainda assim, ele defende a prerrogativa de função como uma cláusula legítima do sistema constitucional. “Mas é preciso reconhecer: a crítica da direita ao foro, hoje, não é teórica nem doutrinária. É reativa. É uma tentativa de escapar das condenações no STF, onde o índice de sentenças desfavoráveis tem aumentado.”
Essa percepção sobre as mudanças constantes na interpretação do Supremo é compartilhada por outros especialistas. “Infelizmente, o Supremo tem pouca deferência aos próprios precedentes. O problema nem sempre é mudar o regimento — pior do que isso é mudar a interpretação”, afirma Thiago Bottino, professor da FGV-Rio.
Turma ou pleno
Outro ponto que gera controvérsia é a instância de julgamento. Segundo Bottino, a questão sobre o caso de Bolsonaro ser analisada pela Primeira Turma e não pelo plenário também revela um tensionamento entre norma escrita e construção interpretativa. “A regra sempre foi que a ação penal tramita no plenário. Depois mudou para as turmas, voltou ao plenário, e depois voltou novamente para as turmas. Hoje, a norma regimental é clara: deve ser julgado pela turma, exceto quando se trata do presidente da República em exercício.”
Bottino reconhece que a presença de um ex-presidente como réu pode sugerir uma exceção, mas pondera: “O próprio foro por prerrogativa foi mantido para evitar manobras, como renunciar ao cargo para escapar do STF. Nesse contexto, argumenta-se que, por envolver um ex-presidente, o caso deveria permanecer no plenário. Mas, entre seguir uma norma escrita e uma construção argumentativa, eu prefiro seguir a norma escrita.”
Além de questionar a competência da Corte para julgar Bolsonaro, a oposição também acusa o ministro Alexandre de Moraes de atuar como “relator, juiz e vítima” nos inquéritos que envolvem o ex-presidente. Para o criminalista Davi Tangerino, no entanto, essa crítica não encontra respaldo jurídico. “Esses ataques ao Alexandre só começaram depois de ele ser nomeado relator. E o Código de Processo Penal é claro: não se pode alegar impedimento com base em fatos que aconteceram depois da designação. Se a animosidade surgiu posteriormente, isso não é fundamento para afastá-lo”, explica.
Ele acrescenta que permitir esse tipo de argumento abriria um precedente perigoso: “Se fosse assim, bastaria atacar ou ameaçar um juiz para tentar tirá-lo do caso. E isso a lei quer justamente evitar.” Para Tangerino, ainda que o caso envolva questões sensíveis e grande tensão política, do ponto de vista jurídico, a atuação de Moraes não apresenta irregularidades. “É um tema delicado, mas estou convencido de que, nesse ponto, não há nada de errado.”
O futuro ao STF pertence
“Eu vou te mostrar um fato que o Alexandre de Moraes não quer que você veja.” É assim que o deputado federal Eduardo Bolsonaro inicia um vídeo publicado na quarta-feira, 6, e que circula entre apoiadores no Telegram. Pelos minutos seguintes, discorre sobre a chamada “Vaza Toga 2” — uma matéria assinada pelos jornalistas americanos Michael Shellenberger, David Ágape e Eli Vieira, que apresenta um suposto dossiê acusando a existência de um gabinete paralelo do ministro Alexandre de Moraes. Segundo a reportagem, haveria uma troca informal de informações entre o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), utilizada para embasar a prisão de manifestantes bolsonaristas durante e após os atos de 8 de janeiro de 2023. Não está claro ainda se essas informações foram usadas nas condenações e ficaram fora do alcance das defesas dos réus.
Mas o caso e as outras críticas acumuladas até aqui sugerem pergunta inevitável: existe risco de anulação dos processos conduzidos por Moraes?
“Nós estamos falando de decisões do próprio Supremo Tribunal, muitas vezes tomadas pelo ministro, mas referendadas pela Corte. Será que o STF vai anular uma decisão tomada por ele próprio? Vai desconsiderar as escolhas feitas por ele próprio? Não há nenhum tribunal acima do STF. Então, acho muito improvável, a não ser que haja uma mudança brusca na composição da Corte nos próximos anos. O que, na minha avaliação, não deve ocorrer”, conclui Sampaio.