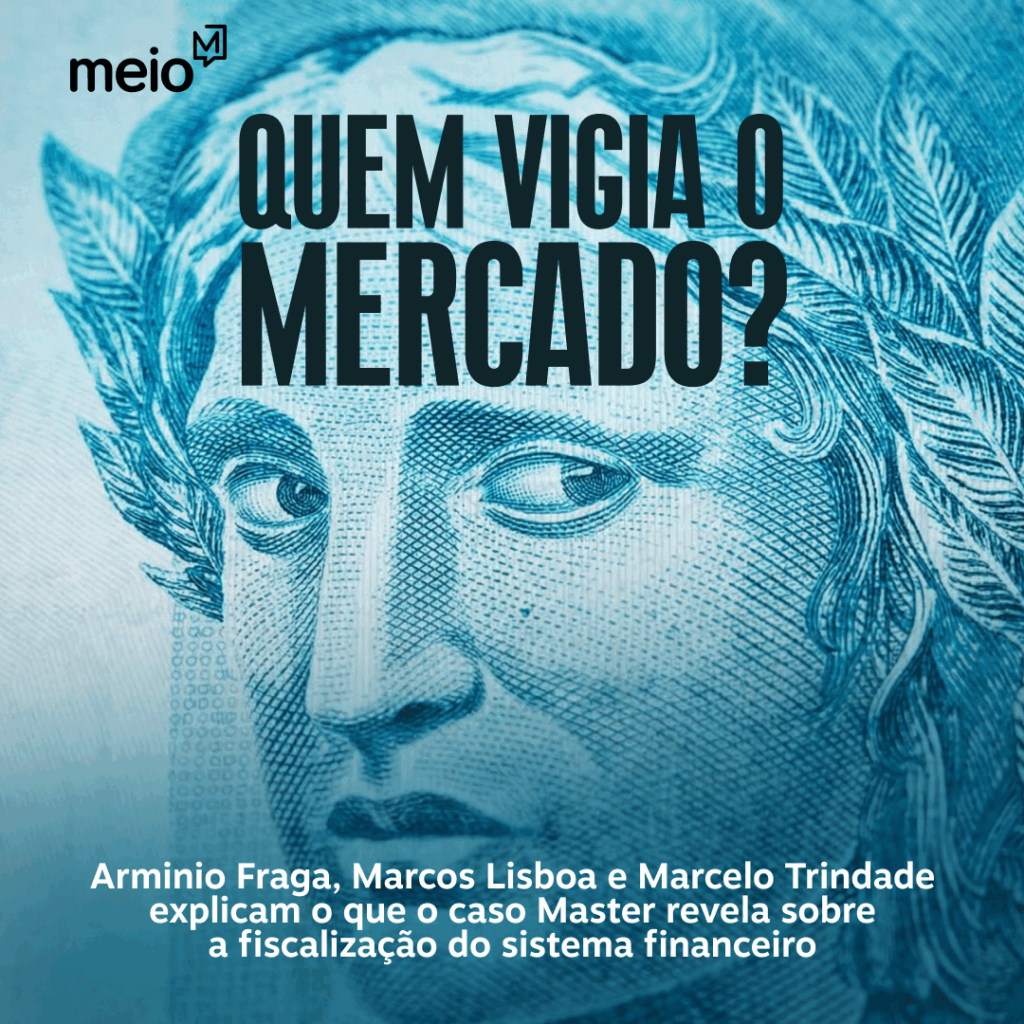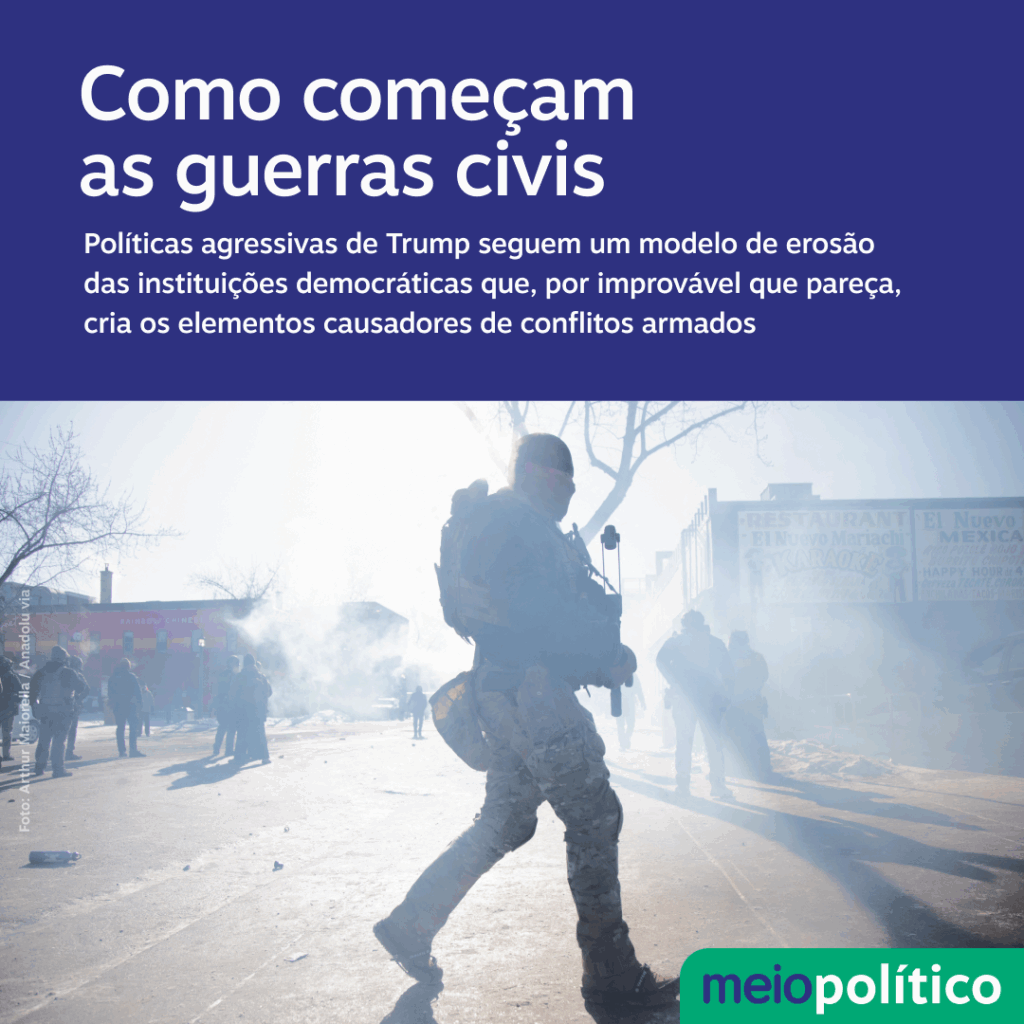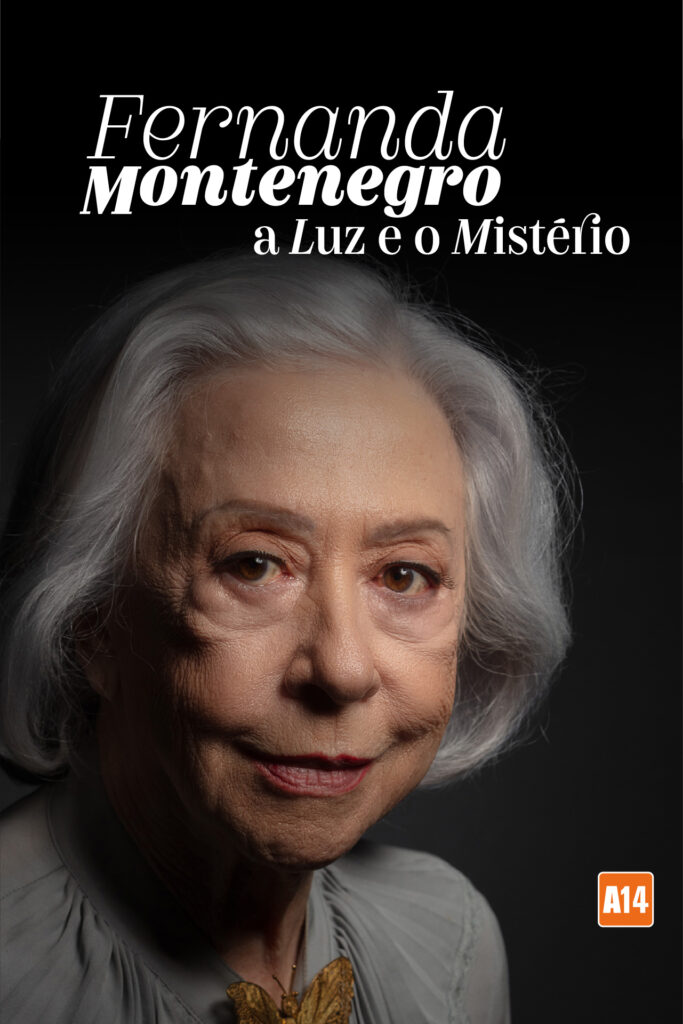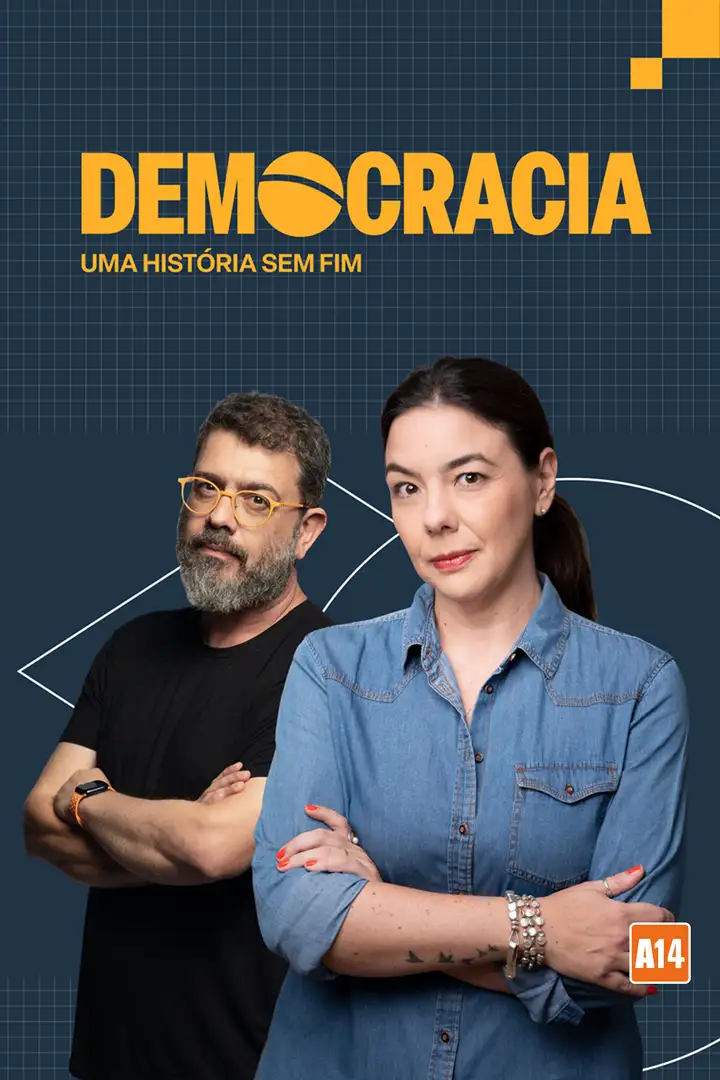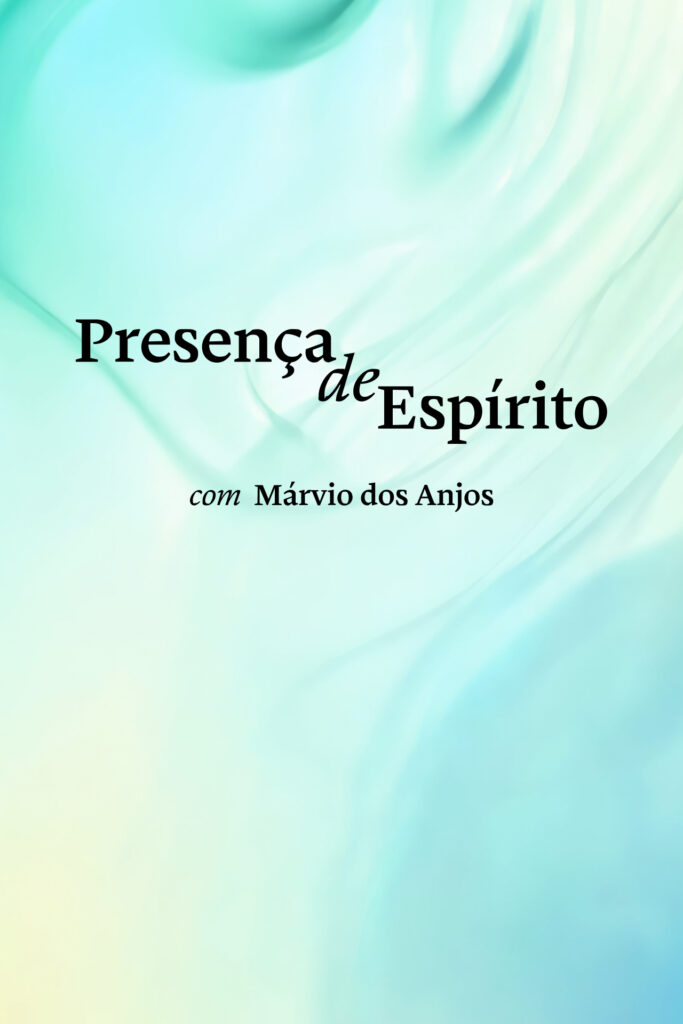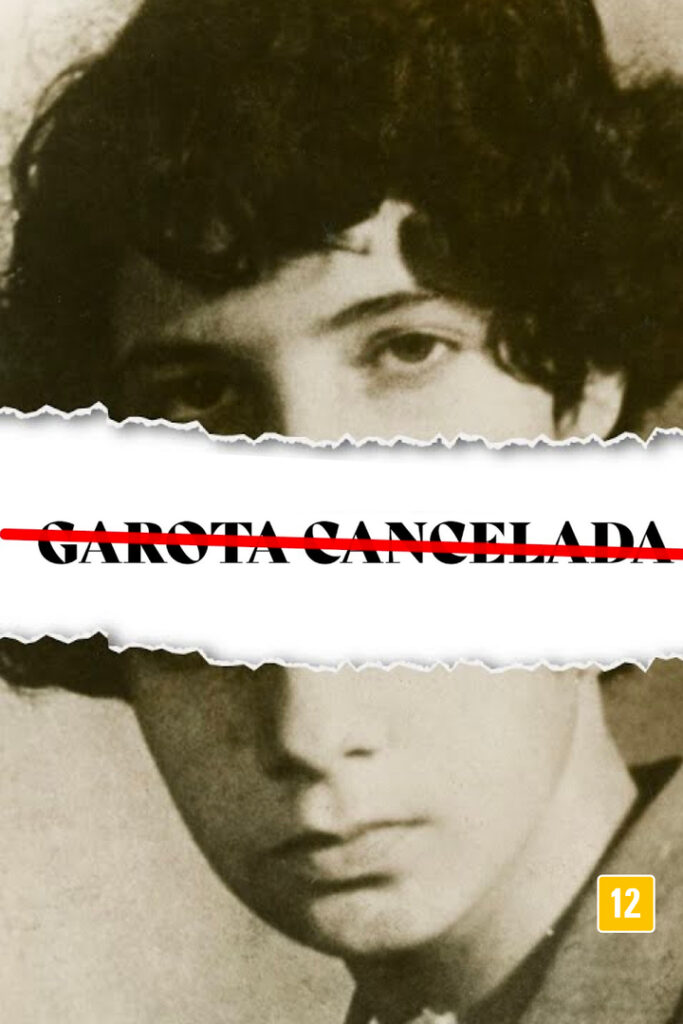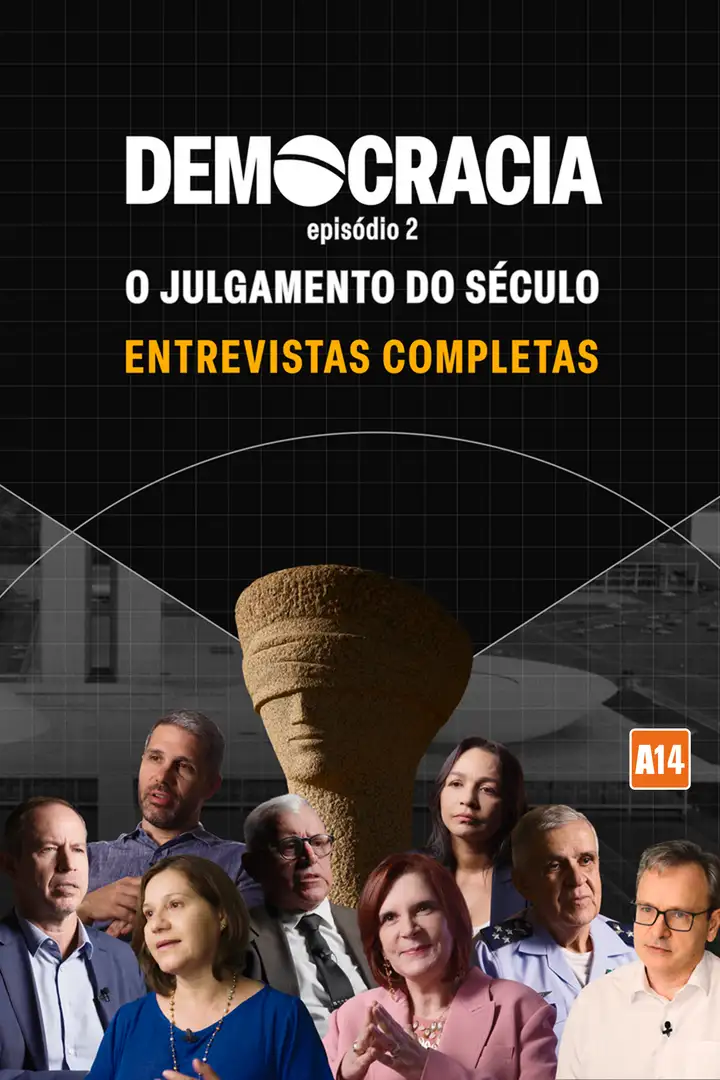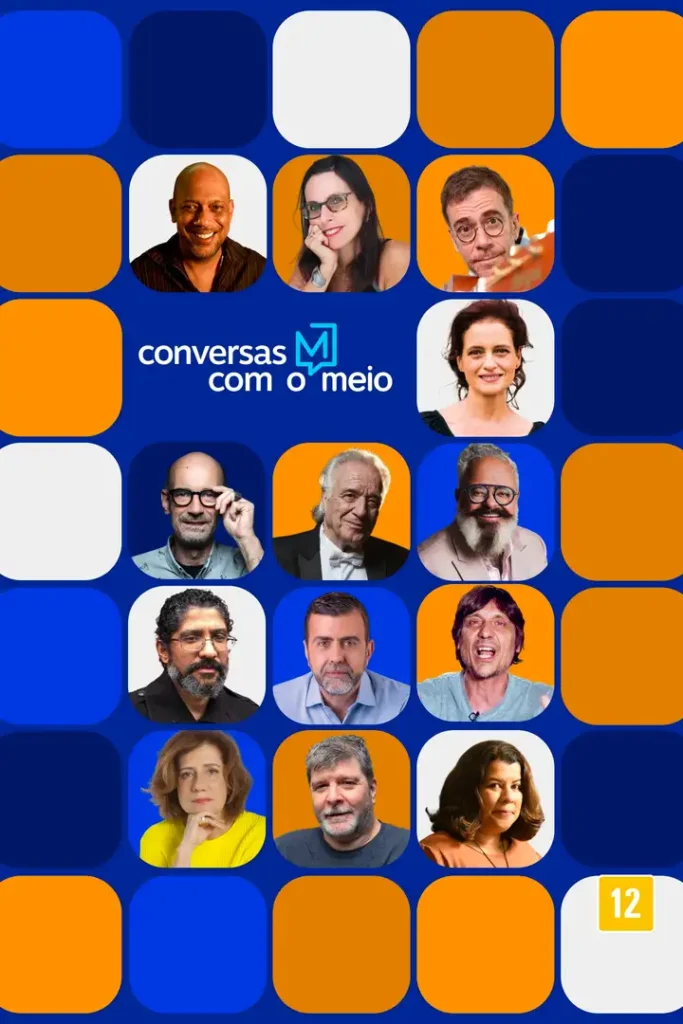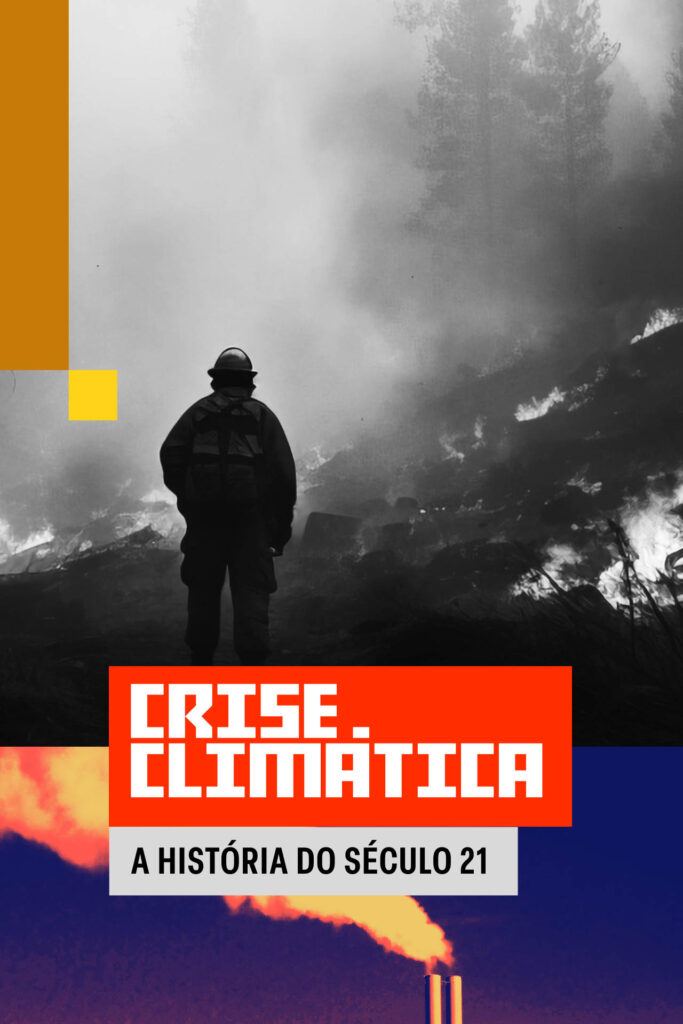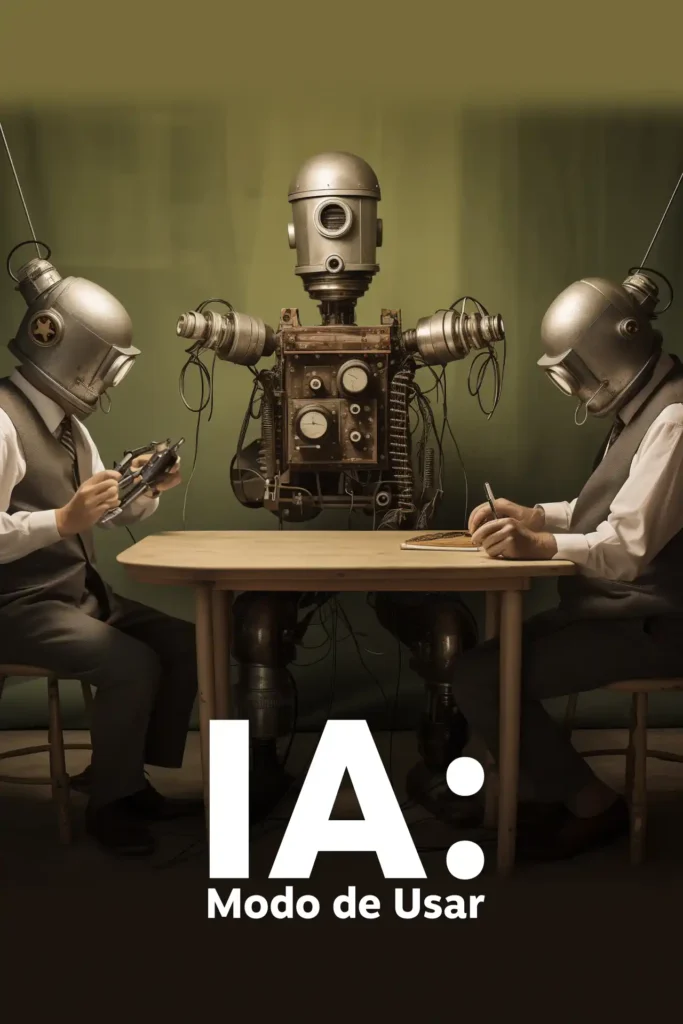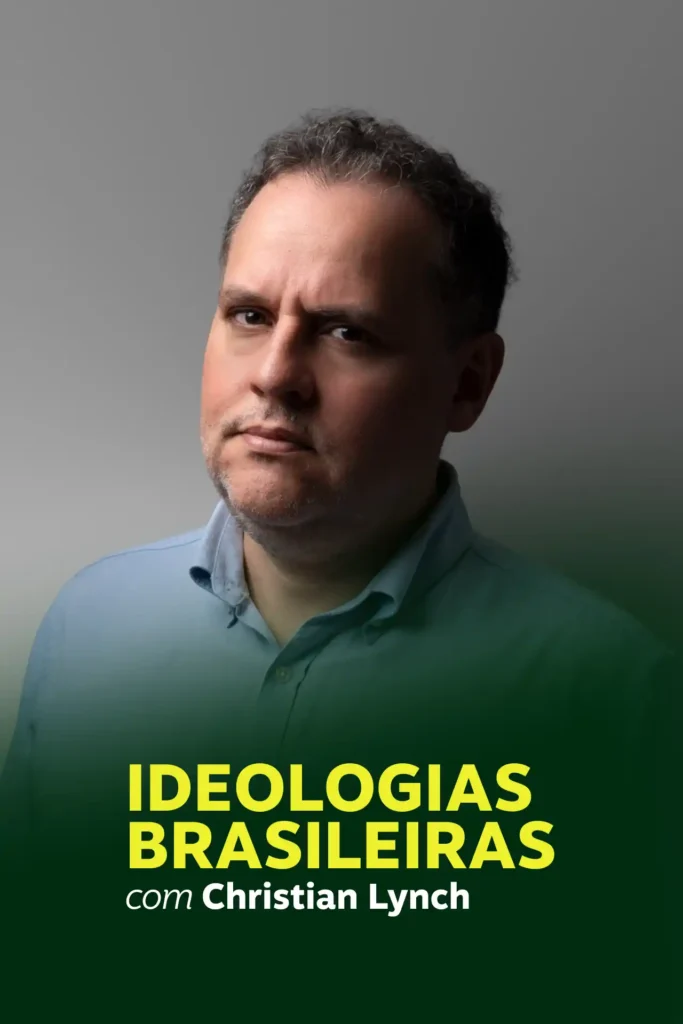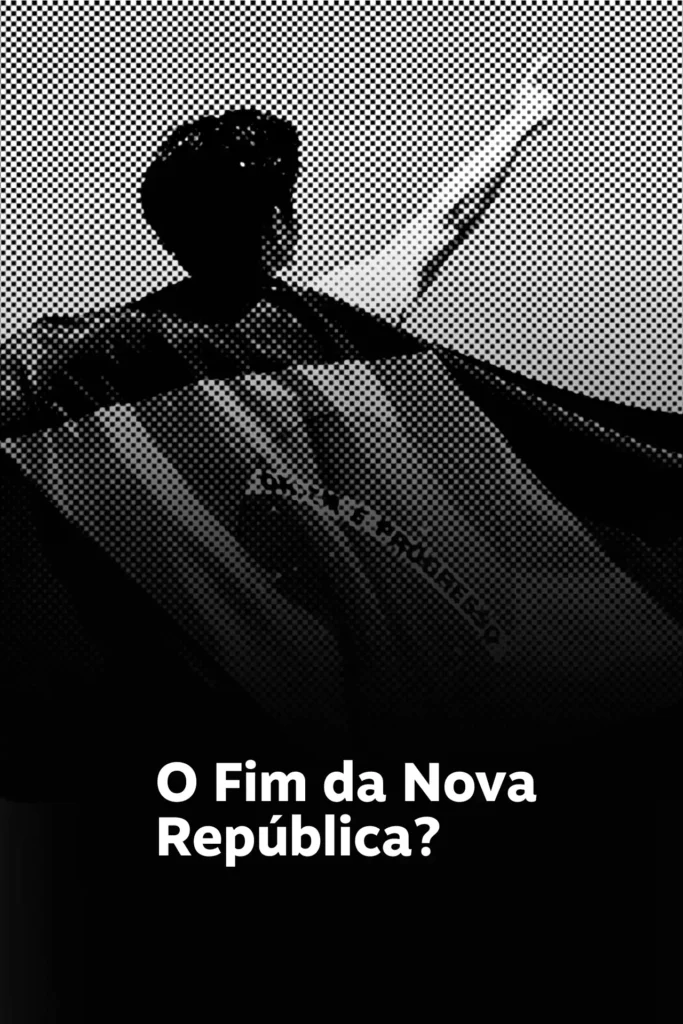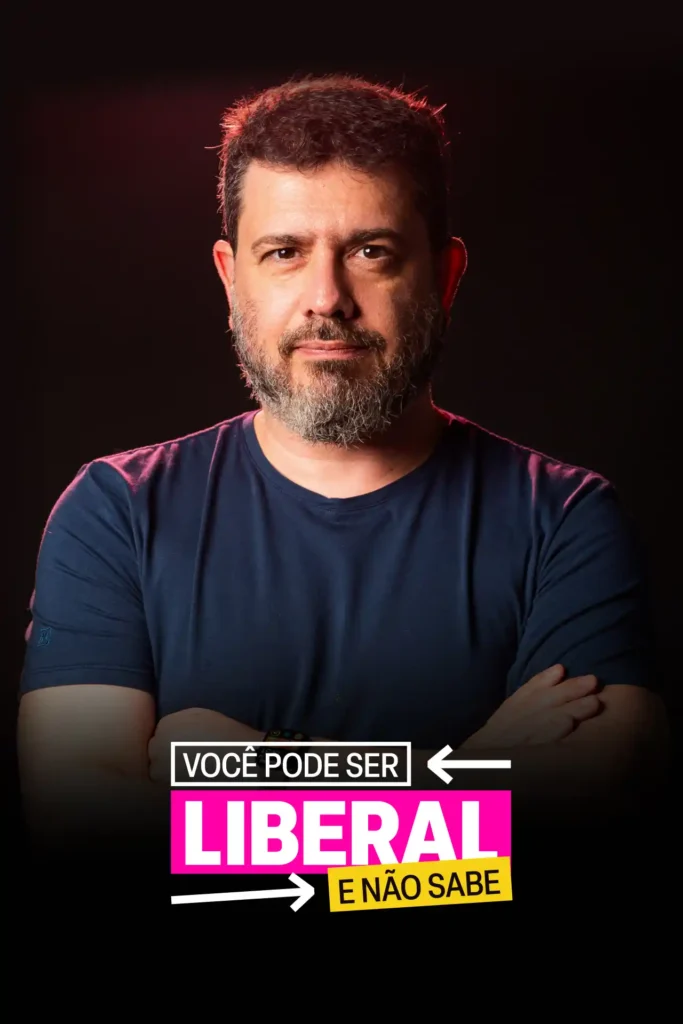O que é uma democracia?
Receba as notícias mais importantes no seu e-mail
Assine agora. É grátis.
Esta semana, na quinta e sexta-feira, o presidente americano Joe Biden reuniu virtualmente 111 países na Cúpula pela Democracia. A lista dos escolhidos diz muito — o Brasil estava nela. A dos excluídos diz mais — China e Rússia, que não são mesmo democracias, não foram convidados. Num evento assim tão curto, Biden certamente não pretendia fazer um debate profundo sobre a extensa crise democrática em curso. A intenção da Casa Branca era outra: demarcar território e dividir o mundo em dois como no tempo da Guerra Fria. Mas a competição entre EUA e China não é como a entre EUA e União Soviética. Lá a disputa era principalmente militar e se dava num contexto de duas potências buscando domínio global por influência ideológica. Hoje a briga é comercial e chineses competem com os EUA em avanço tecnológico como os soviéticos nunca conseguiram. O poderio militar, nessa disputa, tem relevância mas não muita. Em seu discurso de abertura, Biden descreveu a briga como uma em que democracias seriam mais capazes de gerar crescimento econômico do que autocracias.
Talvez até seja verdade, mais ainda não temos como afirmar. E este é um critério que diminui democracias. Não é este desafio que democracias impõem, não é para isso que democracias nasceram, tampouco é por esta razão que tantos lutaram para viver nelas. Se houver crescimento econômico, tanto melhor. Mas a pergunta por trás da busca de democracias já faz quase três séculos é outra: um povo pode viver bem e em liberdade, cuidando ele próprio do governo de sua nação?
Não precisa ser mais rico do que os outros. O importante é viver bem e em liberdade.
Biden, claro, enquadra a questão desta forma por razões políticas. Após décadas de expansão democrática, vivemos um período de recessão do regime, com populistas autoritários sendo eleitos, a qualidade de vida caindo por toda parte, e pessoas com cada vez mais dúvidas sobre o que são democracias. Sobre se elas valem a pena. Neste contexto, a China apresenta ao mundo um sistema ditatorial capaz de crescer economicamente, desenvolver tecnologia e distribuir renda. É por isso que o presidente americano quer fazer a disputa nestes termos.
Mas é um argumento perigoso por fugir à natureza das democracias. Por ignorar que não foi por uma economia que tantos deram a vida para erguer um regime baseado em liberdade e autogestão. Fez-se isso, inclusive no Brasil, porque viver em liberdade é melhor. Porque ter voz na sociedade é melhor.
Então — o que faz uma democracia? Esta é a pergunta que o pai da ciência política americana passou três quartos da vida tentando responder.
O viking
Alguns de seus alunos chamavam Roberto Dahl de ‘o viking’. Era um homem alto e imponente, de cabelo castanho, cujo avô Ivar se mudou da Noruega para os Estados Unidos no ano em que Abraham Lincoln foi assassinado — 1865. Era viking porque era nórdico todo. Os amigos o chamavam de Bob. Viveu quase cem anos. Nasceu em 1915 numa cidadezinha de Iowa, e morreu em 2014 bem próximo do campus de Yale, a universidade em que passou boa parte da vida.
Bob escreveu até o fim, deu entrevistas, pensou. “Quando comecei a pós-graduação”, ele se lembraria um dia, “havia talvez uma meia dúzia de países que pudéssemos estudar.” Uma meia dúzia de democracias em todo o planeta. “Havia a França, o Reino Unido, talvez o Canadá.” É por isso que Dahl é conhecido — como um dos pais do estudo moderno do regime democrático. Como uma das primeiras pessoas a tentar entender como democracias funcionam de fato, não apenas em seu ideal. O que havia de mais denso para se refletir a respeito de democracias até ali, até os anos 1930 e 40, era em geral filosofia, muita citação de Atenas nos tempos de Péricles, ou então textos de pensadores liberais como Alexis de Tocqueville. Havia mais um listar de valores e aspirações do que a descrição rigorosa de como o bicho realmente funciona, de como as forças se equilibram ou as instituições se organizam. Foi a este trabalho que Dahl dedicou sua vida. E, sem compreender esta vida, é impossível perceber o que guiou seu olhar.
Dahl nasceu numa família de classe média baixa porém muito educada para os padrões do tempo, numa cidadezinha que ainda hoje não chega a mil habitantes. Seu pai era o clínico local. Durante a Depressão, quando o dinheiro esgotou e não havia mais por ali quem pudesse pagar por consultas, Peter Dahl conseguiu emprego de médico funcional da companhia ferroviária no interior do distante Alaska — e carregou a família para aquele mundo de neve constante. Foi lá que Bob terminou o ensino fundamental e encarou o secundário. Lá também começou a trabalhar, adolescente, como estivador, carregando e descarregando vagões. Se sindicalizou, virou líder sindical, quando jovem se tornou um socialista não-revolucionário. Aí juntou seus papéis e foi buscar uma graduação na Universidade de Washington. Aos 25, no ano de 1940, já havia completado o doutorado em Yale.
A Europa estava em guerra, mas não os EUA. Não ainda. Dahl se mudou para a capital e trabalhou no governo. Primeiro no Conselho de Relações Trabalhistas, depois no Ministério da Agricultura, então após o ataque japonês à base americana de Pearl Harbor, no Conselho de Produção para a Guerra. Poderia ter ficado na burocracia, mas achou que não devia. Se alistou e foi para a Itália encarar a frente de batalha como oficial. Ganhou medalha por bravura em combate. Permaneceu na Europa após o conflito, numa unidade do Exército à qual foi atribuída a difícil missão de denazificar a Alemanha. Afinal, ele já tinha um PhD em política. Quando voltou para Yale, em finais dos anos 1940, havia pouco passado dos trinta e já tinha vivido uma vida inteira.
Experimentou o trabalho de gente pobre, se envolveu na luta por direitos quando se está por baixo, daí foi experimentar ser acadêmico, conheceu por dentro o governo, viveu na pele a luta física por liberdade e então mergulhou no interior do pior regime fascista para compreender como desmontá-lo. Os outros quase setenta anos que teve pela frente, passou-os tentando decifrar democracias. “Ganhei cedo um respeito profundo por gente comum”, disse já passado dos noventa, quando entrevistado por uma amiga da ciência política. “São pessoas que têm um grau de bom senso que nem sempre dá para perceber entre nossos colegas.” (Assista.)
A democracia de Dahl
Dahl era cientista social, não filósofo. Então seu estudo ao longo das décadas seguintes foi dedicado a pesquisar em campo. Primeiro fazia perguntas que se dedicaria a responder. Por exemplo:
Num sistema político onde quase todo adulto vota mas em que conhecimento, riqueza, posição social e acesso a autoridades não são bem distribuídos, quem de fato governa?
Com perguntas precisas em mão, não construía teses, ia isto sim ao mundo ver e ouvir. Como é aprovado um projeto de lei? Que pressões sofre um prefeito? Quem se mobiliza para pressionar governantes? Começou pelo estudo do governo municipal de New Haven, a cidade em Connecticut onde fica Yale, então foi para o governo americano, e a partir daí passou a incentivar o estudo de outras democracias pelo planeta. Para compará-las. Assim, logo sentiu que era melhor distinguir dois conceitos.
Democracias de fato, o governo do povo, pelo povo, para o povo, não têm como existir. Regimes podem se aproximar de democracias, mas nunca chegam lá. No mundo real o que há são poliarquias — o governo de muitos. Podemos chama-las de democracias, mas não são e nem têm como ser. Democracia é a meta que poliarquias buscam eternamente. Há duas razões para isto.
Uma é que a maioria não vai dedicar tempo o suficiente para acompanhar política e compreender os problemas com o grau necessário de profundidade para resolvê-los. “Há uma distância entre o que as pessoas precisam saber para defender seus próprios interesses e o que de fato sabem”, afirmou. “Este papel acaba sendo cumprido por aqueles que acham que sabem tudo.”
Há também a dimensão prática — em países grandes, é preciso construir um sistema de representação popular. Os representantes governam, não o povo. Este, para ele, é o dilema inescapável do regime. Aquilo que o afasta constantemente de seu ideal. Quanto menor uma nação democrática, maiores as possibilidades de os cidadãos participarem diretamente das decisões de governo. Quanto maior for, porém, haverá a necessidade de delegar estas decisões para representantes eleitos.
Em seu estudo de campo, Dahl também chegou cedo a uma conclusão que ainda hoje é polêmica na ciência política. Primeiro num artigo de 1958, depois em Who Governs?, Quem Governa?, seu livro de 1962, defendeu uma ideia que ia contra um conceito que sequer era questionado até então. Ele argumentou que, no mundo real, democracias eram pluralistas. A defesa, nos estudos até ali, era de que no fundo uma elite sempre tomava as principais decisões num governo. Hoje, a disputa marca duas correntes de pensamento — pluralistas e elitistas.
Para Dahl, o poder de pressão sobre governos, sobre legisladores, certamente é desigual. Obviamente varia de acordo com o momento e com o lugar. Mas as pressões sobre quem toma decisões, em regimes democráticos, são sempre muitas e nem sempre quem tem mais poder aparente ganha neste conflito. Daí o pluralismo.
Era assim, observando como o jogo do governo funciona em lugares diferentes, que Bob Dahl foi construindo um modelo para explicar o que são democracias — ou poliarquias — e como funcionam. No mundo real, em países com muitos milhões de habitantes, governos são muito complexos. O objetivo da ciência política é construir um modelo que simplifique esta complexidade, para facilitar a observação e a compreensão. Daí a criação de conceitos. Ao fim, ele foi capaz de desenhar a estrutura geral do que é um regime democrático. Cada democracia tem suas características, suas contradições, suas dificuldades. Variam pela cultura e história daquela sociedade, dos recursos naturais disponíveis naquele local, pelo avanço econômico, científico, tecnológico. Mas, no geral, todas da segunda metade do século 20 para cá têm certos traços em comum.
1. Toda democracia têm eleições livres e justas, que ocorrem em intervalos razoavelmente curtos, na qual os grupos de oposição têm toda a possibilidade de chegar ao poder. Se não todos, quase todos os adultos têm direito a votar e a concorrer nos pleitos.
2. Há, nestes regimes, liberdade de expressão, principalmente de expressão política, de forma que quaisquer temas que apareçam perante a sociedade possam ser debatidos. De forma que quem está no comando do governo, decisões do governo e políticas públicas possam ser livremente criticados.
3. Há, também, fontes alternativas de informação à disposição de todos os cidadãos. Não pode haver monopólio nem público, nem privado, da imprensa.
4. Todos têm o direito de se associar livremente, na forma de partidos ou quaisquer outros tipos de organização, para defender seus interesses e tentar influenciar o governo em suas decisões.
Cada uma destas características pode ser quantificada de alguma forma e é isto que permite definir quão democrático é um país. Pela definição de Bob Dahl, a Nicarágua não é mais uma democracia — grupos políticos inteiros foram impedidos de participar das últimas eleições. A Venezuela, com o governo em ataque constante a grupos de imprensa e dificuldades crescentes à livre associação, está no limiar de deixar de ser. É este também o caso da Rússia, da Hungria, da Polônia, da Turquia.
Já o Brasil é uma democracia. Todas as condições seguem de pé. Mas isto pode mudar a ponto de nos juntarmos aos países limítrofes.
Em vida, o decano da ciência política americana não apenas estudou como também atuou como democrata em seu microcosmo. Por décadas foi convocado por inúmeros reitores de Yale para ajudar a resolver conflitos. Intermediou a negociação entre o comando da universidade e os estudantes, durante a Guerra do Vietnã, para que o Exército pudesse colocar no campus um posto de recrutamento. Era uma obrigação legal mas os estudantes tinham preocupações legítimas. Também defendeu, e conseguiu, que Yale estabelecesse uma regra garantindo que haveria número igual de homens e mulheres entre os estudantes. Muito preocupado em abrir oportunidades para quem tem menos acesso a influenciar nas decisões da sociedade, ajudou a criar o primeiro centro de estudos de cultura afro-americana no país.
Bob Dahl revolucionou a maneira como compreendemos democracias. Suas lições valem mais do que nunca.
Pois é… Certas coisas não são acidente. Lewis Dahl, o irmão apenas um ano mais velho de Bob, foi o médico que descobriu a relação entre sal e hipertensão. Foi, no século 20, um dos cientistas mais respeitados da área e criou, por cruzamentos, uma espécie de ratos de laboratório ainda hoje usados para estudos de hipertensão arterial em humanos. São chamados Ratos de Dahl.